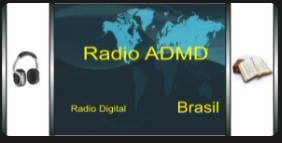1
UNIDADE
Objetivos da unidade
Tópicos de estudo
Realizar uma boa concepção projetual a partir do conhecimento do terreno e
do programa de necessidades;
Conhecer as principais legislações urbanísticas que definem parâmetros no
terreno;
Fazer uma boa setorização para projetos;
Efetuar um dimensionamento funcional, aliando estética ao espaço;
Conhecer as técnicas de representação gráfica, explorando também seus
principais elementos;
Fazer uma representação gráfica eficiente e clara;
Empregar corretamente os instrumentos de desenho;
Conhecer as etapas do processo de projeto com a expressão gráfica
adequada aplicada ao processo.
Dimensionamento e
pré-dimensionamento
Pré-dimensionamento
de ambientes
Plano diretor
Lei de Uso e Ocupação do Solo
Código de Obras e Edificações
Demais órgãos públicos
Setorização
Dimensionamento de ambientes
Dimensionamento mínimo
Funcionalidade
Fluxo de circulação
Representação gráfica
Desenho técnico
O croqui
Principais elementos gráficos
Ferramentas para a representação
gráfica
Etapas de projeto
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 12
Dimensionamento e pré-dimensionamento
Introdução
Ao pensar em um projeto de arquitetura, é comum imaginar apenas um
simples projeto que será utilizado para a construção de algo. No entanto, um
projeto de arquitetura não se trata de uma simples planta, uma vez que quando
o cliente contrata um arquiteto, espera um projeto diferenciado, exclusivo e
com qualidade, que refl ita seus sonhos e suas expectativas.
Para que tenhamos um projeto de qualidade e pensado individualmente
para aquele usuário e terreno, há uma série de fatores que devem ser estudados
e analisados antes de iniciar o desenho. Nesta unidade, falaremos de cada
um deles e de sua importância para o projeto como um todo.
Assim, estudaremos fatores importantes como conceito, levantamento de
dados, programa de necessidades, estudo de viabilidade, pré-dimensionamento
e dimensionamento de ambientes.
Conceito arquitetônico
O conceito é a ideia para o projeto, e pode ser defi nido como a intenção e
a sensação que o arquiteto quer passar por meio daquele projeto. O conceito
pode nascer de diversas formas: a partir de algum estudo de caso e referência
para o local, de alguma forma geométrica ou de algum ambiente essencial para
o projeto. Pode ser defi nido também a partir de algum material de acabamento
que se deseja utilizar.
Levantamento de dados
O levantamento de dados é a fase inicial, quando deve-se buscar informações
sobre o terreno, o entorno, estudos de casos e referências para o projeto.
Nesta fase, a visita ao terreno é fundamental, tanto para conhecer o local como
a vizinhança, as ruas e edifi cações de mesma tipologia. Além disso,
é necessário realizar um levantamento de toda a documentação
existente a respeito do terreno, da legislação local e de
parâmetros incidentes no terreno.
A busca de referências é muito importante,
particularmente para nos inspirar e ilustrar as
ideias e intenções para o cliente. Todavia, é necessário
entender que buscar referências não é copiar
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 13
outros projetos, mas sim explorar inspirações e soluções utilizadas que podem
se aplicar ao projeto proposto. As referências são, portanto, essenciais
para seu desenvolvimento.
Programa de necessidades
O programa de necessidades é o momento de dialogar com o cliente e questionar
qual seu desejo em relação ao projeto e ao terreno. Apesar de, muitas vezes,
os clientes pedirem realizações que a princípio parecem impossíveis de realizar,
nossa função é, nesse momento, ouvir e anotar todos os desejos para o projeto.
Para a definição do programa de necessidades, é importante entender o
perfil daquela família e um pouco de seu dia a dia. Para isso, algumas perguntas
básicas indicadas são: quão grande é o fluxo de pessoas na casa? Há animais de
estimação? Possui inclinação para a culinária? Quantas pessoas constituem a
família? Há crianças? Trabalha de casa? Quais os hobbies?
Todos esses itens são fundamentais para entender o contexto do usuário
e efetuar um projeto que atenda não apenas aos desejos dos moradores, mas
também à funcionalidade da residência, pensando em ambientes e soluções
que os clientes nem sabiam que precisariam.
Estudo de viabilidade
A análise técnica da viabilidade é um relatório técnico feito por meio do
estudo da legislação local, o qual deverá informar todos os parâmetros urbanísticos
incidentes no terreno. Devem ser consideradas todas as legislações
incidentes – municipais, estaduais e/ou federais. Esse estudo é essencial para
o desenvolvimento do projeto, pois indicará os índices urbanísticos permitidos
para o local, tais como:
• Recuos: distanciamento obrigatórios que são necessários na edificação
ao terreno;
• Gabarito: altura máxima permitida da edificação;
• CA (coeficiente de aproveitamento): o índice máximo que pode ser construído
no terreno, ou seja, qual a área máxima permitida para o terreno;
• TO (taxa de ocupação): índice de projeção máxima permitida no terreno;
• Restrições de uso do solo: quais os tipos de uso permitidos para o local,
como, por exemplo, residencial, comercial, institucional;
• Exigências específicas relativas à tipologia da edificação pretendida;
• Outros aspectos específicos do órgão municipal principal de aprovação;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 14
• Ademais, deve-se verifi car a infl uência de outras legislações detectadas pela
fi cha técnica e/ou utilização de legislações que permitem o aumento ou limitem o
potencial construtivo (operação urbana, outorga onerosa, gabaritos, entre outros).
Esses são os principais índices que devem ser considerados para o estudo
inicial e desenvolvimento de todo projeto. Após esse levantamento, deve-se
gerar um relatório técnico que será utilizado como premissa do projeto.
Plano Diretor
O plano diretor é “o instrumento básico de um processo de planejamento
municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando
a ação dos agentes públicos e privados” (ABNT, 1991). Na prática, isso signifi
ca que cada município aplicará conceitos e características muito específi cas.
Assim, segundo Villaça:
“a partir de um diagnóstico científi co da realidade física,
social, econômica, política e administrativa da cidade, do
município e de sua região, o plano apresentaria um con-
Pré-dimensionamento de ambientes
Para começar o pré-dimensionamento de ambientes, é necessário ter em
mente que algumas regras que devem ser seguidas servirão de base para o
projeto. No estudo de viabilidade, vimos os principais índices a serem considerados
para o desenvolvimento de um projeto. Assim, somente após saber o
que é permitido pela legislação é que estudos de projeto podem ser iniciados,
sempre dentro da área máxima permitida pela própria legislação.
A área máxima construída de uma edifi cação depende de vários fatores,
como: área do terreno, zona em que se encontra o terreno na cidade, área máxima
que pode ser construída perante a municipalidade, recuos obrigatórios
que deverão ser colocados, taxa de permeabilidade solicitada, entre outros –
mas como chegar a esses parâmetros? Quais instrumentos e leis devem ser
consultados? Quais são as regras?
A legislação urbanística que deve nortear os projetos é composta basicamente
por três instrumentos municipais principais, vistos a seguir.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 15
junto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico
e organização espacial dos usos do solo urbano,
das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais
da estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas
estas defi nidas para curto, médio e longo prazos e
aprovadas por lei municipal” (VILLAÇA, 1999, p. 238).
O plano diretor é denominado de plano porque defi ne os objetivos a serem
atingidos e o prazo em que devem ser alcançados; e é diretor porque fi xa as diretrizes
a serem seguidas para o alcance das metas. Dessa maneira, segundo a
defi nição adotada pelo Estatuto da Cidade, o plano diretor deve ser um instrumento
que orienta todas as ações concretas de intervenção sobre o território.
Na cidade de São Paulo, há um plano diretor vigente desde 2014, o PDE (Lei
nº 16.050/2014). De acordo com a Prefeitura Municipal, esse plano está em sintonia
com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano da Cidade (PNDU) e,
por isso, tem como principal objetivo humanizar e reequilibrar a cidade, com
instrumentos que aproximem moradia e emprego, diminuam o trânsito da cidade
e melhorem a qualidade de vida da população.
Para atingir esse objetivo, foram criados instrumentos para: combater a terra
ociosa, principalmente em regiões centrais; valorizar e incentivar a criação
de áreas verdes; promover o crescimento ordenado em regiões onde há grande
oferta de transporte público; valorizar e qualifi car a vida urbana na escala
de bairro; investir e incentivar a preservação do patrimônio histórico; e, principalmente,
fortalecer a participação popular nas decisões dos rumos da cidade.
Lei de Uso e Ocupação do Solo
A Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 16.402/2016) é o instrumento
que defi ne os parâmentos de uso e ocupação do lote. Os principais índices
que constam da Lei são:
I. Zoneamento territorial: segundo a defi nição da Prefeitura Municipal de
São Paulo, zoneamento é o conjunto de regras – de parcelamento, uso e ocupação
do solo – que defi ne as atividades que podem ser instaladas nos diferentes
locais da cidade (por exemplo, se são permitidos comércio, indústria, residências
etc.) e como as edifi cações devem estar implantadas nos lotes de forma a
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 16
proporcionar a melhor relação com a vizinhança. Tendo em vista a ampla diversidade
de atividades, a extensão territorial do município e a diversidade dos
bairros, é necessário estabelecer regras distintas para as diferentes regiões do
município. Para tanto, a lei de zoneamento divide o território em porções – denominadas
zonas –, e cada zona reúne um conjunto de regras para um determinado
local. É com base nessas regras que a Prefeitura autoriza a construção
de novos edifícios e a instalação de novas atividades nos bairros por meio de
alvarás e licenças de funcionamento (Prefeitura de São Paulo, [s.d.]);
II. Parcelamento: define o dimensionamento do lote e as regras para divisão
dos lotes e glebas;
III. Uso: define as atividades permitidas no lote, em cada zona específica,
bem como suas condições para instalação, e estabelece referências e condicionantes
conforme usos e atividades não residenciais para a adequação das
edificações, inclusive a largura da via;
IV. Coeficiente de Aproveitamento (CA): é um número que, multiplicado
pela área de um terreno, indica a área total a ser construída considerando todos
os pavimentos construídos naquela edificação. No município de São Paulo,
o coeficiente de aproveitamento básico é 1,00, ou seja, pode-se construir 1x a
área do terreno sem pagamento de outorga onerosa, ou seja: se o terreno tiver
100 m², é possível construir essa mesma área dividida em dois pavimentos de
50 m² cada um;
V. Taxa de ocupação (TO): é a área de projeção da edificação no terreno.
O objetivo da taxa de ocupação é limitar um crescimento urbano exagerado.
Para chegar à área de TO, é necessário pegar todas projeções que aparecem
no terreno, como a edificação, coberturas e beirais, somadas e dividi-las pela
sua área. Se um terreno tiver uma área de 100 m², por exemplo, e as projeções
da edificação e beirais somarem 60 m², a TO do terreno será de 60% de
ocupação. O índice de TO é sempre representado através de porcentagem;
VI. Gabarito de altura máxima: define a altura máxima que pode ser construída
naquela zona, e serve para controlar a volumetria das edificações no lote
e na quadra e para evitar interferências negativas na paisagem urbana;
VII. Recuos: são os afastamentos obrigatórios que devem ser obedecidos no
terreno. Os recuos servem para controlar a paisagem urbana e questões de insolação
e ventilação naturais para o projeto;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 17
VIII. Parâmetros de incomodidade: estabelece limites quanto à interferência
de atividades não residenciais em relação ao uso residencial;
IX. Taxa de permeabilidade mínima: promove a qualifi cação ambiental;
em especial, a melhoria da retenção e infi ltração da água nos lotes, a melhoria
do microclima e a ampliação da vegetação;
X. Outorga onerosa: a outorga onerosa do direito de construir constitui a
prerrogativa que o proprietário de imóvel tem de “edifi car acima do limite permitido
em virtude de contraprestação fi nanceira”. Nesse sentido, caso o coefi -
ciente básico seja 1, isso signifi ca que o proprietário do imóvel pode construir
em toda a área disponível 1x a área do lote. Caso ele deseje construir mais, e
a zona onde o terreno se encontra permita isso, é realizado um cálculo para
o pagamento da outorga onerosa, a fi m de que ele possa construir acima do
básico. Por exemplo: caso o coefi ciente de aproveitamento básico seja 1x, e
seja permitido construir até 4x a área do terreno, deverá ser feito um cálculo
da área adicional que será 3x acima do permitido, ou seja, o valor a ser cobrado
pela outorga onerosa será referente às 3x acima do básico, chegando ao máximo
de 4x do permitido para a zona.
Código de Obras e Edificações
O Código de Obras e Edifi cações (COE) é a legislação que defi ne regras para
lotes e construções de edifi cações, priorizando aspectos urbanísticos, ambientais
e de vizinhança. Essas exigências valem tanto para construções novas
quanto para reformas.
É com base no Código de Obras que a administração municipal controla e
fi scaliza o espaço construído e seu entorno. Em suma, no Código, estão defi nidos
os conceitos básicos que garantem conforto ambiental, segurança, conservação
de energia, salubridade e acessibilidade das edifi cações.
O Código de Obras e Edifi cações (Lei nº 16.642/2017), em vigor na cidade de
São Paulo desde 2017, apresenta um novo modelo de licenciamento de edifi cações.
É um código muito mais simplifi cado que os demais que já existiram na
cidade. Com ele, os detalhes internos das edifi cações fi cam a critério do proprietário
e do autor do projeto, e a Prefeitura focará nos aspectos urbanísticos, ambientais,
de sustentabilidade, acessibilidade e segurança dos empreendimentos.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 18
Demais órgãos públicos
Além das principais aprovações nas prefeituras locais, existem outras aprovações
que podem ser necessárias para o projeto. A seguir, observe as principais
aprovações complementares no município de São Paulo:
• Depave (Departamento de Parques e Áreas Verdes) – Secretaria do
Meio Ambiente – árvores: relativo a caso haja árvores no terreno e seja necessário
fazer qualquer manejo arbóreo, como cortes ou transplante de local;
• SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes): regulamenta
as vagas de veículos que devem ser colocadas nas edifi cações de grande
porte, consideradas polos geradores de tráfego. Normalmente, essas aprovações
são necessárias para edifícios
residenciais de grande porte, edifícios
corporativos, comerciais, industriais
e institucionais. Por serem áreas com
potencial para geração de tráfego,
essa aprovação é necessária, uma vez
que o órgão regulamentador estudará
medidas mitigadoras que auxiliarão
na diminuição do impacto viário
nas vias e regiões onde os edifícios
estão implantados;
• Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e Decont (Departamento
de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal e do Meio
Ambiente): são órgãos em âmbito municipal e estadual responsáveis pelo
controle, fi scalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras
de poluição e de áreas contaminadas. Caso um terreno esteja em uma
área contaminada, é necessário fazer um estudo do tipo de contaminação
existente no local e um plano de descontaminação antes de a edifi cação ser
construída;
• Comaer (Comando da Aeronáutica): é o órgão federal que regulamenta
todo o espaço aéreo brasileiro e edifi cações de grande porte que
ultrapassem o gabarito de altura máximo permitido pela Prefeitura, ou que
se encontrem em alguma zona da cidade em que não exista previsão de
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 19
gabarito máximo de altura. Como há um grande volume de tráfego aéreo
no País, é necessário solicitar anuência desse órgão para a construção de
edifi cações de grande porte;
• Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) e CONDEPHAAT (Conselho
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
do Estado de São Paulo): são órgãos de proteção do patrimônio histórico de
âmbito municipal e estadual que têm como fi nalidade a preservação desse patrimônio.
Quando há um terreno que esteja inserido em alguma área que tenha
incidência de preservação, é necessário buscar as aprovações nesses órgãos,
que poderão impor algumas medidas restritivas quanto à construção.
Além dos órgãos listados, existem outros tipos de aprovações em âmbito
municipal, estadual ou federal que podem ser necessárias para o terreno.
Para saber quais serão necessárias, é necessário fazer um estudo detalhado
do local e seus documentos, especialmente matrículas, levantamento planialtimétrico
e IPTUs.
As aprovações complementares vão depender da complexidade e localização
de cada projeto. É, portanto, impossível estimar todas as aprovações necessárias
sem fazer um estudo detalhado de cada terreno e projeto individualmente.
Setorização
Depois de analisar as necessidades do usuário, o espaço físico local e
a legislação incidente, os ambientes devem começar a ser definidos. Para
uma melhor definição de ambientes, eles devem ser subdivididos em setores,
a fim de facilitar a organização espacial e o pré-dimensionamento
do projeto.
Em projetos residenciais, os setores podem ser defi nidos da seguinte forma:
• Setores de estar: cozinha e salas;
• Setores de descanso ou íntimo: quartos e escritórios;
• Setores de serviço: banheiros e áreas de serviço.
Esse pré-dimensionamento deve contar com os tamanhos mínimos a serem
adotados em cada ambiente, considerando o programa de necessidades e estudos
já feitos anteriormente, conforme exemplifi ca a Figura 1:
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 20
Setor social
Setor de descanso ou íntimo
Setor de serviço
Figura 1. Exemplo de setorização.
O pré-dimensionamento deve ser pensado considerando a ocupação de
cada espaço e sua integração com os demais ambientes. Nesse momento,
deve-se determinar qual ambiente dará vista para outro
e como será o uso desses ambientes simultaneamente.
Essa análise deve ser feita para que os ambientes
projetados não causem interferências entre
si, como barulhos, circulação inadequada devido
a determinados objetos ou mesmo a abertura de
portas ou mobiliários.
Dimensionamento de ambientes
Após a defi nição do pré-dimensionamento do espaço, chega-se ao momento
de realizar o dimensionamento propriamente dito, seguindo a setorização já
apresentada e aprovada pelo cliente.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 21
No dimensionamento, é feito o ajuste de medidas de acordo com as necessidades
do projeto e solicitações do cliente, considerando todas as interferências
que possam ocorrer.
Deve-se levar em consideração a distribuição e localização do mobiliário
e aberturas, tais como janelas e portas, de forma que possam permitir
liberdade de espaço e movimentos, além de proteção contra ruídos e boa
insolação e aeração.
Dimensionamento mínimo
Sabe-se que há diversas regras arquitetônicas que estabelecem medidas
mínimas para cada elemento, particularmente no que diz respeito à utilização,
proteção e ergonomia. Muito já se estudou e foi dito sobre este assunto; há
inclusive o famoso livro A arte de projetar em arquitetura, do arquiteto alemão
Ernst Neufert, que traz extensos textos sobre medidas do corpo humano e
como elas devem ser adotadas em diversos tipos de edifi cações – residenciais,
comerciais, corporativas ou institucionais. No entanto, esses estudos foram
feitos na Europa no início do século XX, ou seja, utilizaram como base o corpo
do homem europeu daquele período.
CURIOSIDADE
Antes de ser arquiteto, Neufert foi pedreiro por cinco anos e, com 17
anos de idade, entrou na escola de construção. Um de seus profe ssores
o recomendou a Walter Gropius, fundador da recém-fundada
Bauhaus, e Neufert foi um de seus primeiros alunos. Com isso, t eve a
oportunidade de viajar e conhecer importantes figuras da época, como
o arquiteto catalão Gaudí, o pintor W assily Kandinsky e, mais tarde, o
arquiteto Frank Lloyd Wright.
Na cidade de São Paulo, o Código de Obras (Lei nº 16.642/2017) determina
algumas áreas mínimas de ambientes habitacionais e de outros usos, como
comerciais ou institucionais, que devem ser obedecidas para permitir conforto
e funcionalidade. Na verdade, em muitas cidades do País existem normas para
dimensionamento mínimo de ambientes, que devem ser consultadas antes do
início do projeto.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 22
Caso a cidade onde o projeto esteja sendo desenvolvido não tenha um Código
de Obras específi co que determine as medidas mínimas dos ambientes,
deve-se procurar a legislação estadual. Já para cidades localizadas no estado
de São Paulo que não possuam Código de Obras, devem ser seguidas as dimensões
mínimas dos cômodos e das áreas destinadas à iluminação e ventilação
vigentes na Legislação Sanitária Específi ca, Decreto nº 12.342, de 27 de
setembro de 1978.
Uso da
edifi cação Compartimentos Pé direito (m) Área (m) Conter círculo
(diâmetro/m)
Estudo
Saúde
Repouso
2,50
5,00
2,00
Repouso
- - -
Vestiários
Circulação
Lavanderia
Terraços
-
Habitação;
Repouso
Educação
Estar
Hospedagem
2,50
Estudo
Repouso
Trabalho
Qualquer uso
Reunião
5,00
2,50
Espera
2,50
Esportes
Cozinha
2,00
5,00
Copa
Sanitários
2,50
2,00
2,00
2,30
1,50
0,90
TABELA 1. DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DE AMBIENTES
Fonte: Código de Obras de São Paulo, Lei nº 16.642/2017.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 23
É importante ressaltar que a NBR 15.575/2013 também estabelece dimensões
mínimas para ambientes habitacionais de forma mais clara que o
Código de Obras. Por fi m, para um melhor resultado no projeto, é necessário
sempre buscar um espaço que atenda às necessidades do cliente e traga
conforto e bem-estar, e não somente atender o que determinam a lei e as
normas quanto a isso.
Funcionalidade
O tamanho dos ambientes deve ser defi nido de acordo com o programa de
necessidades e o terreno em que serão implantados. Devem ser consideradas
medidas adequadas para o melhor uso do espaço, levando em consideração
todas as atividades que serão desenvolvidas naquele ambiente.
Por exemplo: um dormitório pode ser utilizado somente como ambiente
de dormir e, para isso, o espaço a ser pensado é somente o espaço para a
cama e um armário.
O dormitório, porém, pode ser utilizado como ambiente para dormir e para
trabalhar, e, nesse caso, o ideal é destinar espaços que, de alguma forma, possam
funcionar de forma independente dentro do mesmo ambiente.
Fluxo de circulação
Para um melhor dimensionamento, o fl uxo de circulação também deve ser
considerado como item essencial, uma vez que um fl uxo bem organizado determina
o arranjo de layout e a utilidade de cada ambiente, além de precisar
espaços de circulação sem criar obstáculos no caminho ou barreiras visuais
que dão a sensação de um ambiente menor.
Uma área com espaços bem defi nidos faz toda a diferença no
projeto, visto que é isso que garante uma residência
mais confortável, com cada coisa em seu lugar. Muitas
vezes, áreas do mesmo tamanho e mesma função
podem ter sensações muito diferentes umas
das outras, dependendo de como realizou-se a
distribuição espacial e os fl uxos.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 24
Representação gráfica
Oscar Niemeyer uma vez disse que “de um traço nasce a arquitetura. E
quando ele é bonito e cria surpresa, ela pode atingir, sendo bem conduzida,
o nível superior de uma obra de arte.”. Assim, não é exagero afi rmar que a
representação gráfi ca é a primeira impressão do projeto, e, assim sendo, é extremamente
importante.
ASSISTA
A vida é um sopro é um fi lme documentário que conta a vida de um dos maiores
arquitetos que o Brasil e o mundo já tiveram a honra de conhecer: Oscar
Niemeyer. A carreira e história de vida desse ilustre brasileiro são reconstruídas
por meio de depoimentos e entrevistas de grandes nomes, como Chico
Buarque e José Saramago, entre outros. A obra também explora duas das
maiores contribuições de Niemeyer à arquitetura: a introdução das linhas
curvas e as novas possibilidades de utilização do concreto armado.
Você pode ter um projeto incrível, com uma ótima ideia, mas, se não tiver
uma boa representação gráfi ca, não conseguirá apresentá-lo para todos. Assim,
a representação gráfi ca é o meio que o arquiteto tem de se comunicar com
o mundo, mostrar suas ideias e expressar suas intenções.
Atualmente, está disponível toda a tecnologia para que a representação seja
cada vez mais realista e de fácil entendimento, porém nem sempre foi assim. Assim
sendo, nesta unidade aprenderemos como fazer uma representação gráfi ca
que consiga se comunicar com todos e expressar a intenção do projeto.
Desenho técnico
O desenho manual sempre foi e ainda é um meio muito efi ciente para a representação
gráfi ca e, por isso, é fundamental aprender essa técnica a fi m de
que seja concebido um projeto de qualidade.
Ao mencionar a representação gráfi ca, não estamos falando apenas de representação
de forma bidimensional, mas também tridimensional e de muitas
alternativas de experimentação espacial quase realistas, nas quais é possível,
inclusive, passear pelos ambientes. No entanto, de nada adianta possuir toda
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 25
a tecnologia disponível se não houver o conhecimento de como fazer a representação
de forma correta.
Há diversos casos de estudantes que entram em uma faculdade de arquitetura
por possuir predileção por desenhar, mas o que ocorre na maioria das
vezes é que estes alunos não sabem que, para os desenhos de arquitetura,
existem muitas normas técnicas a serem seguidas. Por meio dessas normas, é
possível transformar uma ideia ou um croqui em um projeto com uma linguagem
universal de desenho.
O projeto de arquitetura é representado através de desenhos técnicos, sendo
os principais plantas, cortes e vistas ou elevações. Para todos esses desenhos,
existem normas de representação que devem ser seguidas. Essas normas
determinam itens como escalas adequadas para a apresentação, os tipos
de linhas que devem ser empregados e as espessuras corretas para cada linha.
Utilizamos todos esses recursos para obter a hierarquia de elementos no projeto
e uma representação correta. No Brasil, o desenho técnico é normatizado
pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
O croqui
O croqui é o primeiro esboço do projeto de arquitetura. É feito à mão livre
e utilizado principalmente como estudo inicial, quando as ideias começam a
ser colocadas no papel. Essa é uma parte fundamental do projeto, posto que,
através dela, começam a aparecer as primeiras formas.
O estudo inicial é feito com base nas etapas anteriores do projeto, tais como
visita ao terreno, defi nição de programa, setorização, pré-dimensionamento,
dimensionamento dos ambientes e viabilidade técnica. Nessa etapa, é importante
colocar no papel tudo que já foi feito anteriormente, e o produto desse
estudo inicial são os croquis.
O croqui é uma f orma de representação gráfi ca que não precisa ser detalhado
como um trabalho fi nal; porém, deve expressar suas ideias. O croqui
pode ser feito por meio de plantas, vistas e até mesmo estudos volumétricos
para entender como o projeto se comporta no espaço. É importante explorar
todas as alternativas para que, quando o processo começar a ser desenvolvido,
todas as possibilidades para o terreno tenham sido exploradas.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 26
CURIOSIDADE
Santiago Calatrava, importante arquiteto catalão, fez belíssimos croquis
de seus projetos e depois os transformou em livro. Já a ítalo-brasileira
Lina Bo Bardi, grande arquiteta modernista que tem, entre suas principais
obras, o MASP – Museu de Arte de São Paulo, também impressionava
pela precisão e beleza de seus croquis, especialmente os do Sesc Pompeia,
em São Paulo, do próprio MASP e a Casa de Vidro, também em São
Paulo. Esses são apenas alguns exemplos de trabalhos de arquitetos que
valem a pena conhecer.
Esses estudos iniciais também são muito importantes como histórico de desenvolvimento
do projeto, uma vez que fornecem informações desde sua concepção,
qual o partido arquitetônico adotado inicialmente e como foi sua evolução.
Muitas vezes, o trabalho fi nal não tem muita relação com o croqui inicial.
Figura 2. Croqui de Arquitetura. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 03/07/2020.
Principais elementos gráficos
Os principais elementos gráfi cos para a representação de projetos de arquitetura
são: plantas de situação, implantação, planta baixa, cortes, elevações/
fachadas e perspectivas.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 27
Planta de situação
A planta de situação é a planta que mostra a localização do lote em relação
ao terreno e seus arredores. A representação da planta de situação é feita com
formas simples e com destaque por meio de hachura do terreno que está sendo
trabalhado. Nos projetos utilizados para aprovação nos órgãos públicos, a
planta de situação é um elemento obrigatório. De acordo com a NBR 6.492/94,
as plantas de situação devem conter:
a) curvas de nível existentes e projetadas, além de eventual sistema de
coordenadas referenciais;
b) indicação do norte;
c) vias de acesso ao conjunto, arruamento e logradouros adjacentes com os
respectivos equipamentos urbanos;
d) indicação das áreas a serem edificadas, com o contorno esquemático da
cobertura das edificações;
e) denominação dos diversos edifícios ou blocos;
f) construções existentes, demolições ou remoções futuras, áreas non aedificandi
e restrições governamentais.
Figura 3. Planta de situação.
Planta de situação sem escala – não serve para fins de locação
Rua Paquistão
Av. do Taboão
Rua Espanha
Rua Nigéria
N
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 28
Implantação
A implantação é a planta que compreende todo o terreno. Assim, nesta
deve estar presente o desenho, os fechamentos e os limites do terreno, assim
como seu acesso principal; a vegetação e o projeto de paisagismo; os recuos; as
escadas e seus sentidos, além das rampas de acesso, caso haja; e a cobertura.
A implantação é o projeto em que confere-se se a TO está dentro do permitido
pela legislação local. A taxa de ocupação é definida como a porcentagem
máxima de construção em projeção horizontal das edificações no lote, e a ocupação
máxima do lote deverá estar dentro do permitido conforme o relatório
de viabilidade técnica.
Figura 4. Exemplo de Implantação. Fonte: Archdaily, 2017.
Planta baixa
A planta baixa é um desenho técnico da construção visto de cima. Geralmente,
ela é representada por um corte horizontal a 1,50 m de altura na edificação,
liberando, assim, sua vista interna.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 29
Figura 5. Planta baixa. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 03 jul. 2020.
Como é possível observar na Figura 5, a planta baixa mostra a divisão interna
dos ambientes e contém todos os cômodos do projeto e suas medidas.
A planta baixa é o principal elemento para entender um projeto, pois nela
constam todos os ambientes com suas divisões internas, medidas de largura e
profundidade de cada ambiente desenhado, abertura de portas, janelas e, se
possível, sugestão de layout.
A planta baixa sempre deve ser concebida na medida real dos ambientes
para o qual está sendo projetada, a fi m de que, quando impressa em escala,
possa ser um projeto de fácil leitura para todos, mesmo que não constem todas
as cotas. As escalas normalmente utilizadas em plantas são 1:100 e 1:50, mas
a escolha da escala correta depende muito do tipo de projeto e tamanho da
edifi cação. Falaremos mais sobre as escalas posteriormente.
Assim, prover uma planta que funcione bem e que atenda ao projeto é um
desafi o, posto que é na planta que estão presentes as áreas fi nais da edifi ca-
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 30
ção, item fundamental para o projeto. Por fim, é importante ressaltar que a
área final da edificação deve estar dentro do CA permitido pela legislação.
Cortes
Segundo a definição da NBR 6.492/94, um corte é um “plano secante vertical
que divide a edificação em duas partes, seja no sentido longitudinal, seja no
transversal.” Ao contrário das plantas, que têm altura definida para sua representação,
os cortes não possuem indicação de localização padronizada; pelo
contrário, devem passar pelo projeto em posições estratégicas nas quais mostrem
o máximo possível de seus aspectos importantes – e essa escolha deve
ser feita pelo arquiteto em pontos que ele julgar necessário.
Os cortes devem ser feitos em tamanho real, para que possam ser impressos
em escalas adequadas, a fim de que todos tenham acesso às suas medidas.
Além disso, devem indicar as medidas verticais e/ou alturas, mostrar todos os
compartimentos internos por onde passam, as alturas de pé-direito, os níveis
internos e externos, peitoris de janelas e guarda-corpos, alturas de portas e
janelas, espessuras de laje, vigas, forro, piso e acabamentos. Também devem
evidenciar detalhes de coberturas e fundação, além de outros elementos verticais
que possam ser importantes no projeto.
Figura 6. Exemplo de corte.
Locais
Cotas
Cota nível
Perfil
terreno
Estar / Jantar wc Garagem
260 260
280
10 00
15
wc
Dormitório Dormitório
Reservatório
240 20
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 31
Um projeto deve ter, no mínimo,
dois cortes, sendo um corte transversal
e um corte longitudinal – mas
também pode incluir cortes parciais,
que servem para entender melhor
outros elementos que possam existir
no projeto, tais como detalhes de
acabamento ou detalhes construtivos.
Esses cortes parciais podem ser
feitos em escalas maiores, para uma
melhor visualização.
Como citado anteriormente, os cortes não têm localização obrigatória
no projeto. Dessa forma, devem ser indicados em planta, com os símbolos
indicados a seguir. O sentido de visualização também deve ser indicado
em planta.
Figura 7. Símbolo de indicação e sentido do corte.
A
Número da prancha 01
Letra do corte
Diâmetro = 12mm
5mm
3mm
Os cortes são sempre nomeados com as letras do alfabeto. Assim, é comum
termos corte AA e corte BB, além dos cortes parciais, que, se existirem, devem
ser indicados na sequência do alfabeto.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 32
Figura 8. Exemplo de indicação e sentido do corte em planta.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 33
Os cortes são elementos obrigatórios para conhecer as alturas do projeto,
posto que são eles que mostram as alturas internas e a altura final da edificação.
A altura final da edificação, por sinal, é um item muito importante, uma vez
que precisamos nos atentar ao gabarito máximo permitido para o local, o qual
consta no relatório de viabilidade visto anteriormente.
Fachadas ou elevações
As fachadas ou elevações representam as faces de um edifício, e as mais comumente
conhecidas são as fachadas externas da edificação. A principal fachada
é a frontal, e as secundárias são as laterais e de fundos. São consideradas
fachadas internas as paredes internas de corredores de edifícios.
No projeto de arquitetura, é importante que todas as fachadas externas
sejam representadas, a fim de gerar um maior entendimento do projeto. Ademais,
nas fachadas são simbolizados todos os caixilhos (portas e janelas) e detalhes
de acabamento propostos para o projeto.
Figura 9. Exemplo de fachada frontal e lateral. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 03/07/2020.
Perspectivas
As perspectivas são as representações tridimensionais do projeto. Existem
diferentes técnicas para as perspectivas. As mais comumente utilizadas na arquitetura
são a perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira, perspectiva axonométrica
e perspectiva cônica, também chamada de perspectiva com ponto
de fuga. Hoje, no entanto, há diversos softwares que permitem conceber diferentes
perspectivas de todos os ângulos possíveis.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 34
As perspectivas podem ser usadas em todas as fases do projeto: desde a
fase inicial, para estudo de volumes do projeto, até as fases intermediárias,
para entendimento do projeto e verifi cação de interferências de outros projetos,
tais como estrutura ou instalações.
Um tipo de perspectiva muito utilizada é a perspectiva ilustrativa, uma ótima
ferramenta de apresentação de projeto para o cliente, pois, como é um
desenho tridimensional, é de melhor entendimento por pessoas leigas, que
não estão acostumadas com desenhos técnicos.
É preciso entender que a perspectiva não é somente um item fi nal para
apresentação, mas também uma importante ferramenta de desenvolvimento
do projeto, pois, por meio dela, é possível compreender
por exemplo como funcionam os volumes
no terreno e na fachada da edifi cação. Pela perspectiva,
muitas vezes, vemos o projeto de forma
tridimensional e conseguimos perceber elementos
que poderiam passar despercebidos em representações
bidimensionais.
Figura 10. Exemplo de perspectiva. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 03/07/2020.
Ferramentas para a representação gráfica
Linhas no projeto de arquitetura
Segundo a NBR 8.403/84, as linhas em desenho técnico têm características
específi cas e devem ser utilizadas para se ter uma representação gráfi ca
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 35
perfeita no projeto. A ABNT também determina quais espessuras devem ser
utilizadas para a representação de cada item. Por exemplo: as paredes devem
ser representadas com o traço mais forte que as representações de janelas,
portas e pisos.
DICA
Busque sempre traçar uma linha contínua, de uma só vez, visto que isto
proporcionará um melhor acabamento. Lembre-se sempre que a excelência
de seu traço definirá sua identidade como desenhista.
As espessuras das linhas determinam a hierarquia dos elementos que são
desenhados; por isso, a importância de representá-las corretamente. As linhas
mais próximas do observador e as de elementos mais importantes são mais
grossas e escuras. Assim, seguem alguns exemplos de como empregar as linhas:
• Espessura grossa – linha contínua: é utilizada para representação em
plantas baixas e cortes de paredes, elementos estruturais e elementos interceptados
pelo corte. Também é utilizada em elevações, como a linha de contorno
da fachada e a linha de piso principal, onde a elevação se desenvolve,
a base do desenho;
• Espessura média - linha contínua: é utilizada para a representação de linhas
de janelas e portas em plantas baixas, vistas de degraus de escadas em
cortes e elementos em vista;
• Espessura fina – linha contínua: é utilizada para a representação de demais
elementos secundários, tais como: sentido de abertura de portas, soleiras, peitoris,
mobiliário, linha de piso, acabamentos e elementos em vista nos cortes;
• Espessura bem fina – linha contínua: essa linha é utilizada para representar
linhas de relacionamento e construção de desenho, linhas de indicação e
de cota. Usa-se, ainda, na representação de hachuras de pisos e paredes e elementos
decorativos;
• Espessura fina – linha tracejada: são empregadas para representar algum
elemento que está além do plano do desenho e projeções, como pavimento
superior, marquises, degraus de escadas;
• Espessura fina – linha traço e ponto: são empregadas para representar as
linhas de indicação de corte.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 36
Fonte: NBR 8.403/84.
Linha Denominação Aplicação geral
A Contínua larga
A1 contornos visíveis
A2 arestas visíveis
B Contínua estreita
B1 linhas de interseção imaginárias
B2 linhas de cotas
B3 linhas auxiliares
B4 linhas de chamadas
B5 hachuras
B6 contornos de seções rebatidas na própria vista
B7 linhas de centros curtas
C Contínua estreita a mão
livre(A)
C1 limites de vistas ou cortes parciais ou interrompidas
se o limite não coincidir com linhas
traço e ponto
D Contínua estreita em
ziguezague(A)
D1 esta linha destina-se a desenhos confeccionados
por máquinas
E Tracejada larga(A)
E1 contornos não visíveis
E2 arestas não visíveis
F Tracejada estreita(A)
F1 contornos não visíveis
F2 arestas não visíveis
G Traço e ponto estreita
G1 linhas de centro
G2 linhas de simetrias
G3 trajetórias
H
Traço e ponto estreita,
larga nas extremidades e
na mudança de direção
H1 planos de cortes
J Traço e ponto largo J1 indicação das linhas ou superfícies com indicação
especial
K Traço dois pontos estreita
K1 contornos de peças adjacentes
K2 posição limite de peças móveis
K3 linhas de centro de gravidade
K4 cantos antes da conformação
K5 detalhes situados antes do plano de corte
QUADRO 1. APLICAÇÃO DE LINHAS EM DESENHOS.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 37
Escala numérica em desenho técnico
Todo desenho técnico deve ser feito em escala, uma vez que é impossível
representar o tamanho real em uma prancha de desenho. As escalas são utilizadas
para que a representação do projeto possa expressar o tamanho correto
do objeto em um desenho, mantendo as proporções definidas. Devemos usar
as escalas para ampliar ou reduzir o tamanho da representação gráfica.
Para a representação de um projeto de arquitetura, normalmente usamos
escalas de redução. As escalas mais utilizadas para a representação gráfica são:
• Escala 1:200 – lê-se escala 1 para 200; significa que o tamanho real do desenho
foi reduzido em 200x. É uma escala normalmente utilizada para implantação
do projeto em grandes terrenos e para mostrar o entorno do terreno;
• Escala 1:100 – lê-se escala 1 para 100; significa que o tamanho real do desenho
foi reduzido em 100x. É a escala utilizada para representação de projeto
de arquitetura para órgãos públicos e para representações de plantas baixas,
cortes e elevações sem detalhes internos;
• Escala 1:75 – lê-se escala 1 para 75, significa que o tamanho real do desenho
foi reduzido em 75x. É uma escala utilizada para representação de projetos
normalmente nas fases de anteprojeto, quando os projetos começam a ter
mais informações de acabamentos e detalhes técnicos;
• Escala 1:50 – lê-se escala 1 para 50; significa que o tamanho real do desenho
foi reduzido em 50x. É uma escala usada para ampliação de algum detalhe
de corte ou na planta baixa;
• Escala 1:25 – lê-se escala 1 para 25; significa que o tamanho real do desenho
foi reduzido em 25x. É uma escala muito utilizada para ampliação de detalhes
no projeto. Apesar de ser uma escala de redução, é comumente chamada
de ampliação, isso é em relação à escala mais comumente utilizada no projeto,
a de 1:100;
• Escala 1:10 – lê-se escala 1 para 10; significa que o tamanho real do desenho
foi reduzido em 10x. É uma escala muito utilizada para ampliação de
detalhes construtivos.
Escala gráfica
Outra escala bastante utilizada, principalmente em projetos ilustrativos, é a
escala gráfica. Na escala gráfica, a representação acontece por um gráfico que
é proporcional à escala utilizada. Ela é representada por um segmento de reta
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 38
graduada que estabelece a relação do projeto com a medida real. Nesse caso,
vamos utilizar um segmento de reta graduada para estabelecer a relação entre
o mapa e a vida real.
Figura 11. Escala gráfica. Fonte: NBR 6.492/94.
5 0
Escala gráfica
5 10
Cotas em projetos
Outro item fundamental para a representação gráfica são as cotas de projeto.
As cotas são as formas como são identificadas as medidas de cada ambiente
desenhado. As cotas devem ser iguais às medidas reais do ambiente, para que,
quando qualquer pessoa pegue o desenho, saiba seu tamanho real.
Existem dois tipos principais de cotas: as cotas somente com o valor numérico
da medida; e as cotas com linha de cota e linha auxiliar. As cotas numéricas
são normalmente utilizadas para identificação das medidas internas de cada
ambiente, e as cotas com linhas auxiliares são utilizadas para identificação de
medidas externas da edificação e do terreno.
Cotas de nível
As cotas de nível são as cotas utilizadas para indicar os níveis internos e externos
do terreno e do projeto. Elas devem ser indicadas na planta e nos cortes
e podem ser utilizada de duas formas no projeto:
• Considerando o nível 0,00 como sendo o nível da rua onde está o terreno –
e, a partir daí, considerar todas as alturas internas com base nesse nível;
• Considerando todas as cotas de nível existentes no terreno e nos arredores
– e, a partir daí, fazer um referenciamento das cotas do projeto. Considerando
a cota de nível média 750,00 metros (nível médio da cidade de São Paulo,
considerado a partir do nível do mar), as cotas de projeto serão somadas a isso;
por exemplo, o nível do térreo residencial seria 750,50 metros, ou seja, 0,50 acima
da rua; e o andar superior seria de 753,50 metros, ou seja, do piso do térreo
ao piso do andar superior, seriam somados mais 3,00 metros.
Segue exemplo de como devem ser as indicações de cota de nível em plantas
e em cortes.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 39
Figura 12. Escala gráfi ca. Fonte: NBR 6.492/94.
Normas técnicas para projetos de arquitetura
Como visto anteriormente, para a correta representação gráfi ca de um projeto
é necessário seguir algumas normas de padronização. Essas normas servem
para que haja a correta compreensão do projeto apresentado e, com isso,
a certeza de uma execução adequada da obra do projeto proposto. Observe a
seguir as principais normas de projeto regulamentadas pela ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas):
• NBR 8.403/1984 - Aplicação de linhas em desenho, tipos de linhas e largura;
• NBR 10.126/1987 - Cotagem em desenho técnico;
• NBR 10.582/1988 - Apresentação de folha para desenho técnico;
• NBR 8.402/1994 - Execução de caractere para escrita;
• NBR 6.492/1994 - Representação de projeto de arquitetura;
• NBR 13.532/1995 - Elaboração de projeto de edifi cação - Arquitetura;
• NBR 8.196/1999 - Emprego de escalas;
• NBR 13.142/1999 - Dobramento de cópia;
• NBR 15.575/2013 - Edifi cações habitacionais;
• NBR 16.752/2020 - Desenho técnico - Requisitos para apresentação em
folhas de desenho.
Etapas de projeto
Conhecidos os principais elementos projetuais e as normas para sua correta
representação, é necessário aprender quais são as etapas de um projeto
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 40
desde sua concepção até sua construção. O desenvolvimento dessas etapas
é muito importante para que os projetos sigam um fluxo que atenda todas as
demandas necessárias. As principais etapas de projetos são classificadas como
evidenciado a seguir. No entanto, é importante ressaltar que, dependendo do
tipo e complexidade do projeto, essas etapas podem ser suprimidas ou podem
ser incluídas mais etapas, com detalhamentos específicos.
Estudo de viabilidade
Etapa já vista, na qual é necessário fazer o levantamento preliminar de toda
a documentação do terreno, o programa de necessidades e referências. Para
essa etapa, espera-se:
• Implantação esquemática, em forma de croquis ou desenhos esquemáticos;
• Estudos volumétricos (estudos de massas);
• Estudo de viabilidade técnica.
Estudo preliminar
Após a aprovação do estudo de viabilidade pelo cliente, inicia-se o estudo
preliminar. Essa é a fase do projeto que contempla o partido arquitetônico adotado
e conceitos de projeto.
O estudo preliminar serve para que todos os outros projetistas indicados (estrutura,
instalações, fundações), chamados de disciplinas complementares, o utilizem
como base para o seu primeiro estudo, indicando onde devem ficar itens
dessas disciplinas, como tomadas, entradas de energia, tubulações de água e
esgoto e elementos estruturais, como vigas e pilares. São produtos dessa etapa:
• Implantação;
• Plantas (somente com identificações dos ambientes: “bases”);
• Cortes principais;
• Fachadas;
• Tabela de áreas dos ambientes, considerando o estudo de viabilidade técnica
apresentado anteriormente.
Projeto de prefeitura e demais aprovações
Para que o projeto possa ser construído, é necessário que se faça a aprovação
na prefeitura local. Para essa aprovação, existe um projeto específico que
deve ser desenvolvido de acordo com as regras locais. Essa etapa compreende
o projeto em condições de ser apresentado nos órgãos públicos competentes,
atendendo a todos os critérios técnicos. Os produtos dessa fase são:
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 41
• Plantas, cortes e elevações;
• Tabelas de áreas;
• Memória de cálculo;
• Quadros solicitados pela municipalidade.
Anteprojeto
Após a aprovação do estudo preliminar, deverá ocorrer a etapa de anteprojeto.
Esta é uma etapa de consolidação dos projetos complementares (se
houver), como projeto estrutural e de instalações. Nela, devem ser detalhadas
e absorvidas todas as interferências no projeto, de forma que se mantenha o
partido adotado e se atenda a todas as interferências técnicas.
O ideal é que essa seja a última etapa em que ocorram alterações no projeto.
Por isso, é importante que, na apresentação para o cliente, o projeto já
esteja completamente resolvido. São produtos dessa etapa:
• Implantação;
• Plantas de todos os pavimentos (somente com identificações dos ambientes:
“bases”);
• Cortes gerais;
• Elevações;
• Cortes parciais de detalhes relevantes;
• Indicação de forro e alturas.
Projeto executivo
O projeto executivo é a última fase do desenvolvimento de projetos e deverá
ser a mais detalhada, pois o produto dessa fase será o material que será
utilizado para a construção do projeto.
No projeto executivo, devem aparecer todos os detalhes de construção e elementos
gráficos que indiquem claramente as dimensões e a geometria dos compartimentos
e das fachadas. Devem ser detalhados os materiais a serem utilizados
e os acabamentos propostos. Os produtos dessa etapa serão os seguintes:
• Implantação geral;
• Plantas de todos os pavimentos;
• Plantas de forros;
• Cortes gerais;
• Cortes parciais pelas fachadas;
• Cortes parciais necessários;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 42
• Elevações;
• Paginação (desenho) de pisos e detalhes;
• Especificação de acabamentos;
• Memorial descritivo de acabamentos;
• Planilhas de orçamentos.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 43
Sintetizando
Nesta unidade, aprendemos a fazer os estudos iniciais para um projeto com
base em legislação urbanística e índices obrigatórios que devem ser seguidos.
Conhecemos um pouco as principais legislações que incidem em um terreno e
a quais pontos devemos nos atentar – e, a partir daí, a fazer a setorização inicial
e o correto dimensionamento do ambiente, aliando funcionalidade, estética e
atendimento ao programa de necessidades.
Aprendemos a importância da representação gráfica feita de forma correta
e como ela é fundamental para a apresentação e entendimento do projeto.
Aprendemos que o desenho é a forma de comunicar o projeto e que, para isso,
existem muitas normas a serem seguidas. Conhecemos os principais elementos
gráficos que compõem um projeto e como eles são desenvolvidos. Aprendemos,
por fim, quais são as etapas principais para o desenvolvimento de um
projeto completo, desde sua concepção até a execução da obra.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 44
Referências bibliográficas
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NB 1.350: Normas
para elaboração de plano diretor. Rio de Janeiro, 1991.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6.492/94: Representação
de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro, 1994.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8.403/84: Aplicação
de linhas em desenhos – Tipos de linhas - Larguras das linhas. Rio de
Janeiro, 1984.
ARCHDAILY. Casa FY / PJV Arquitetura. 2017. Disponível em: <https://www.archdaily.
com.br/br/885631/casa-fy-pjv-arquitetura>. Acesso em: 03 jul. 2020.
ARQFASHION. Os 5 filmes que todo arquiteto deve assistir. 2016. Disponível
em: <https://www.arqblog.com.br/televisao-cinema-arquitetura/os-5-filmesque-
todo-arquiteto-deve-assistir/>. Acesso em: 03 jul. 2020.
BISELLI, M. Teoria e prática do partido arquitetônico. Arquitextos, São Paulo,
ano 12, n. 134.00, Vitruvius, 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.
br/revistas/read/arquitextos/12.134/3974>. Acesso em: 26 mai. 2020.
CAU. Planta baixa. [s.d.] Disponível em: <https://arquiteturaurbanismotodos.
org.br/planta-baixa/>. Acesso em: 6 jun. 2020
CHING, F. D. K. Representação gráfica em arquitetura. 3. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2006.
DELAQUA, V. Arte de projetar em arquitetura / Ernst Neufert. 2015. Disponível
em: <https://www.archdaily.com.br/br/776750/arte-de-projetar-em-arquitetura-
enrst-neufert>. Acesso em: 7 jun. 2020.
DEPOLI, J. A representação gráfica em arquitetura. [s.d.] Disponível em:
<http://www.studioarqbox.com/download/artigos/studioarqbox_app_a_representacao_
grafica_em_arquitetura.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2020.
FERREIRA, M. Etapas de um projeto arquitetônico. 2016. Disponível em:
<http://ateliedaarquitetura.blogspot.com/2016/04/etapas-de-um-projeto-arquitetonico.
html>. Acesso em: 26 mai. 2020.
KENCHIAN, A. Estudo de modelos e técnicas para projeto e dimensionamento
dos espaços da habitação. São Paulo, 2005. 308 f. Dissertação (Mestrado
em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2005.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 45
LEMOS, C. O que é a arquitetura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 2003.
MACIEL, C. A. Arquitetura, projeto e conceito. Arquitextos, São Paulo, ano 4,
n. 043.10, Vitruvius, dez. 2003. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/arquitextos/04.043/633>. Acesso em: 26 maio 2020
MAGUIRE, D. E.; SIMMONS, C. H. Desenho técnico: problemas e soluções gerais
do desenho. São Paulo: Hemus, 2004.
MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.
NEUFERT, E. Arte de projetar em arquitetura. 18. ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
PINHAL. Terminologias arquitetônicas. 2 009. D isponível e m: < http://www.
colegiodearquitetos.com.br/dicionario/2009/02/o-que-e-fachada/>. Acesso
em: 5 jun. 2020
PREFEITURA DE SÃO PAULO. O que é zoneamento? [s.d.] Disponível em: <https://
gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/o-que-e-o-zoneamento/>. Acesso em:
03 jul. 2020.
SABOYA, R. O que é o Plano Diretor? Urbanidades. 2008. Disponível em: <http://
urbanidades.arq.br/2008/06/o-que-e-plano-diretor/>. Acesso em: 8 jun. 2020.
SÃO PAULO. Decreto nº 12.342, de 27 de setembro de 1978. Diário Oficial, São
Paulo, SP, Executivo, 28 set. 1978. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/
norma/?id=154684>. Acesso em: 03 jul. 2020.
SÃO PAULO. Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. Diário Oficial, São Paulo,
SP, 31 jul. 2014. Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-
16050-de-31-de-julho-de-2014>. Acesso em: 03 jul. 2020.
SÃO PAULO. Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016. Diário Oficial, São Paulo,
SP, 22 mar. 2016. Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-
16402-de-22-de-marco-de-2016>. Acesso em: 03 jul. 2020.
SÃO PAULO. Lei nº 16.642, de 9 de maio de 2017. Diário Oficial, São Paulo, SP, 09
mai. 2017. Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16642-
de-09-de-maio-de-2017>. Acesso em: 03 jul. 2020.
VILLAÇA, F. Dilemas do Plano Diretor. CEPAM. O município no século XXI: cenários
e perspectivas. São Paulo: Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam, 1999.
VIVA DECORA. Viva Decora Pro. 2020. Disponível em: <https://www.vivadecora.
com.br/pro/estudante/>. Acesso em: 6 jun. 2020.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 46
ANÁLISE ESPACIAL,
ANÁLISE DA FORMA E
PAISAGEM URBANA
2
UNIDADE
Objetivos da unidade
Tópicos de estudo
Conhecer o que é forma, seus principais elementos e analisar os tipos de
formas existentes;
Conhecer os elementos arquitetônicos e os elementos formais e não formais
da forma;
Entender a diferença entre proporção e escala e como são usadas em projetos;
Entender como funciona a percepção visual dos objetos;
Aprender o que é espaço e paisagem urbana e qual o impacto da forma no
seu meio;
Ver exemplos de obras que tiveram a forma como premissa;
Ver exemplos de obras aplicadas ao espaço e qual o impacto que elas causam;
Conhecer como funciona a plasticidade das obras na arquitetura.
Introdução
Análise espacial: elementos
primários das formas
Forma: elementos básicos
Volume
A análise da forma: o que é
forma?
Elementos arquitetônicos para
a forma
Elementos formais e não formais
Proporção e escala
Percepção visual
Espaço arquitetônico
Paisagem urbana
Impacto da forma na paisagem
urbana
Projetos na paisagem urbana
Oscar Niemeyer
Frank Lloyd Wright
Frank Gehry
Zaha Hadid
Plasticidade
Plasticidade na arquitetura
A plasticidade das obras de
Oscar Niemeyer
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 48
Introdução
Quando iniciamos um projeto de arquitetura, logo após as fases de estudos
iniciais e programa de necessidades, vem o desespero... e agora? O que eu faço
com um papel em branco? De onde vem a inspiração para o projeto? Como vem
a inspiração para o partido do projeto?
Podemos começar o projeto pela análise espacial, por meio de referências
e estudos de caso, quando começamos a ter ideia de qual será a forma proposta
para aquele projeto.
A análise espacial nada mais é do que o estudo de como a massa construída
e o seu entorno se relacionam. Buscamos entender como a forma, o volume e o
espaço são entendidos do ponto de vista do observador e qual o impacto dele
na paisagem em que se encontra.
Geralmente, começamos um projeto pela sua planta, resolvendo seu programa
de necessidades mediante croquis de ambientes internos e evoluímos
o projeto em todas as etapas. A forma desse projeto normalmente é resultante
da planta interna, onde não pensamos na plasticidade e no desenho
daquela edifi cação.
Nessa unidade, vamos aprender o que é a forma, entender como pensar na
forma de um edifício e como podemos aliar a funcionalidade com a estética,
para que os edifícios possam atender à função para a qual foram projetados,
sua forma desejada e sua relação com o entorno.
Análise espacial: elementos primários das formas
Para começarmos a entender o que é análise espacial, precisamos ter noções
primitivas de geometria e de seus elementos primários, que são a base de
todas as formas. Esses elementos são ponto, linha, plano e espaço.
• Ponto: o ponto é um objeto fi xo, estático, que não possui defi nição, dimensão
ou forma. O ponto é a base de toda a geometria e por isso é a base de todas
as fi guras geométricas e formas;
• Linha: linhas são conjuntos de pontos estendidos. Uma linha possui comprimento,
mas não possui largura, possui direção, movimento e crescimento,
podem ser linhas infi nitas. Uma linha pode ser reta ou curva;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 49
• Plano: um plano é um conjunto infi nito e ilimitado de linhas. É nos planos
que são defi nidas as fi guras geométricas primárias, portanto, ele tem comprimento
e largura;
• Espaço: um espaço é a justaposição de planos no sentido perpendicular,
por isso um espaço tem comprimento, largura e profundidade. Um espaço é a
transformação de um plano em uma fi gura tridimensional.
Forma: elementos básicos
Na geometria, dividimos as formas em básicas ou primárias, que são: quadrados,
triângulos e círculos. A partir dessas formas primárias, temos algumas
derivações chamadas de sólidos platônicos.
Os sólidos platônicos são a evolução das formas simples: quando elas expandem,
giram e ganham volume. Os elementos conhecidos como sólidos platônicos
são esferas, cubos, cilindros, pirâmides, quadrados, trapézios, entre outros.
Quando vemos uma obra de arte ou uma edifi cação, é natural que nossos
olhos sempre procurem ver as formas primárias, pois essas formas são simples
e de conhecimento de todos. Segundo a Gestalt, quanto mais regular uma forma,
mais fácil de identifi carmos e entendermos.
Essa regra é muito utilizada na arquitetura, mesmo que de forma inconsciente.
Quando analisamos um edifício, sempre procuramos enxergar elementos
que conhecemos e que nos remetam à simetria, como linhas horizontais, desenhos
de caixilhos, ou estruturas, que tratam de elementos de forma regular.
No entanto, essa não é uma regra a ser seguida, e vemos muitas obras em
que o autor decide dar alguma forma orgânica ou mesmo sem referências geométricas,
ou seja, temos uma obra com uma forma irregular.
Na arquitetura modernista, a forma simples, pura e geométrica foi amplamente
difundida, especialmente pelo arquiteto Le Corbusier.
Uma forma geométrica pode se transformar de diversas formas, e com isso
dar volume e/ou identidade a um projeto. Os principais meios de transformações
das formas geométricas são: subtração de formas e adição de formas:
• Subtração de formas: quando tiramos algum elemento, seja um pedaço
da fachada ou de uma parte interna, criamos uma forma, uma nova confi guração
geométrica daquele projeto. Por exemplo, podemos extrair formas para
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 50
aberturas no edifício por conta de elementos estéticos ou mesmo por alguma
questão técnica, como no caso do edifício Pátio Malzoni, prédio corporativo
de alto padrão situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na cidade de São Paulo,
que precisou ter uma parte geométrica extraída de seu projeto, pois estava
em um terreno que tem uma importante construção histórica para a cidade
(Casa Bandeirista do Itaim Bibi, uma construção de taipa datada do século XVIII
e que foi tombada pelo Condephaat nos anos 1980). Para manter o projeto em
um dos quarteirões mais valorizados da cidade, o arquiteto optou por extrair
uma parte da forma do edifício e preservar a vista da Casa Bandeirista;
• Adição de formas: essas adições podem ser feitas como elementos estruturais,
elementos decorativos ou adição de formas do próprio projeto.
Para não termos poluição visual, é importante que testemos essas formas, de
modo que essas adições tenham coerência e conversem entre si, mesmo que
não sejam formas da mesma família, por exemplo, adição de triângulos, em
quadrados ou esferas.
Volume
Afi nal o que é volumetria? E qual a sua importância na arquitetura?
Na arquitetura, podemos transformar qualquer volume na forma de uma
edifi cação. Segundo Ching (2005), um volume sempre encerra três dimensões,
comprimento, largura e profundidade. Ou seja, pode ser qualquer sólido que
transformamos em um edifício de diferentes contornos.
O volume como elemento arquitetônico é o que marca a edifi cação e uma
construção é defi nida por seus vários volumes. Um volume pode ser resultante
da defi nição de um programa arquitetônico e da planta, mas também pode ser
estruturado quando pensamos em uma forma para a edifi cação e, nesse caso,
o volume acaba sendo o elemento principal, a estrela da edifi cação.
Os volumes devem ser pensados no projeto de maneira integrada com outros
elementos arquitetônicos, pois irá refl etir no conjunto. O papel de uma defi nição
correta do volume é tão importante quanto a distribuição interna dos ambientes
para que tenhamos equilíbrio em um projeto funcional, agradável e bonito.
Podemos perceber se é um espaço bem utilizado por meio do volume quando
não vemos excesso e nem falta de elementos que completem aquela edifi cação.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 51
A análise da forma: o que é forma?
A realidade da arquitetura é composta por elementos de forma e espaço.
Os edifícios constituem formas e volumes nas paisagens e são assim que causam
impacto e são reconhecidos. São essas formas que constituem os espaços
que conhecemos nas cidades, como praças urbanas, pátios, ruas, e a massa
arquitetônica das cidades.
Forma é uma linha fechada, que gera massa, volume. Entendemos como
forma tudo aquilo que se apresenta aos nossos sentidos, tudo que podemos
ver, ouvir e tocar, antes mesmo de fazermos qualquer refl exão sobre
aquele objeto.
Na arquitetura, a forma é a base dos edifícios, uma vez que a forma de
um edifício é sua silhueta, sua massa, sua cor e textura, seu jogo de luzes
e sombras, a disposição de vazios e cheios. A forma é algo inevitável para
arquitetura.
Então, dizer que arquitetura é forma ou função, sem perceber que são
coisas distintas é se equivocar, afinal, a forma está incluída na função e
a função está incluída na forma, já que uma não funciona sem a outra,
são complementos que juntas nos dão um espaço de qualidade funcional
e estética.
No livro Arquitetura: forma, espaço e ordem, Ching (2005) lista os principais
aspectos para identifi carmos e classifi carmos uma forma. Confi ra as propriedades
visuais e os aspectos:
• Formato: contorno característico ou confi guração da superfície de uma forma;
• Tamanho: dimensões físicas de comprimento, largura e profundidade de
uma forma;
• Cor: fenômeno de luz que pode ser entendido como a percepção que um
indivíduo tem de matiz, saturação e valor tonal. Cor é o atributo que melhor
distingue uma forma de seu ambiente e afeta o peso visual de uma forma;
• Textura: qualidade visual e tátil de percepção de uma superfície. A textura
também determina o grau que a superfície absorve ou refl ete uma cor;
• Contorno: assume-se como a principal característica distintiva nas formas.
O contorno resulta confi guração específi ca das superfícies e arestas
das formas.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 52
Elementos arquitetônicos para a forma
Para defi nirmos a forma arquitetônica num projeto, precisamos incorporar
alguns elementos. Os principais elementos que determinam o ritmo arquitetônico
são categorizados em ritmo, continuidade e hierarquia.
Ritmo
O ritmo é um recurso muito utilizado para a organização de formas e espaços. Ele
se refere a qualquer movimento caracterizado por uma repetição que pode formar
uma composição dinâmica na fachada ou em algum volume. O ritmo é muito utilizado
em composições estruturais que podem causar um movimento à fachada.
Temos algumas formas de ritmo na arquitetura:
• Ritmo regular: os elementos se repetem de forma idêntica;
• Ritmo irregular: os elementos não são exatamente iguais, mas vemos
um padrão de repetição, com pequenas alterações, como espaçamento, tamanho
ou forma;
• Ritmo em crescimento ou gradação: os elementos se alteram com o aumento
gradual, visível e de forma proposital de alguma característica, como
um edifício que mantém o padrão, mas vai aumentando conforme sobem os
andares ou mesmo detalhes de caixilhos.
Continuidade
Como já vimos na teoria da Gestalt, a continuidade é um importante fator
para uma melhor percepção visual do edifício, pois estabelece a melhor forma
para nossos olhos.
Na arquitetura, a continuidade tem inúmeros exemplos, como estádios de
futebol e a arquitetura de um edifício que, quando vistos, são entendidos como
um único elemento visual, contínuo e de fácil entendimento.
Atualmente, a continuidade tem sido um elemento muito utilizado na decoração
de interiores de edifi cações residenciais. Essa continuidade se dá no
projeto em que priorizamos a visibilidade de todos os ambientes com poucas
barreiras visuais como paredes ou mobiliário. O uso de mesmo material de acabamento
de piso e cores também dá o aspecto de continuidade de ambientes.
Hierarquia
A hierarquia é a importância de um elemento em comparação a outros, e
ela serve para aplicarmos notoriedade em algum volume, elemento arquitetô-
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 53
nico ou fachada da edifi cação. Esse elemento pode ser ressaltado por meio de
sua forma, que pode se sobressair ao edifício, sua localização, tamanho ou um
elemento de acabamento, como cor ou textura.
Usamos a hierarquia para ressaltar algum elemento em nosso projeto,
quando queremos que ele apareça mais que os demais elementos.
Elementos formais e não formais
Vimos, então, que existem elementos formais e não formais que defi nem
um edifício ou um espaço urbano. Consideramos como elementos formais:
linha, simetria, ritmo, hierarquia, limite, texturas, cor e eixo. Assim, elementos
formais são tudo o que podemos ver de forma simples e clara nas edifi
cações: podemos enxergar linhas, simetria, limite, cores, texturas, e tudo isso
dá a forma do edifício.
Os elementos não formais são: marca/territorialidade, oposição, ponto
de referência, transparência, uso, luz/sombra, convite e percurso visual.
São os elementos não formais que tornam os espaços ou edifícios únicos.
Esses elementos não formais são o modo como o espaço ou a edifi cação
são vistos e incorporados no meio urbano:
• Marca/Territorialidade: marca é um conjunto de características próprias
que um determinado espaço ou edifício possui, e isso lhe confere exclusividade
e diferenciação dos outros, tornando-o único, mesmo no meio de tantos edifícios
parecidos;
• Oposição: confronto de duas coisas ou dois edifícios que estão frente a frente
um do outro e devem ser considerados no desenvolvimento daquela forma;
• Ponto de referência: pode ser um objeto ou um local que se torna referência
perante àquele local. Nesse caso, podemos entender o edifício objeto do
projeto como sendo um ponto de referência para o local;
• Transparência: importante elemento a ser considerado, pois a transparência
pode ser entendida como “ver além” do edifício, ver através dele o resto
dos elementos da cidade ou do local onde está inserido. Podemos usar o elemento
transparência com materiais de acabamento, como vidros ou aberturas,
como no exemplo do edifício Pátio Malzoni, onde era preciso dar transparência
para que um elemento importante da cidade fosse visto;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 54
• Uso: é o que defi ne o edifício ou o lugar, pois existem diferentes usos que
podem ser dados para o local, por exemplo, um mesmo edifício com ambos os
usos residencial e comercial deve ser pensado de forma diferente em relação a
acessos, visuais, entre outros elementos;
• Luz/sombra: elemento fundamental para um espaço projetado, pois defi -
ne formas, cores, texturas, ressalta ou esconde elementos;
• Convite: forma como queremos que o usuário conheça o espaço ou edifício,
e como chamamos ele para adentrar naquele espaço. No caso de edifícios,
esse convite pode ser feito através de aberturas generosas no edifício de caminhos
que levem até a entrada. No caso de espaços urbanos, podemos ressaltar
isso com bons acessos e caminhos que convidem o pedestre;
• Percurso visual: é o caminho que fazemos pelo espaço e pelo edifício, é
como o enxergamos, sendo que ele é dotado de nossas referências e conhecimentos
anteriores, dessa forma, difi cilmente o percurso visual será idêntico
para mais de uma pessoa.
Proporção e escala
Proporções e escalas em arquitetura são conceitos diferentes, mas devem
andar juntas, afi nal, a arquitetura é feita para ser habitada pelo ser humano.
Em arquitetura, proporção é uma relação matemática de igualdade entre razões.
A noção de proporção áurea foi muito utilizada pela arquitetura no estudo
do corpo humano e como ele se adequaria aos ambientes.
A proporção áurea tem um sentido de simetria e foi entendido como conceito
de beleza na arquitetura durante séculos. A primeira vez que ouvimos falar desse
termo foi na Grécia Antiga com a construção do Parthenon, mas também foi muito
utilizada na arquitetura gótica, estando presente na catedral Notre-Dame, de Paris,
na França. A proporção áurea avançou séculos e chegou até a arquitetura moderna,
quando Le Corbusier, na década de 1940, criou um sistema de proporções chamado
modulor. O sistema projetava a proporção de alturas baseada na proporção áurea.
Utilizamos até hoje a proporção áurea, mesmo que inconscientemente,
quando projetamos fachadas e atribuímos tamanhos proporcionais a janelas,
portas, e outros elementos, de modo que causem um conjunto visualmente
agradável e harmônico.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 55
Mas, e quando um arquiteto fala de escala, o que ele quer dizer?
Na arquitetura, a escala pode ser entendida do seguinte modo: o primeiro é
a escala cartográfica, que nada mais é que o sistema de proporção de redução
ou ampliação de um objeto ou edificação para caber na folha de um desenho,
ou seja, um valor empregado num desenho para representar o tamanho real
dele. Mas e em relação à escala do projeto? O que seria isso?
O segundo modo que podemos compreender a escala é quando falamos de
uma relação entre as medidas de um edifício em relação ao ser humano que
irá ocupar aquele espaço.
Quando projetamos um espaço, precisamos analisar como ele será para o
ser humano que irá utilizar aquele espaço. Qual impressão queremos passar? É
de aconchego? É de monumentalidade? De espaço aberto? O modo como o ser
humano irá valer-se daquele ambiente, seja como habitação, trabalho ou lazer,
e a sensação que queremos dar para o ambiente são itens que determinarão
as formas e alturas de um espaço projetado.
Muitas vezes, para conseguirmos pensar a ideia de proporção e tamanho
do espaço, representamos uma forma em escala humana, geralmente nos cortes
e elevações para que tenhamos a real dimensão do projetado, principalmente
em relação a alturas.
No caso de uma residência, quando pensamos em escala de projeto,
pensamos em ambientes com sensação de aconchego e bem estar, com
ambientes organizados e agradáveis, e para conseguir essa sensação podemos
utilizar algumas regras como pé direito agradável, ou seja, projetado
em uma altura que não seja baixa o suficiente para a pessoa bater a cabeça
ou que dê sensação de sufocamento, nem em uma altura
em que a pessoa se sinta pequena, ou também ambientes
com aberturas externas de tamanho adequado, que possam
proporcionar luz e ventilação, evitando tanta
compartimentação para se ter a sensação
de ambientes abertos e maiores. Muitos
desses recursos são utilizados também
no design de interiores, com a inclusão
de mobiliários ou cores que proporcionem
bem estar.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 56
Em edifícios corporativos, comerciais ou institucionais, nem sempre queremos
causar essas mesmas sensações, às vezes queremos ter um monumento
ou impactar de alguma forma. Por exemplo, no Renascimento, as igrejas tinham
proporções gigantescas com o pé direito altíssimo e ambientes muito
grandes, e isso era feito de forma proposital, principalmente a altura do pé
direito, pois a intenção era que o ser humano se sentisse inferior à divindade.
Quando falamos de escala e proporção, falamos de adequar o espaço para
o uso pretendido, influenciando diretamente na forma e como essa edificação
será vista no espaço, pois quando a diretriz do projeto é que ele cause impacto,
muitas vezes a proporção em relação ao ser humano pode ser desconsiderada
ou pensada de forma diferente, como, por exemplo, no Auditório Ibirapuera,
na cidade de São Paulo.
O Auditório Ibirapuera, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, é um belo
exemplo do que falamos acima, pois, de fora, vimos a forma de um grande trapézio
branco, que contrasta com a paisagem que está inserido, um parque com
muito verde no meio da cidade. Esse elemento branco no meio parque é uma
edificação de grandes proporções e escala de monumento, no entanto, quando
adentramos o espaço, vemos todo o desenvolvimento do programa adequado
para o uso de auditório, com rampas de circulação e o ambiente para os eventos.
Dentro desses espaços, podemos ver que a escala utilizada é para o uso do
ser humano e que mantém uma sensação agradável, ou seja, de fora vimos a
priorização da forma definida pelo arquiteto com proporções de monumento,
e por dentro vemos um ambiente que atende o uso pretendido para o local.
Figura 1. Auditório Ibirapuera, projetado por Oscar Niemeyer. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 16/07/2020.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 57
Já na Figura 2 podemos ver o corte do Auditório Ibirapuera, e nele observamos
a representação da escala humana no desenho e como essa escala
foi considerada para esse projeto, onde temos o uso do auditório com alturas
de plateia para uma boa visualização do palco e defi nição de alturas de
mezaninos técnicos, com a escala adequada para que o trabalho possa ser
feito com conforto.
Figura 2. Corte do Auditório Ibirapuera. Fonte: Auditório Ibirapuera. Acesso em: 15/07/2020.
Percepção visual
Todos esses elementos da forma, além de outros, como posição e orientação,
são vistas e analisadas a partir do ponto de observação do indivíduo,
e segundo João Gomes Filho, no livro Gestalt do objeto: sistema de leitura visual
da forma, de 2008, o que acontece no cérebro não é igual ao que acontece nos
nossos olhos. O nosso cérebro entende as formas como um todo, de forma global
e unifi cada e não em partes isoladas. Para vermos essas formas de maneira
isolada é preciso prestar atenção em cada detalhe.
As formas podem apresentar variação dependendo do ponto de vista do indivíduo,
uma alteração de ângulo ou perspectiva pode nos dar diferentes visões
de uma mesma forma. Além do ponto de vista, a incidência de luz, cor e campo
visual onde essa forma nos encontra pode nos dar uma outra interpretação, e
é isso que chamamos de percepção visual. É pela percepção que cada um interpreta
a forma que está vendo, e assim, algumas formas agradam e outras não.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 58
Vamos conhecer as oito leis da escola Gestalt, escola alemã de psicologia
experimental, e como elas criaram o embasamento para o estudo da leitura
visual e nos ajudam a construir imagens plásticas dotadas de pregnância:
CITANDO
“A Gestalt é uma escola de psicologia experimental. Considera-se que Christian
von Ehrenfels, filósofo austríaco do século XIX, foi o precursor da psicologia
da Gestalt. Mais tarde, por volta de 1910, teve seu início mais efetivo
por meio de três nomes: Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka, da
Universidade de Frankfurt. O movimento gestaltista atuou principalmente no
campo da teoria da forma, com contribuição relevante aos estudos da percepção,
linguagem, inteligência, aprendizagem, memória, motivação, conduta
exploratória e dinâmica de grupos sociais” (GOMES FILHO, 2008, p. 15).
Pregnância da forma
A pregnância da forma é a lei básica da Gestalt, e diz que a construção da forma
deve possuir uma estrutura simples, equilibrada, homogênea e regular. A forma
deve ter qualidade, para que haja facilidade para percebemos as figuras. Essa
qualidade está vinculada à forma, cor, textura e outras características que fazem
o observador captar a configuração de maneira mais rápida e simples. Quanto
maior a pregnância, maior é a facilidade que o ser humano assimila a figura.
Na Figura 3 temos o Congresso Nacional, em Brasília, projeto de Oscar Niemeyer,
em que temos formas geométricas e simples que se destacam na paisagem
e são de fácil compreensão.
Figura 3. Congresso Nacional, em Brasília, no Distrito Federal, projetado por Oscar Niemeyer. Fonte: Shutterstock.
Acesso em: 16/07/2020.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 59
Unidade
Consiste em verificar a percepção de um elemento ou uma obra como um
todo. Sendo assim, uma unidade é percebida como um elemento único que
pode se destacar por sua forma peculiar ou extensiva.
O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) é um belo exemplo
de unidade, pois vemos a forma única que se destaca na paisagem.
Figura 4. MASP, projetado por Lina Bo Bardi. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 16/07/2020.
Segregação
Capacidade perceptiva de isolar, evidenciar ou identificar objetos, ainda que
sobrepostos, dentro de uma composição. Isso acontece por causa da variação
estética (cor, textura, sombra, brilho etc.) que um elemento possui em relação
ao outro. É possível destacar várias formas na obra e, ao contrário da unidade,
percebe-se geometrias diferentes muito mais destacadas, como da fachada do
Sesc Pompéia, em São Paulo, projetado por Lina Bo Bardi.
Figura 5. Sesc Pompéia, em São Paulo, projetado por Lina Bo Bardi. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 16/07/2020.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 60
Unificação
É a partir da capacidade de unificação que conseguimos perceber as unidades.
Ela fala da nossa propensão a interpretar certos elementos como sendo
de um mesmo grupo, possibilitando a percepção de unidades complexas, compostas
de vários elementos. Na Figura 6 vemos a prefeitura de Londres, cujas
janelas circundam um eixo, dando a sensação de unificação.
Figura 6. Prefeitura de Londres, projetada por Norman Foster. Fonte: Adobe Stock. Acesso em: 16/07/2020.
Figura 7. Cobogó em edifícios em Brasília. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 16/07/2020.
Semelhança
Características visuais idênticas ou próximas agrupadas em uma mesma
unidade, como no exemplo da Figura 7, onde vemos a aplicação de cobogó, que
são elementos separados que juntos têm a aparência de uma unidade.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 61
Proximidade
É a interpretação de elementos próximos como sendo do mesmo grupo.
Essa capacidade de interpretação, juntamente à semelhança, facilitam a interpretação
da forma, como no Palácio do Itamaraty, onde as colunas do edifício
dão a impressão de serem um elemento único.
Figura 8. Palácio do Itamaraty, em Brasília, projetado por Oscar Niemeyer. Fonte: Shutterstock. Acesso em:
16/07/2020.
Continuidade
Preferência por formas sem interrupções, garantindo fluidez e facilitando
para que a mente preveja o movimento da forma. Os detalhes que mantêm
um padrão ou uma direção tendem a ser reunidos, resultando em um modelo
único sem interrupção.
A arquiteta iraquiana Zaha Hadid foi uma grande expoente desse fundamento,
adotando o princípio da continuidade em suas obras, conforme podemos
ver na Figura 9, que mostra o Centro Heydar Aliyev, localizado em Baku,
capital do Azerbaijão.
Figura 9. Centro Heydar Aliyev, localizado em Baku, Azerbaijão, e projetado por Zaha Hadid. Fonte: Shutterstock.
Acesso em: 16/07/2020.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 62
Fechamento
A mente acrescenta os elementos em falta para completar uma fi gura, nesse
caso, a composição de um projeto. Quando a imagem tem continuidade fl uida,
podemos facilmente fazer o fechamento visual de uma imagem vazada e
assim conceder a ela um signifi cado, como no exemplo da Figura 10, onde é
fácil acrescentarmos elementos para fechar o projeto de Burle Marx.
Figura 10. Praça dos Cristais, em Brasília, projetado por Burle Marx. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 16/07/2020.
Espaço arquitetônico
Em arquitetura, entendemos o espaço, no sentido urbano, como sendo o lugar
que foi modifi cado pelas edifi cações que estão ali. Também o compreendemos
como um lugar modifi cado pelo projeto, o objeto projetado.
Nosso principal objetivo como arquitetos é de transformar espaços comuns
em espaços de qualidade, sejam eles urbanos, de edifi cações ou interiores.
Um espaço arquitetônico, quando bem projetado, é identifi cado assim que o
adentramos, pois vimos que ele foi pensado para aquele local, para aquela fi nalidade
e para aquele usuário.
Os espaços devem ser pensados e projetados de forma única, adequando a
necessidade do usuário com a localização, considerando sua topografi a, clima, local
de inserção e o uso pretendido, sendo assim, nunca teremos espaços idênticos,
podemos e devemos usar referências de projetos semelhantes, mas aquele espaço
deve ser único.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 63
Um espaço arquitetônico também pode ser defi nido com a junção de massa
e volume e o conceito de espaço pode ser desde o edifício e o seu entorno, até os
espaços internos de cada edifi cação.
Paisagem urbana
Afi nal, o que é paisagem urbana?
A paisagem é a representação da condição humana e da mudança de tempo
no espaço, e nela fi cam registrados os processos da natureza e as ações humanas,
cujo ambiente vai se alterando na medida em que esses processos e ações
deixam suas marcas.
De acordo com Gordon Cullen, no livro Paisagem urbana, edição brasileira
de 1971, a “paisagem urbana é a arte de tornar coerente e visualmente organizado
o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem o ambiente
urbano”. Podemos confi rmar isso conforme andamos nas ruas e prestamos
atenção em tantos detalhes e como eles se modifi cam dependendo do ponto
de vista de observador.
Quantas vezes passamos por um mesmo lugar de carro ou mesmo a
pé de forma apressada, automática e sem prestar atenção e deixamos
passar os detalhes? Se fizermos o mesmo percurso prestando atenção no
caminho e na paisagem, podemos identificar vários detalhes que passam
despercebidos no dia a dia, mas que fazem toda a diferença para aquela
paisagem.
No estudo de paisagem urbana não consideramos somente os aspectos
formais e concretos existentes, como edifi cações e elementos do desenho urbano,
mas também o processo de percepção de cada indivíduo sobre aquela
paisagem, portanto, uma paisagem urbana é feita de elementos concretos,
mas também da percepção de quem usa esse espaço.
ASSISTA
Assista ao videoclipe da música Open your eyes, da banda Snow Patrol.
Esse vídeo retrata as diversas perspectivas que podemos ter da cidade
ao andarmos por ela, seja de carro, bicicleta ou mesmo a pé. Podemos
perceber o quanto o cenário vai mudando conforme o carro vai avançando
pelas ruas de Paris.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 64
Impacto da forma na paisagem urbana
Uma edifi cação na paisagem pode ter um destaque diferenciado por sua
forma e como se destaca na paisagem, que pode ser um ícone diferente de
tudo que se tem no entorno, ou um edifício que mantém o padrão da região
onde se encontra.
Quando fazemos a implantação de um edifício em um terreno já devemos
pensar em como serão as vistas e interface com o entorno, como esse futuro
edifício irá se relacionar com a vizinhança, e por isso devem ser consideradas a
topografi a do local, o uso dos vizinhos, se é residencial, industrial, corporativo,
comercial, os elementos urbanos que possam causar interferência – mesmo
que “apenas” visual – no projeto, tais como pontes ou viadutos, e o estilo de
projeto que se propõe para aquele local.
Devemos pensar em como será a sua relação com a rua, com os acesos e
aberturas, além de luzes e sombras. O projeto deverá considerar o entorno para
se impor ou se integrar à paisagem existente no local, por isso a sua forma deve
ser pensada e não ser somente como um produto da divisão interna do edifício.
Em algumas cidades do mundo, como em Nova Iorque, nos Estados Unidos,
existem muitos prédios antigos que são integrados a novos, altos e modernos edifícios,
causando uma impressão de modernidade e crescimento para a cidade. A
construção de edifícios novos e modernos, que inspiram alta tecnologia, é uma
forma de causar impacto e destaque em relação a outros edifícios que já existem.
Alguns edifícios tornam-se marcos para as cidades, como o MASP, que é
um edifício de forma singular, destacado da paisagem urbana da Avenida Paulista,
onde predominam grandes edifícios corporativos. Esses marcos podem
se destacar por possuírem uma forma clara e fácil de identifi car do seu plano
de fundo, como no MASP, ou mediante algum elemento que ele se destaque,
como um edifício novo em uma cidade velha ou algum elemento arquitetônico
de importância.
Um bom exemplo de referência na arquitetura é Brasília, capital do Brasil,
projetada por Oscar Niemeyer no fi m dos anos 1950 com o objetivo de se tornar
um marco da arquitetura por meio de suas formas.
A capital federal se destaca em meio à paisagem do planalto central, onde
predominava a paisagem do cerrado e suas construções simples. O projeto foi
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 65
encomendado pelo então presidente Juscelino Kubitschek para o amigo e jovem
arquiteto Oscar Niemeyer, que havia feito o conjunto arquitetônico da Pampulha,
em Belo Horizonte, quando o então presidente foi governador do Estado.
O desenho da área urbana de Brasília, especialmente do Eixo Monumental
do Plano Piloto, foi pensado e projetado para que fosse um marco naquela
cidade e se é referência pelas características geográficas existentes no local e
as formas que foram adotadas no projeto.
Brasília é apenas um dos exemplos de como a forma de uma edificação
pode influenciar na paisagem urbana e transformá-la. No entanto, sabemos
que cada cidade possui uma paisagem específica, com sua topografia específica
e entornos. Dessa forma, entendemos a paisagem urbana como resultado
de seu entorno e resultante da percepção do observador.
Além de serem marcos, as edificações podem causar impacto na paisagem
urbana de diversas formas, como:
• Caos visual: quando um edifício é muito diferente de todos os seus vizinhos,
é natural que ele cause impacto na paisagem e muitas vezes um caos
visual. Temos como exemplo o que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos,
onde vimos uma grande mistura de estilos e réplicas de monumentos do
mundo inteiro que juntas funcionam e dão um aspecto único para a cidade;
• Diálogo com as construções próximas: procuramos manter a identidade
do entorno, buscando fazer edificações que dialoguem com a vizinhança e
mantenham o padrão. Nesse caso, a edificação não causa impacto no entorno;
• Reinterpretação das construções do entorno: à primeira vista, as edificações
não têm nenhum elemento que dialogue com as edificações vizinhas,
no entanto, após olhar de forma mais detalhada, percebemos alguns detalhes
que nos remetem à vizinhança. Esses detalhes podem ser algumas linhas de
desenho, o estilo de projeto, o mesmo gabarito, ou por meio dos visuais. Podemos
ver como exemplo a cidade de Nova Iorque, onde temos edifícios muito
modernos e novos que dialogam com as construções históricas existentes.
DICA
No livro Morte e vida de grandes cidades, Jane Jacobs (2011) se baseia em questionar
o desenvolvimento do planejamento urbano nas cidades e os princípios de
reurbanização em contrapartida às questões de natureza socioeconômicas.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 66
Projetos na paisagem urbana
Quando vemos uma edifi cação no meio da paisagem urbana, a primeira coisa
que enxergamos é o edifício como um todo e como ele está inserido naquele
entorno, qual infl uência e impacto está causando, se ele está se destacando no
meio daquela paisagem. No primeiro momento não vemos detalhes como estruturas
ou acabamentos e sim como aquela construção se comporta na paisagem.
Alguns importantes arquitetos adotam a forma do edifício como premissa
principal para o conceito do projeto e a partir daí defi nem todo o seu partido.
Vamos conhecer alguns importantes arquitetos que trabalham dessa forma
e como a forma aliada à plasticidade é aplicada em suas obras.
Oscar Niemeyer
O arquiteto Oscar Niemeyer (1907–2012) foi um grande expoente do uso das
formas em suas obras, ele fazia uso de formas geométricas, curvas e a forma livre.
Em suas obras, Niemeyer sempre teve uma preocupação excessiva com a
forma e, portanto, com a expressão plástica em projetos, muitas vezes ignorando
a função do edifício. Para o arquiteto, os edifícios públicos deveriam se
diferenciar dos edifícios comuns, por isso, muitas vezes, as obras do arquiteto
são como obras de arte no meio da cidade. Niemeyer usou sua infl uência clássica
e conseguiu ousar, dar liberdade à sua criação.
Mas a forma abstrata e solta é o que mais o atrai e daí surge, primeiramente,
Pampulha, com suas formas diferentes e abóbadas variadas. A arquitetura
vira contestação e desafi o: uma forma contemporânea.
Figura 11. Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 16/07/2020.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 67
Frank Lloyd Wright
Frank Lloyd Wright (1867 –1959) foi um importante arquiteto americano que
pensava à frente do seu tempo. Ele introduziu em seus trabalhos o pensamento
de que forma e função são uma coisa única, principalmente em relação à
natureza, originando a chamada arquitetura orgânica.
Uma importante obra de Wright que expressa sua preocupação com a forma
é o Museu Solomon R. Guggenheim, em Nova Iorque, onde Wright procurou
utilizar muitas formas geométricas, como círculos, arcos, quadrados e
triângulos, que estão reunidos e juntos nessa forma única.
Figura 12. Museu Guggenheim, em Nova Iorque. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 16/07/2020.
Frank Gehry
Frank Owen Gehry é um arquiteto canadense que usa as formas como
oposição ao desenho linear. Esse movimento que preza pela forma abstrata e
desconstruída é chamado de arquitetura desconstrutivista. Gehry sempre
experimenta formas diferentes ao usar linhas curvas e formatos inusitados
que fogem do lugar comum. Deste modo, ele acaba compondo uma arquitetura
escultural que preza pela forma em primeiro plano. Muitos dos seus projetos
têm formas complexas, elementos ousados e controversos.
Frank Gehry pensa e começa seu processo de criação pela forma que ele
quer dar para o edifício. O arquiteto inicia cada um de seus projetos com croquis
abstratos e é só a partir daí que começa seu processo de criação, sempre
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 68
prezando e priorizando a forma do edifício, por isso a próxima etapa de trabalho
é feita mediante modelos tridimensionais. Esses primeiros modelos são
maquetes físicas feitas de papel e posteriormente de madeira para que ele
possa entender como aquele croqui inicial se comporta em três dimensões. O
projeto só é enviado para o computador após a defi nição da forma principal.
Com a maquete digital, ele começa a avaliar os traços e curvas de cada projeto.
Alguns dos edifícios mais emblemáticos do século XX que remetem ao desconstrutivismo
foram projetados por Frank O. Gehry, e como resultado mudaram
a história da arquitetura em todo o mundo.
Figura 13. Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, nos Estado Unidos. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 16/07/2020.
ASSISTA
Assista ao documentário Esboços de Frank Gehry, do diretor Sydney
Pollack, de 2006, que apresenta uma série de entrevistas que abordam a
visão da arquitetura e o enfoque particular deste renomado arquiteto, que
criou vários dos edifícios mais emblemáticos construídos na última década.
Frank Gehry gosta de fazer croquis, e assim começou seu trabalho
como arquiteto. Esta paixão pelo desenho guiou o diretor Sydney Pollack
na escolha do estilo adotado para realizar seu documentário.
Zaha Hadid
A arquiteta iraquiana Zaha Hadid fazia parte do movimento desconstrutivista.
Suas obras são elegantes e ao mesmo tempo complexas, feitas de linhas futuristas,
formas limpas e puras, bem como a fragmentação do desenho arquitetônico.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 69
O processo de trabalho de Zaha Hadid começava a partir da observação da
natureza e das pessoas que utilizariam o espaço, procurando aliar a forma e a
função em seus projetos.
O uso de curvas e de formas sinuosas se tornou um de seus principais traços
no decorrer de sua carreira, e entre seus principais projetos está o Centro
Aquático de Londres, que foi feito especialmente para as Olimpíadas de 2012.
Para elaborar o projeto, Zaha Hadid se inspirou na fl uidez da água, criando desenhos
com sua marca registrada: as curvas.
Figura 14. Centro Aquático de Londres, Inglaterra. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 16/07/2020.
Plasticidade
A plasticidade é uma importante característica no mundo das artes, é o modo
como personalizamos e modelamos elementos que utilizamos em todas as formas
de expressões das artes, como artes plásticas, música, literatura e arquitetura.
O termo plasticidade vem de plástico, funcional, que se adapta de forma
fácil e de acordo com a necessidade do artista. Usamos a plasticidade para
que possamos moldar os elementos para dar forma e sentido ao elemento
que queremos.
A plasticidade é o que dá liberdade à forma, pois é mediante a plasticidade
que podemos modelar as formas propostas para a edifi cação, sendo, portanto,
a presença da arte na arquitetura, onde podemos transformar uma simples
edifi cação num monumento.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 70
Plasticidade na arquitetura
A plasticidade da arquitetura evidencia-se na capacidade de dar volumetria
e forma à edifi cação, mantendo o conceito criado para aquele projeto.
Para chegarmos à plasticidade concebida para aquele projeto, precisamos
experimentar diversas formas, considerando volumes, formas, luzes, sombras,
aberturas até chegarmos no modelo ideal para o projeto. Devemos também
aliar a plasticidade à função do edifício.
Com um modelo ideal de plasticidade que desejamos chegar em determinado
projeto, devemos aliá-la à maleabilidade dos materiais para que possa
assumir a forma pretendida.
A chegada do concreto armado junto à arquitetura modernista possibilitou
grande avanço em plasticidade de grandes obras, como no caso de Brasília,
onde o arquiteto Oscar Niemeyer abusou do uso do material em seus projetos
para dar forma e movimento para as obras da capital federal.
Atualmente, temos uma grande oferta de materiais que podemos usar para
dar forma para os edifícios. Podemos usar materiais metálicos, concreto, madeiras
e até mesmo plásticos.
Quando vemos grandes obras arquitetônicas que prezam pela forma, muitas
vezes o arquiteto não está pensando na função daquele edifício e sim em
fazer uma escultura para o local. Nesses casos, a plasticidade é muito mais
importante para aquele projeto do que sua função.
A plasticidade das obras de Oscar Neimeyer
Na arquitetura de Oscar Niemeyer é evidente a presença marcante do
sistema estrutural na defi nição da forma e, assim, no resultado plástico da
obra construída.
No projeto da capital federal, especialmente nos palácios do governo, Niemeyer
usou principalmente a tecnologia de concreto armado para que pudesse
usar as formas que propunha para os edifícios.
Os projetos dos palácios são um ótimo exemplo de como é a relação da forma
arquitetônica com os sistemas estruturais e materiais adotados para que o
projeto alcance a forma concebida pelo arquiteto.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 71
Sintetizando
Aprendemos o que são as formas, quais são seus elementos básicos e como
caracterizá-los. Vimos o que é volume e como acontece a percepção visual dos elementos
arquitetônicos existentes, como é a maneira que eles são lidos no espaço.
Aprendemos a diferença entre proporção e escala em arquitetura e como
aplicar a projetos, vimos o que é espaço e paisagem urbana e qual a sua importância
para as obras. Também acompanhamos alguns exemplos de arquitetos
que trabalharam a forma como premissa de projeto e qual o impacto das obras
na cidade e no seu entorno direto.
Por fim, vimos a importância da plasticidade e como o uso de materiais
corretos pode ser importante para um projeto com a plasticidade pretendida.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 72
Referências bibliográficas
ANACONI, G. L. Frank Lloyd Wright: o gênio que todo arquiteto deveria se inspirar.
Portal 44 Arquitetura, Matão, 06 ago. 2018. Disponível em: <http://44arquitetura.
com.br/2018/08/frank-lloyd-wright-inspiracao/>. Acesso em: 15 jul. 2020.
AUDITÓRIO IBIRAPUERA. O prédio: ícone da arquitetura paulistana e mundial.
Mapas e plantas. São Paulo, [s.d.]. Disponível em: <http://auditorioibirapuera.
com.br/v2019/wp-content/themes/auditorio2019/assets/mapas-e-plantas-auditorio-
ibirapuera.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2020.
BRAIDA, F. Ordem e composição da forma arquitetônica. Aula do curso de Arquitetura.
UFJF, Juíz de Fora, 2018, 55 slides. Disponível em: <https://www.ufjf.
br/estudodaforma/files/2013/05/AULA-05.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2020.
CHING, F. D. K. Princípios de ordem. In: Arquitetura: forma, espaço e ordem. 4.
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
CULLEN, G. Paisagem urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1971.
DE NEGRI, V. Percepção urbana. Referência Arquitetura, Canoas, 11 jan. 2016.
Disponível em: <https://refarq.com/2016/01/11/percepcao-urbana/>. Acesso
em: 15 jul. 2020.
DE PAULA, H. Gestalt: um resumo das oito leis da psicologia da forma. HellerdePaula,
São Paulo, 23 fev. 2015. Disponível em: <https://www.hellerdepaula.
com.br/gestalt/>. Acesso em: 15 jul. 2020.
ESBOÇOS de Frank Gehry. Direção de Sydney Pollack. Nova Iorque: WNET Channel
13 New York; Londres: Eagle Rock Entertainment, 2005. (83 min.), son., color.
FIGUEIREDO, E. Volumetria? Descubra agora o que é e para que serve! Homify,
[s.l.], 04 fev. 2018. Disponível em: <https://www.homify.pt/livros_de_
ideias/4826798/volumetria-descubra-agora-o-que-e-e-para-que-serve>. Acesso
em: 15 jul. 2020.
GALAMBA, A. Gestalt na arquitetura. expoLAB, Recife, 26 jan. 2018. Disponível
em: <https://expolab.com.br/blog/2018/01/26/gestalt-na-arquitetura/>. Acesso
em: 15 jul. 2020.
GOMES FILHO, J. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 8. ed.
rev. e ampl. São Paulo: Escrituras Editora, 2008.
JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. 3. ed. São Paulo: WMF Martins
Fontes, 2011.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 73
LEMOS, C. O que é a arquitetura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 2003.
OLIVEIRA, J. P.; ANJOS, F. A.; LEITE, F. C. L. O potencial da paisagem urbana como
atratividade turística: um estudo sobre a paisagem de Brasília-DF. Interações,
Campo Grande, v. 9, n. 2, p. 159-69, jul./dez. 2008. Disponível em: <https://doi.
org/10.1590/S1518-70122008000200005>. Acesso em: 15 jul. 2020.
OPEN your eyes. Música de Snow Patrol. Londres: Polydor Ltd., 2006. (5min.
50s.), son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fk1Q9y-
6VVy0. Acesso em: 24/07/2020.
PINHAL, P. O que é espaço arquitetônico? Colégio de Arquitetos, Mogi das
Cruzes, 14 fev. 2013. Disponível em: <http://www.colegiodearquitetos.com.br/
dicionario/2013/02/o-que-e-espaco-arquitetonico/>. Acesso em: 15 jul. 2020.
PORTAL 44 ARQUITETURA. Proporção áurea – dos gregos à arquitetura contemporânea.
Matão, 08 ago. 2018. Disponível em: <http://44arquitetura.com.
br/2018/08/proporcao-aurea-contemporanea/>. Acesso em: 15 jul. 2020.
REIS, A. T. Repertório, análise e síntese: uma introdução ao projeto arquitetônico.
Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2002.
SENPLO. Frank Gehry: A justaposição entre as formas rígidas e fluidas. Farroupilha,
12 mar. 2019. Disponível em: <https://senplo.com.br/frank-gehry/>.
Acesso em: 15 jul. 2020.
TAGLIARI, A. Frank Lloyd Wright: princípio, espaço e forma na arquitetura residencial.
Entenda Antes, Santo Antônio da Platina, 01 out. 2018. Disponível em: <https://
entendaantes.com.br/perfil-frank-lloyd-wright/>. Acesso em: 15 jul. 2020.
WONG, W. Princípios de forma e desenho. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 74
PROJETO DE
ARQUITETURA
RESIDENCIAL
3
UNIDADE
Objetivos da unidade
Tópicos de estudo
Aprender a fazer o estudo preliminar de documentações iniciais do terreno;
Aprender a analisar a legislação incidente no terreno;
Aprender como fazer um bom levantamento no terreno;
Conhecer o programa de necessidades do cliente;
Aprender quais itens devem fazer parte do planejamento do projeto;
Aprender a definir que projetistas complementares são necessários;
Conhecer as etapas de projeto e quais são as interfaces entre os projetistas;
Conhecer o processo de projeto e seu andamento até a fase final.
Projeto de arquitetura residencial
O terreno
Análises iniciais
Zoneamento do terreno
Visita ao terreno
Levantamento planialtimétrico
Programa de necessidades
O planejamento do projeto
O croqui e estudos preliminares
Projeto legal
Projeto executivo de arquitetura
Projeto executivo de projetos
complementares
Projeto final enviado para a obra
Compatibilização de projetos
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 76
Projeto de arquitetura residencial
Quando um arquiteto começa um projeto residencial, muitas vezes, ele está
lidando com o sonho do futuro morador, que idealizou aquele lugar por muito
tempo, criando diversas expectativas.
Para o arquiteto, aquele pode ser apenas mais um projeto. Para o cliente,
aquele será seu lar, um local de descanso, de repouso, de lazer e bem-estar. O
planejamento de cada espaço defi ne como será o seu uso e qual o sentimento
que ele irá transmitir às pessoas que estiverem nele. Cada casa deve ser única
e especial.
Sendo assim, o ponto de partida para um projeto arquitetônico é o terreno
onde ele será implantado. Nessa unidade, vamos analisar um terreno e desenvolver
o projeto em cima dele, passando por todas as etapas envolvidas.
Elaborar um projeto de arquitetura é fundamental para se elencar todas
as necessidades e desejos envolvendo residência e cliente. Com um projeto
bem desenvolvido, é possível ter uma representação bem realista do que virá
a ser a residência, contando com um nível de detalhamento que possibilita
antever problemas e antecipar soluções.
A partir do conhecimento sobre o terreno, é possível iniciar os estudos para
o desenvolvimento do projeto. Começaremos pelos estudos iniciais; passando
aos projetos complementares, como instalações hidráulica, elétrica, estrutural,
de fundações etc.; e iremos até a especifi cação e detalhamento de materiais de
acabamento que serão utilizados.
Quando temos um profi ssional de arquitetura contratado para o desenvolvimento
do projeto, devemos prezar por itens de extrema importância, como:
• Conforto: é preciso ser detalhista quanto ao conforto. Quando um cliente
procura um arquiteto para realizar o projeto de sua residência, ele busca
alguém que pense em cada detalhe da construção de um lar e tudo
que remete a isso, como aconchego, bem estar, um espaço
de descanso, um espaço de lazer e uma área de
confraternização. Além disso, os ambientes devem
ser projetados de forma que a área intima seja exclusiva,
preservada para família e separada da área
social da residência;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 77
• Forma: a forma é um item importante para o projeto. A residência deve
ter uma forma harmônica e compatível com o espaço urbano. O cliente sempre
busca algo diferenciado, que se destaque das demais casas ao redor. Não basta
projetar a divisão de ambientes internos, é preciso trabalhar nas fachadas e
volumes, com materiais e formas que se diferenciem do ordinário;
• Funcionalidade: com todos os estudos feitos, o arquiteto deve adequar as
necessidades do projeto para que atendam à função pretendida. Cada ambiente
deve cumprir sua função. Para isso, devem ser feitas setorizações e o correto
dimensionamento dos espaços. Esse é um item que deve ser bem defi nido junto
com o programa de necessidades, e validado com o cliente;
• Segurança: é de responsabilidade do arquiteto considerar todos os aspectos
do projeto, incluindo todos os projetos complementares e a segurança
e estabilidade gerais. O item de segurança da edifi cação é, muitas vezes, de
responsabilidade principal do projetista de estrutura e fundações. No entanto,
o arquiteto, sendo o coordenador das informações e projetos fi nais, também
deve pensar em detalhes e contabilizações que atendam à segurança.
O terreno
O primeiro passo para se dar início ao projeto é ter um terreno. Porém, o
que o arquiteto deve fazer quando seu cliente lhe apresentar o terreno em
que a casa deve ser construída? Começar imediatamente a projetar? Que estudos
precisam ser feitos antes disso? Quais fatores considerar? Vamos analisar
cada passo.
ASSISTA
Um exemplo interessante do projeto de arquitetura pode ser
visto no documentário Ordos 100, dirigido pelo artista chinês
Ai Weiwei. Esse é um projeto iniciado em 2008 pelos arquitetos
Herzog & De Meuron e o próprio Ai Weiwei, no qual
100 arquitetos de 27 países diferentes foram escolhidos para
desenhar uma casa em um terreno de 1000 m². Esse seria
o primeiro estágio de um plano mestre, feito por Ai Weiwei,
que incluiria 100 moradias. O fi lme documenta a participação
dos arquitetos em três visitas aos terrenos, enquanto o plano
diretor e o projeto de cada parcela se fi nalizavam.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 78
A primeira coisa que deve ser feita, assim que tiver conhecimento do terreno,
é analisar sua documentação. Os documentos principais que devem ser
solicitados para o desenvolvimento inicial do projeto são o IPTU ou ITR e a
matrícula.
O IPTU é o imposto predial territorial urbano, e se aplica a imóveis que se
localizam em uma área urbana. O ITR é o imposto sobre a propriedade territorial
rural, e se aplica a imóveis que estão localizados em uma área rural, ou
em área urbana, mas com uso rural.
Eles são documentos emitidos pela prefeitura do município local, e onde
constam dados do terreno, como endereço completo, área total do terreno,
área construída (se houver), valores a serem pagos por aquela área anualmente
à prefeitura, entre outros.
O IPTU é identificado pelo código de contribuinte ou SQL, que é formado
pelo setor, quadra e lote onde o terreno está localizado. Um setor imobiliário
é o local da cidade onde o imóvel está inserido, a quadra diz respeito ao quarteirão
e o lote ao terreno.
A Figura 1 mostra um exemplo de uma capa de IPTU da cidade de São Paulo.
Nela vemos os dados citados, indicados em vermelho. Esse será o terreno
que iremos usar para desenvolver os estudos e o desenvolvimento do projeto
residencial, nessa unidade:
Figura 1. Capa de IPTU.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 79
A matrícula é o documento de registro do imóvel cadastrado no registro
de imóveis da cidade. É na matrícula que fica indicado o tamanho do terreno,
o tamanho de área construída e seu histórico, onde há informações de quem
são os proprietários e como foram feitas as transferências entre donos desde
o terreno inicial.
Toda e qualquer alteração que tiver ocorrido no terreno, como retificação
de área, construção, demolição, venda ou qualquer outra movimentação
deve ser registrada na matrícula. A retificação de área é a alteração do espaço
de acordo com a área real. Muitas vezes, no levantamento planialtimétrico,
percebemos que o terreno tem uma área diferente da registrada na matrícula.
Nesse caso, é necessário fazer a retificação de na matrícula para que o
registro reflita a realidade.
Na matrícula, também devem ser registradas alterações de área, como
parcelamento de solo (quando se divide o terreno original em lotes menores)
e unificação (quando se une lotes).
Quanto ao histórico do terreno, devem ser registrados dados de compra,
de venda, de doação, de herança e se o terreno foi dado como forma de pagamento
ou garantia de alguma dívida. Esses dados são importantes, pois
podem inviabilizar o uso do terreno no caso de algum impedimento jurídico.
A Figura 2 mostra a matrícula do terreno que é nosso objeto do estudo.
Nela vemos os dados do imóvel, como medidas e área final:
Figura 2. Matrícula do imóvel.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 80
Como podemos observar na Figura 2, a matrícula mostra as medidas
do terreno, a área construída, e quem são os vizinhos do local. Nessa parte
inicial, temos, também, o nome do proprietário inicial e o número do contribuinte.
A matrícula é um documento jurídico que tem validade legal de 30 dias,
pois como há atualizações recorrentes, sempre é necessário que se tenha
o documento atualizado para dar entrada no processo de aprovação de um
projeto, na prefeitura.
CURIOSIDADE
A matrícula prova o real proprietário do imóvel nela especificado.
Por conter todas as alterações e atos realizados no imóvel desd e sua
criação, ela serve como um histórico. Qualquer pessoa pode soli citar
a matrícula de algum imóvel, independente de ser a proprietária dele.
Basta ir até o cartório de imóveis com o número da matrícula e fazer
a solicitação.
Análises iniciais
Feito o levantamento dos documentos iniciais do terreno, o próximo passo
do projeto é verifi car a viabilidade para estudo junto à legislação. Nesse ponto,
é necessário entender onde o lote se encontra na cidade, qual o zoneamento
envolvido nessa área e quais são as restrições de construção que incidem sobre
esse terreno. Com o número do IPTU em mãos, deve-se fazer uma pesquisa
da quadra fi scal e da zona em que o terreno está. Com a quadra fi scal em mãos,
o primeiro passo é localizar o lote e iniciar os estudos.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 81
Terreno objeto de estudo
Figura 3. Quadra fi scal.
Zoneamento do terreno
Feita a localização do lote na quadra fi scal, é necessário entender qual o
zoneamento em que ele se encontra e quais são as suas restrições de uso. Para
esse imóvel exemplo, localizado na cidade de São Paulo, é possível consultar
um site específi co da prefeitura em que essas informações estão disponíveis
para consulta pública. O processo de como obter as informações legais sobre
o terreno são:
• Acessar o mapa digital da cidade pelo site da
prefeitura;
• Pesquisar o terreno pelo endereço ou código
de contribuinte no IPTU, localizado no campo cadastro
do imóvel (084.266.0034-4, por exemplo). Os três
primeiros números indicam o setor, em seguida a quadra e, por fi m,
o lote;
• Verifi car em qual zoneamento o terreno se enquadra.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 82
Como podemos ver na Figura 4, o terreno objeto, localizado na rua Fidalga,
nº 382, Vila Madalena, São Paulo, encontra-se no zoneamento de ZM, ou seja,
zona mista. A zona mista são porções do território onde são permitidos os usos
residenciais e não residenciais, com predominância do uso residencial e densidades
demográficas baixas e médias.
Para verificar quais são as restrições para esse tipo de uso, deve-se consultar
a Lei nº 16.402, que discorre sobre o uso e ocupação do solo.
Figura 4. Mapa digital da cidade.
Fonte: SÃO PAULO, 2016. (Adaptado).
QUADRO 1. PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 83
O Quadro 1 mostra todos os parâmetros que devem ser seguidos de acordo
com a Lei nº 16.402. No terreno exemplo, em uma ZM, os parâmetros indicados
para o projeto são:
• CA (coeficiente de aproveitamento): para o coeficiente de aproveitamento
temos os índices mínimos, básicos e máximos de área que podem ser
construídos no terreno:
• CA mínimo 0,30: o índice mínimo significa que esse é o mínimo de área
que deve ser construída no terreno para que ele não seja considerado
subutilizado. No caso do terreno que estamos usando como exemplo,
que tem área de 250,00 m², a área mínima a ser construída deve ser de
75,00 m²;
• CA básico 1,0: o coeficiente básico em toda a cidade de São Paulo é 1.
Isso quer dizer que pode ser construída até 1x a área do terreno sem o
pagamento de valores adicionais de outorga onerosa. No caso do terreno
objeto do projeto, que tem área de 250,00 m², a área básica a ser
construída deve ser de 250,00 m²;
• CA máximo 2,0: o coeficiente de aproveitamento máximo é a área máxima
que pode ser construída no terreno, com o pagamento de outorga.
No caso do terreno exemplo, a área máxima que pode ser construída,
com o pagamento de outorga, é de até 500,00 m²;
• TO (taxa de ocupação): a taxa de ocupação é área máxima de projeção de
construção que o lote pode ter. No caso do terreno da rua Fidalga, o TO máximo
deve ser 85% da área do lote, pois o terreno tem área menor que 500,00 m²,
conforme indicado no Quadro 1. Sendo assim, a área máxima de projeção que
podemos ter no terreno deve ser de 212,50 m²;
• Gabarito de altura: é a altura máxima que a edificação pode alcançar, no
caso de uma ZM, o gabarito de altura máximo é 28,00 m;
• Recuos: os recuos são as distâncias que devem ser deixadas entre o perímetro
do terreno e a construção que será feita. No caso do lote localizado em ZM,
devem ser considerados recuos de frente de 5,00 m e recuos laterais e de fundos
de 3,00 m, apenas se a edificação ultrapassar o gabarito de altura em 10,00 m.
Feitas as consultas e análises legais, temos os parâmetros que devem ser
seguidos para o desenvolvimento do projeto. O próximo passo a ser dado pelo
arquiteto é fazer uma vista ao terreno.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 84
Visita ao terreno
A visita ao terreno é extremamente importante. Muitas vezes, um arquiteto
olha um terreno somente por fotos ou pela internet, já que hoje temos tecnologia
para isso. No entanto, é fundamental que se faça uma visita. Somente assim
é possível notar detalhes, como o tamanho da copa das árvores no local e ao
redor, os vizinhos, as sombras que podem incidir sobre a residência, possíveis
desníveis, conhecer a topografi a do local, ver como são os acessos, se há alguma
construção no local que deverá ser demolida, entre muitas outras coisas.
Esse é o momento de conhecer os pontos de interesse e qual a tipologia da
região, é a partir da visita inicial que se começa a idealizar o projeto e planejar
se ele será integrado ao local, ou em um ponto de referência.
Figura 5. Terreno rua Fidalga, nº 382.
Como podemos ver na Figura 5, o terreno possui uma antiga residência
que deverá ser demolida. Também é possível ver que há vizinhos (edifi cações
residenciais e um pequeno comércio) e que há interferências (algumas árvores
dentro do terreno que devem ser consideradas na hora da implantação da
nova residência).
Na visita ao terreno, é fundamental que seja feito um relatório fotográfi co,
captando detalhes do espaço e seu entorno, como acessos, equipamentos públicos,
bocas de lobo, guias rebaixadas, árvores, caixas de inspeção, entre outros.
Seguindo, vamos falar de outro documento que devemos solicitar na fase
inicial do projeto, o levantamento planialtimétrico.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 85
Levantamento planialtimétrico
O levantamento planialtimétrico é feito por um topógrafo, e tem como
objetivo fazer um desenho do terreno real. Para isso, são tiradas todas as
medidas do terreno; são consideradas as cotas de nível de altura do terreno,
das ruas e dos vizinhos; é feito o levantamento de árvores, postes e calçadas;
e tiradas as medidas das larguras de ruas e de todas as construções que
existirem no lote (incluindo outras interferências que possam existir).
É com base no levantamento planialtimétrico que os projetos devem começar
a ser desenvolvidos. Por meio dele, o arquiteto pode confi rmar se é
necessário fazer alguma movimentação no terreno, como corte de terraplanagem
ou aterro.
No levantamento planialtimétrico, o topógrafo deve confi rmar se as medidas
e áreas do terreno estão de acordo com as medidas registradas na
matrícula. Caso não estejam, deve ser feito um projeto para regularização
dessas áreas junto à prefeitura local e o cartório de registro de imóveis.
Todas as medidas podem ter diferenças de 5% para mais ou para menos
em relação a área registrada em matrícula, sem que haja necessidade de
fazer o trabalho de retifi cação em cartório.
A matrícula é o documento principal do terreno. É como se fosse a certidão
de nascimento dele. Porém, em matrículas antigas, muitas vezes, não
temos todas as medidas, ou elas não estão corretas. Por isso, é fundamental
fazer a conferência e manter a matrícula com os dados idênticos aos da
área real.
EXPLICANDO
O levantamento planialtimétrico pode ser simples ou georreferenciando,
dependendo de qual informação é necessária para a realização do projeto.
No simples, há o levantamento das medidas horizontais e alturas
de cota de nível do terreno. É uma mistura de levantamento planimétrico
(medidas de perímetros) e levantamento altimétrico (levantamento de
alturas internas). No georreferenciado, há o levantamento de medidas de
altura referenciadas em relação ao nível do mar. Na cidade de São Paulo,
estamos na cota de, aproximadamente, 750,00 m de altura em relação ao
nível do mar.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 86
Programa de necessidades
Após feito os levantamentos iniciais do terreno e dos documentos, é o momento
de levantar quais são as necessidades do cliente em relação à construção.
É importante que se faça um levantamento detalhado para que o projeto
possa atender a tudo que foi solicitado.
No caso de uma residência, é importante conhecer quais são as expectativas
dos clientes, quais os seus hobbies, se há alguma necessidade especial, entre
outras coisas. Para isso, é indicado fazer um questionário para os futuros moradores
daquela casa. Para a projeto da rua Fidalga, chegamos às especifi cações:
• Edifi cação residencial;
• Considerar CA básico 1x, ou seja, área construída de 250,00 m²;
• Manter as árvores do terreno;
• Vagas para dois carros;
• Duas suítes, uma para o casal e uma para o fi lho de quatro anos;
• Um quarto de visitas;
• Um quarto para uso como escritório;
• Um banheiro social;
• Uma sala de jantar;
• Uma sala de estar;
• Um lavabo;
• Cozinha com vista para a sala;
• Área de serviço;
• Área de lazer nos fundos, com churrasqueira, jardim e lavabo;
• Aquecimento a gás nas torneiras e chuveiros;
• Ar-condicionado nos quartos e suítes;
• Caixilhos com isolamento acústico.
O planejamento do projeto
Após a coleta de todas as informações de que já falamos, é chegado o momento
de fazer o planejamento do projeto. Esse planejamento é extremamente importante
para que se entenda todos os fl uxos, etapas, custos e prazos estimados para
o projeto.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 87
É preciso começar listando todos os projetos complementares que serão
necessários para o desenvolvimento do projeto. Com isso, é possível estimar
os custos do projeto e da obra, assim como estimar os prazos. É importante
conversar com o cliente nessa etapa, a fim de entender suas necessidades e
possibilidades a respeito a esses quesitos.
Para o projeto exemplo, vimos que o terreno está localizado em uma área
urbana que já tem toda a infraestrutura principal. Pelo programa de necessidades,
é possível considerar que teremos: um projeto de arquitetura; um projeto
de estruturas e fundações, um projeto de instalações e ar-condicionado; e um
projeto de paisagismo.
Segue um breve descritivo da responsabilidade de cada projeto e projetista
envolvido:
• Projeto de arquitetura: o arquiteto é o responsável por todo o desenvolvimento
do conceito do projeto e sua aprovação junto ao cliente. Ele também
cuida da compatibilização, ou seja, a organização de todos os outros projetos
complementares, a fim de que que todos sigam o cronograma proposto e atendam
a todas as necessidades. O arquiteto também é o responsável pelo desenvolvimento
do projeto e quadros de áreas para aprovação na prefeitura. O
projeto de arquitetura deve prever todos os pavimentos; como será sua construção;
os detalhes dessa construção; os detalhes de cobertura; a definição de
acabamentos internos; a especificação de acessórios, como louças, metais e
mobiliário; a especificação de caixilhos; a definição e detalhamento dos forros
de todos os ambientes, com definição de localização, de iluminação e das especificações
das luminárias adequadas a atender as necessidades do projeto;
• Projeto de estruturas e fundações: o projetista envolvido nessa etapa
é responsável por planejar e projetar todas as estruturas e fundações
da residência, como vigas, pilares, lajes e coberturas, priorizando
atender ao projeto de arquitetura com toda a segurança
necessária. Esse projetista deve, junto com o arquiteto,
definir qual é melhor tipo de sistema estrutural
para a residência;
• Projeto de instalações e ar-condicionado:
os projetistas responsáveis pelas instalações devem
projetar todo o sistema hidráulico da residência,
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 88
além de sistemas de esgotos e escoamento de águas pluviais. O projetista de
instalações também é responsável pelo sistema elétrico da residência e o sistema
de aquecimento a gás, que foi solicitado pelo cliente. Ele, também, deve
fazer o dimensionamento, o projeto e a defi nição do melhor sistema de ar-condicionado
para os dormitórios;
• Projeto de paisagismo: o projetista deve ser responsável por toda a área
externa da residência, como jardins, churrasqueira e lavabo, defi nindo pisos externos,
acabamentos de muros e portões e espécies para plantio nos jardins.
Todos esses estudos devem ser conversados com o arquiteto, para que o projeto
mantenha uma linguagem única.
Os cronogramas são importantes para fazer o acompanhamento dos prazos
dos projetos. Eles devem ser feitos com base no projeto de arquitetura, nos
projetos complementares e em suas interferências. É importante seguir o cronograma
para manter a organização do processo de trabalho e permitir que o cliente
acompanhe o andamento, sabendo quando irá ter o seu projeto completo e
pronto para a construção.
Conforme forem acontecendo interferências nos prazos, elas devem ser inseridas
no cronograma de acompanhamento, sempre procurando alcançar as
datas macro que foram estabelecidas.
Antes do início do projeto, é fundamental que ocorra uma reunião com todos
os projetistas envolvidos. Essa reunião deve acontecer para a apresentação do
terreno e da proposta de trabalho.
O croqui e estudos preliminares
Essa é a fase de iniciar os desenhos. A primeira etapa do projeto é o croqui,
que são os primeiros esboços pensados para aquele terreno. Os croquis
podem ser da volumetria e da forma pensada para o terreno e/ ou das plantas
baixas e divisões internas que estão sendo propostas para a residência.
Muitas vezes, o cliente já tem alguns croquis e ideias para o terreno que
devem ser considerados para o projeto. É muito importante manter esses croquis,
porque na maioria das vezes eles são as primeiras inspirações e conceitos
do projeto e servem como parâmetros para se manter a linha pensada incialmente.
Um croqui bem feito pode ser uma ótima representação do projeto.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 89
Figura 6. Primeiros esboços de uma residência. Fonte: Shutterstock. Acesso em: 05/08/2020.
Estudo preliminar de arquitetura
Nessa fase, começa o desenvolvimento do projeto, com os primeiros desenhos
técnicos. O primeiro projeto a ser desenvolvido deve ser o de arquitetura,
pois é ele que vai servir como base para que todos os outros projetistas.
Nessa primeira fase do projeto, junta-se todos os documentos, levantamentos,
programa de necessidades, croquis e se faz a emissão da primeira etapa do
projeto, que é o estudo preliminar.
No estudo preliminar, deve constar os primeiros estudos da residência. Deve-
se ter:
• Planta do térreo: conforme solicitado, deve ser feito um pré-dimensionamento
da sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, lavabo e área
externa com churrasqueira;
• Planta do pavimento superior: conforme solicitado, deve ser feito um
pré-dimensionamento dos quartos, suítes e escritório;
• Corte: no corte deve aparecer as alturas de pé direito dos ambientes, as
alturas de forros e estruturas como vigas;
• Elevação: a elevação é um desenho de estudo. É feito quando o arquiteto
começa a entender qual o produto da fachada para as plantas que foram projetadas,
e quando ele vê como ficam as aberturas, os primeiros estudos com os
visuais externos e os estudos de acabamentos de fachada;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 90
• Maquete eletrônica: a maquete eletrônica serve para se entender como
ficam os volumes, como essa primeira planta está em relação ao terreno e ao
entorno, quais são os visuais, o que se quer priorizar e o que se quer esconder.
No estudo preliminar de arquitetura devem ser feitas as indicações iniciais
de onde serão os pontos hidráulicos, elétricos e localizações de saídas de ar-
-condicionado, pois são esses desenhos que servirão como base para os projetos
complementares.
É fundamental que o estudo preliminar
seja aprovado pelo cliente antes
que seja dado andamento junto aos
demais projetistas. Esse projeto deve
atender ao programa de necessidades
e ter sua área dentro do que é permitido
pela lei, além de sua volumetria agradar ao arquiteto e ao cliente.
Podemos considerar um prazo médio de 30 dias para o desenvolvimento
dessa etapa de projeto, em uma residência com área construída de 250,00 m².
Estudo preliminar de projetos complementares
Os projetistas complementares devem receber o estudo preliminar de arquitetura
aprovado. Após os primeiros estudos em cima desse projeto, devem
ser feitos:
• Projeto de instalações elétricas:
• Definição de sistema de instalação elétrica;
• Cargas elétricas necessárias;
• Encaminhamento das tubulações elétricas.
• Projeto de instalações hidráulicas:
• Localização e espaços necessários para hidrômetro;
• Reservatórios de água e suas dimensões;
• Melhor posicionamento das tubulações hidráulicas e esgoto;
• Previsão e pré dimensionamento de captação das águas pluviais.
• Projeto de ar-condicionado:
• Definição de quais os espaços onde deve ser previsto o sistema;
• Previsão de prumadas hidráulicas;
• Quais as necessidades elétricas (cargas);
• Encaminhamento dos dutos de ventilação.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 91
• Projeto de fundações:
• Solicitação de sondagens, se necessário, para verificar o tipo de solo existente
no local;
• Definição de qual será o tipo de fundação necessária para a residência.
• Projeto de estrutura:
• Definição de qual será o tipo de estrutura utilizada na residência;
• Dimensionamento dos principais elementos estruturais (pilares, vigas,
lajes etc.).
• Plantas de cargas preliminares para o estudo de possibilidades para o projeto
de fundações;
• Levantamento preliminar dos quantitativos de concreto, formas e aço;
• PD, levando em consideração os entreforros e estruturas, como vigas e lajes.
• Projeto de paisagismo: no projeto de paisagismo, dentro do estudo preliminar,
é importante que se tenha as primeiras definições de quais são as áreas permeáveis
do lote. Isso se dá a fim de atender ao item da prefeitura que indica que se deve ter
15% da área total do loto como área permeável mínima, ou seja, no mínimo 37,50 m²
no nosso exemplo. Além da área permeável exigida pela prefeitura, o projetista de
paisagismo pode explorar ainda mais a área permeável do terreno, além de poder
incluir jardins em áreas não permeáveis. Devem ser indicados:
• Os níveis externos;
• Os elementos como gradil e mobiliários;
• O plano de massas da vegetação;
• Dados de definição das necessidades de elétrica e hidráulica (iluminação,
ralos etc.).
Feitos todos os projetos complementares, eles devem ser enviados para o arquiteto,
que deverá uni-los, verificando quais são as interferências que acontecem
entre eles. Com base nisso, é gerado um novo projeto da fase de estudo preliminar,
ou o anteprojeto. Em projetos maiores ou com mais interferências, esse é um
projeto consolidado com todas as informações que foram apontadas por todos os
projetistas e que atende ao programa de necessidades, além de estar dentro das
áreas definidas pela legislação.
O prazo médio para os estudos preliminares dos projetos complementares e
consolidação dos projetos pela arquitetura, normalmente, é de 20 dias, considerando
uma residência de 250,00 m².
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 92
Projeto legal
A próxima fase consiste em desenvolver o projeto que será enviado para
a aprovação da obra na prefeitura local. Os projetos de prefeitura devem seguir
um padrão específi co para cada cidade, por isso é importante verifi car
qual o padrão que deve ser seguido levando em conta a cidade em que o
terreno está.
O projeto que estamos desenvolvendo como exemplo, na rua Fidalga, está
localizado na cidade de São Paulo, que tem como padrão um projeto simplifi -
cado, que é um plano de massas em que são indicadas quais são as áreas que
terão intervenção e seu respectivo quadro de áreas.
O projeto legal deve ser feito na escala 1:100, deve ter as plantas dos dois
pavimentos (térreo e superior), dois cortes e quadro de áreas. Além dos projetos,
também devem ser enviados uma série de documentos para a aprovação
de projeto.
Em relação ao prazo de aprovação, é difícil estimar, pois depende muito
do volume de projetos em andamento na prefeitura. O prazo defi nido em lei,
para a análise e aprovação, é de 120 dias.
O arquiteto deve ser responsável, não só pelo protocolo de projeto inicial
na prefeitura, mas também pelos atendimentos de exigências que a prefeitura
faça em relação ao projeto. Essas alterações devem ser incorporadas em
todos os projetos em andamento.
Projeto pré-executivo de arquitetura
Feitas as análises de todos os estudos preliminares do
projeto de arquitetura, tendo os projetos complementares
consolidados e aprovados pelo cliente, e com todas as
premissas iniciais incorporadas ao projeto, chega-se ao momento
de consolidar todas as informações e
alterações que se fi zerem necessárias para a
próxima fase de projetos.
Nesse momento, possivelmente já se
tem a primeira análise da prefeitura, com
a solicitação de algumas alterações que devem
ser incorporadas ao projeto.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 93
O arquiteto é o responsável por fazer essa análise e consolidação de dados.
Isso se chama compatibilização de projetos. Nesse momento, o arquiteto
deve sobrepor os projetos e apontar onde estão as interferências e como
um projeto pode causar impacto em
outros. Essa análise e apontamento
de interferências é fundamental para
que na obra todos os pontos estejam
resolvidos e o engenheiro ou construtor
não tenha que tomar uma decisão
que possa causar erros na execução
da obra, por não seguir o projeto.
Os estudos preliminares dos projetos complementares devem ser analisados
pelo arquiteto, que emite relatórios ou comentários aos respectivos
projetistas, a fim de indicar os devidos ajustes e as definições que devem
ser incorporadas ao projeto pré-executivo de arquitetura. Os produtos dessa
etapa do projeto são:
• Implantação;
• Plantas de todos os pavimentos (somente com identificações dos ambientes
e cotas principais);
• Cortes gerais;
• Cortes parciais necessários;
• Elevações;
• Plantas de forros preliminares;
• Especificação preliminar de acabamentos.
Além dos projetos técnicos, é importante que nessa fase se faça a aprovação
final de acabamentos que serão executados na obra, pois essas definições
são importantes para a emissão dos projetos executivos finais.
Muitas vezes, a apresentação é feita para o cliente com perspectivas em
3D, em que ele possa entender o volume e como serão os acabamentos. Essa
é uma etapa fundamental do projeto de arquitetura.
Projeto pré-executivo de projetos complementares
Os projetos pré-executivos dos projetistas complementares devem ser
feitos em cima da base do projeto pré-executivo de arquitetura. É nessa fase
que começam as especificações e detalhamentos. Devem ser feitos:
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 94
• Projeto de instalações elétricas:
• Desenhos de todos os elementos da instalação em escala, baseados
nas plantas baixas e de forros apresentadas no pré-executivo de arquitetura,
e já de acordo com os índices de iluminamento adequados;
• Adequação ao projeto estrutural, arquitetônico, hidráulico, de ar-condicionado
e luminotécnico;
• Indicar interferências com forros, vigas e instalações;
• Entrega de memorial técnico.
• Projeto de instalações hidráulicas:
• Desenhos de todos os elementos da instalação (todas as plantas em
escala e com todos os enchimentos necessários), posicionamentos de
grelhas, canaletas etc.;
• Adequação ao projeto estrutural, arquitetônico, hidráulico, elétrico e
luminotécnico;
• Interferências com forros, vigas e instalações;
• Indicação preliminar de furação em vigas e lajes nas formas;
• Posição das prumadas.
• Projeto de ar-condicionado:
• Plantas de todos os elementos da instalação em escala;
• Adequação do projeto de climatização com os projetos de estrutura,
arquitetura, hidráulica, elétrica e luminotécnica;
• Interferências com forros, vigas e instalações;
• Indicação preliminar de furação em vigas e lajes nas formas.
• Projeto de estrutura: esse material deve ser entregue com o dimensionamento
definitivo de todos os elementos estruturais:
• Planta de forma do pavimento térreo, superior e cobertura,
com cortes parciais e cotas dos principais elementos
estruturais, assim como todo detalhamento necessário
para a interface com os demais projetos;
• Reavaliação dos quantitativos de concreto,
formas e aço enviados na etapa anterior e
inclusão dos itens referentes à fundação;
• Indicação da locação da obra e carga nas
fundações.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 95
• Projeto de paisagismo: na fase de projeto pré-executivo é quando se começa
a fazer os detalhamentos e defi nições. Nesse momento, já se tem todos
os níveis defi nidos e compatibilizados com outras disciplinas, como instalações
e estruturas. No projeto pré-executivo devem ser:
• Indicados os níveis (piso, jardins etc.);
• Indicadas as perspectivas dos principais pontos de atenção do projeto;
• Indicada a locação e a especifi cação dos pontos para irrigação dos jardins
e lavagens de pisos;
• Indicada a defi nição das espécies vegetais que serão plantadas nos jardins;
• Indicada a locação e especifi cação dos pontos de iluminação;
• Indicada a locação de mobiliário externo;
• Indicada a defi nição de fl oreiras e/ ou muro verde;
• Apresentada a sugestão de pisos e acessos externos;
• Indicada a calçada externa;
• Indicada a vedação frontal e da periferia do terreno (muro e gradil);
• Indicada a planta de revestimento de piso, parede, rodapé, muretas e tetos.
Após o desenvolvimento de todos esses projetos, chega o momento de o
arquiteto fazer a compatibilização de todos eles, e verifi car as interferências fi -
nais. Mais uma vez deve ser feito um relatório de compatibilização, para que os
projetistas possam adequar seus projetos para que, na fase fi nal, em que todos
os itens devem estar resolvidos e compatibilizados entre si, evitando problemas
na execução da obra.
Projeto executivo de arquitetura
O projeto executivo de arquitetura é o projeto fi nal, detalhado com todas
as informações para a execução da obra, esse projeto deve conter todos os
detalhes necessários para a obra.
É preciso considerar que a função da obra é executar um projeto de arquitetura
bem trabalhado e projetado, por isso o projeto deve ter todos os detalhes
resolvidos. A função do arquiteto é pensar em todos os problemas que podem
acontecer e se antecipar a eles, com soluções ainda em projeto. O projeto de
arquitetura precisa estar completamente detalhado, com cotas em todos os
ambientes, garantindo um fácil entendimento de todos.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 96
O projeto executivo consiste na elaboração de elementos gráfi cos que indiquem,
claramente: as dimensões e a geometria dos compartimentos e fachadas;
os materiais a serem utilizados e os acabamentos propostos; e os sistemas
e soluções arquitetônicas a serem adotadas. Os produtos desta etapa são:
• Implantação geral;
• Plantas de todos os pavimentos;
• Plantas de forros com iluminação;
• Projeto de decoração;
• Detalhamento de mobiliários e marcenaria, de acordo com a defi nição de
layout aprovado;
• Cortes gerais;
• Cortes parciais pelas fachadas;
• Cortes parciais necessários;
• Elevações;
• Paginação de piso e detalhes;
• Especifi cação dos acabamentos;
• Memorial descritivo de acabamentos.
Os desenhos do projeto executivo de arquitetura serão utilizados pelos projetistas
complementares nas compatibilizações fi nais e revisões necessárias
dos seus próprios projetos executivos e detalhamentos.
Projeto executivo de projetos complementares
Os projetos executivos dos projetistas complementares devem ser feitos
em cima da base do projeto executivo de arquitetura, que é o projeto fi nal
com todas as instalações. Nessa fase do projeto, os
projetos complementares devem conter todos os
detalhes, cotas e especifi cações para a execução
da obra.
É fundamental que todos os projetistas entreguem
memoriais descritivos, especialmente os de
instalações elétricas, hidráulicas e de ar-condicionado, em que
devem constar todas as especifi cações de materiais e equipamentos
a serem instalados. Devem ser feitos:
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 97
• Projeto de instalações elétricas:
• Compatibilização final das interferências, já com as definições das cargas
e necessidades previstas nos projetos executivos de ar-condicionado, irrigação,
luminotécnica, hidráulica, paisagismo e outros;
• Entrega de memorial técnico com especificações técnicas das instalações
propostas.
• Projeto de instalações hidráulicas:
• Definição dos espaços e necessidades entre os projetos de hidráulica, arquitetura,
ar-condicionado, estrutura, elétrica, paisagismo e outros;
• Verificação final das furações em vigas e lajes (marcação em formas);
• Memorial descritivo com especificações técnicas das instalações propostas.
• Projeto de ar-condicionado:
• Definição dos espaços e necessidades entre os projetos de hidráulica, arquitetura,
ar-condicionado, estrutura, elétrica, paisagismo e outros;
• Verificação final das furações em vigas e lajes (marcação em formas);
• Memorial descritivo com especificações técnicas das instalações propostas.
• Projeto de fundações:
• Detalhamento das fundações que serão executadas;
• Projeto de estrutura:
• Planta de formas finais;
• Planta de detalhes e cortes necessários.
• Planta de locação de pilares e cargas definitiva, com eixos e cotas.
• Validação das quantidades de concreto e formas;
• Plantas de armações completas e detalhes construtivos de todas as peças
envolvidas;
• Quantitativos de aço da estrutura.
• Projeto de paisagismo: no projeto de paisagismo, a fase de projeto executivo
deve conter todos os detalhes para a execução de área externa, incluindo o plantio.
Para isso, devem constar detalhes de todas as espécies que serão plantadas no projeto,
desde arvores até forrações. No projeto executivo devem ser indicados:
• Detalhamento de pisos, com indicação dos revestimentos aprovados;
• Indicação e detalhamento dos tipos de assentamentos;
• Detalhamento esquemático de mobiliário e complementares, em geral;
• Detalhamento de muros verdes;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 98
• Detalhamento de jardineiras;
• Detalhamento de muros e gradis;
• Detalhamento dos elementos propostos com tabelas quantitativas;
• Desenho em planta demonstrando a localização das espécies vegetais (árvores,
palmeiras, arbustos, forrações etc.);
• Sugestão para sistemas de irrigação;
• Sugestão de iluminação das áreas trabalhadas;
• Memorial de plantio.
Após o desenvolvimento de todos esses projetos, chega o momento de o arquiteto
fazer a compatibilização de todos eles, e verifi car as interferências fi nais. Mais
uma vez deve ser feito um relatório de compatibilização, para que os projetistas possam
adequar seus projetos, para que, na fase fi nal, todos os itens estejam resolvidos
e compatibilizados entre si, evitando problemas na execução da obra.
Projeto final enviado para a obra
Após a entrega de todos os projetos executivos dos projetistas complementares,
o arquiteto deve fazer uma última análise para ter certeza de
que todos os itens foram atendidos. Com isso feito, ele emite os detalhes
fi nais que serão utilizados para a execução da obra. Esse projeto fi nal é um
projeto técnico em que constam todos os detalhes para a execução da obra.
O detalhamento consiste no desenvolvimento de todos os elementos
necessários à exata execução das obras civis. Os produtos desta etapa são:
• Pranchas do projeto executivo revisadas;
• Indicação, nos elementos do projeto, da execução de todos os detalhes
elaborados;
• Desenhos ampliados das áreas especiais, em
escala adequada;
• Plantas e detalhes, em escala ampliada, dos
forros especifi cados e seus arremates;
• Elevações e detalhes principais da caixilharia de
alumínio, em escala adequada;
• Desenhos de detalhes de serralheria, esquadrias e arremates,
em escala adequada;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 99
• Plantas e elevações referentes às paginações de fachadas e áreas nobres,
com especifi cação e quantifi cação de todas as molduras e pré-moldados de
fachada do projeto;
• Detalhes construtivos;
• Especifi cação de materiais de acabamentos, aprovados
previamente com o cliente;
• Detalhamento das áreas molhadas, em escala ampliada;
• Paginações de pisos de todos os ambientes;
• Cortes e detalhes gerais e específi cos;
• Detalhamento de todos os caixilhos composto de planta, elevação e cortes,
tipo de vidro (acabamento) e planilha de esquadrias com quantitativos;
• Detalhes e especifi cações de tampos, soleiras, artefatos de ferro e serralheria,
madeira e demais materiais, além dos detalhes necessários para a
execução dos serviços;
• Planilhas com quantitativos de fechaduras e ferragens, serralheria e detalhes
construtivos.
Compatibilização de projetos
Um projeto bem defi nido é fundamental para que a execução da obra ocorra
dentro do prazo, dentro dos custos previstos e sem grandes interferências.
Para isso, existe a fase de compatibilização dos projetos, que nada mais é do
que a verifi cação de todos os projetos menores, entendendo como eles se comportam
em relação à base e entre eles.
Para realizar essa compatibilização, existe um fl uxo funcional para o desenvolvimento
do projeto. Essas etapas podem
ser alteradas ou aumentadas, dependendo
da complexidade envolvida.
A compatibilização de projetos consiste
no acompanhamento de todos
os projetos complementares a serem
executados por terceiros, visando a
sua compatibilização com o projeto arquitetônico.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 100
Os trabalhos devem ser programados para garantir uma profunda coordenação
entre atividades, promovendo um fluxo uniforme de troca de informações
e evitando alterações ou modificações que possam influir no cumprimento
do cronograma do projeto. A coordenação de projetos complementares
compreende os principais itens:
• Lançamento e acompanhamento do cronograma do projeto (ou auxílio ao
cliente para execução desse acompanhamento), que será divulgado e acordado
com os projetistas e o cliente;
• Adequação e/ ou inclusão de espaços necessários, apontados pelos projetistas
complementares, incluindo ambientes e alturas necessárias, com o objetivo
de evitar incompatibilidades;
• Análise dos projetos complementares baseados nas premissas previamente
acordadas e sua compatibilização com o projeto arquitetônico.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 101
Sintetizando
Nessa unidade, conhecemos um terreno e aprendemos como elaborar um
projeto residencial completo para ele. Passamos por todas as etapas de projeto,
desde os estudos iniciais do terreno, passando pelo projeto legal e chegando ao
projeto final, que será usado para a execução da obra.
Começamos conhecendo o terreno e o programa de necessidades do cliente. A
partir daí, vimos o planejamento para o desenvolvimento do projeto.
Conhecemos, também, quais são os projetos complementares que devem ser
considerados para o projeto de uma residência, e quais são as interferências que
eles podem causar no projeto geral.
Por fim, aprendemos como é o processo de compatibilização de projetos e qual
a sua importância.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 102
Referências bibliográficas
ARCH DAILY. Arte de projetar em arquitetura / Enrst Neufert. Disponível
em: <https://www.archdaily.com.br/br/776750/arte-de-projetar-em-arquitetura-
enrst-neufert>. Acesso em: 5 ago. 2020.
ARQUITETO LEANDRO AMARAL. Oito dicas para um projeto de arquitetura
de sucesso. Disponível em: <https://arquitetoleandroamaral.com/como-fazer-
-um-bom-projeto-de-arquitetura/>. Acesso em: 5 ago. 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6492: Representação
de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro, 1994.
ATELIÊ DA ARQUITETURA. Etapas de um projeto arquitetônico. Disponível
em: <http://ateliedaarquitetura.blogspot.com/2016/04/etapas-de-um-projeto-
-arquitetonico.html>. Acesso em: 5 ago. 2020.
CHING, F. Representação gráfica em arquitetura. 6. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2017.
CPE TECNOLOGIA. Veja três tipos de levantamentos topográficos para usar
em seus serviços. Disponível em: <https://blog.cpetecnologia.com.br/veja-
-os-3-tipos-de-levantamentos-topograficos-para-usar-como-servico/>. Acesso
em: 5 ago. 2020.
GEOSAMPA. Mapa Digital da Cidade de São Paulo. Disponível em: < http://
geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. > Acesso em: 10
ago. 2020.
KENCHIAN, A. Estudo de modelos e técnicas para projeto e dimensionamento
dos espaços da habitação. 2005. [s. f]. Dissertação de Mestrado em
Tecnologia de Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 2005.
MACIEL, C. A. Arquitetura, projeto e conceito. Vitruvius, São Paulo, ano 4, n.
043.10, dez. 2003. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/04.043/633>. Acesso em: 26 mai. 2020.
NEUFERT, E. Neufert: arte de projetar em arquitetura. 18. ed. São Paulo: Gustavo
Gili, 2013.
REIS, C. Repertório, análise e síntese: uma introdução ao projeto arquitetônico.
Porto Alegre: UFRGS, 2002.
SÃO PAULO. Lei n. 16.050, de 31 de julho de 2014. Diário Oficial do Município
de São Paulo, São Paulo, SP, Poder Executivo, 31 jul. 2014.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 103
SÃO PAULO. Lei n. 16.402, de 22 de março de 2016. Diário Oficial do Município
de São Paulo, São Paulo, SP, Poder Executivo, 22 mar. 2016.
SÃO PAULO. Lei n. 16.642, de 9 de maio de 2017. Diário Oficial do Município de
São Paulo, São Paulo, SP, Poder Executivo, 9 mai. 2017.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 104
PROJETO DE
ARQUITETURA
COMERCIAL
4
UNIDADE
Objetivos da unidade
Tópicos de estudo
Entender como fazer o estudo preliminar de documentações e um bom
levantamento do terreno, entendendo o programa de necessidades do cliente;
Analisar a legislação incidente no terreno, entendendo os itens que fazem
parte do projeto e definindo os projetistas complementares necessários;
Fazer a análise de custos do projeto, conhecendo as etapas e as interfaces
entre os outros projetistas;
Conhecer o processo de projeto e como é o andamento dele até a fase final.
A importância do projeto de
arquitetura
O terreno
Análises iniciais
Localização e zoneamento
Visita ao terreno
Levantamento planialtimétrico
Programa de necessidades
Pré-projeto
Etapas do pré-projeto
O desenvolvimento do projeto
Estudos preliminares
Projetos executivos
Projeto final
Compatibilização de projetos
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 106
A importância do projeto de arquitetura
Hoje, na cidade de São Paulo, temos uma grande oferta de terrenos que
estão bem localizados e que têm uma grande vocação comercial. Esse pode
ser um ótimo nicho de mercado, no qual podemos projetar estabelecimentos
comerciais de pequeno porte e alugar para que o futuro inquilino faça uso desses
espaços, ótimos para farmácias, mercados, cafés, hamburguerias e demais
possibilidades de uso comercial de bairro. Assim, nesta unidade, vamos trabalhar
um projeto comercial multiuso de dois pavimentos.
A função do arquiteto em projetos é deixar um projeto bonito, funcional,
pronto para locação e convidativo para o futuro locatário, criando um espaço
novo, com toda a infraestrutura necessária para que, quando instalado, o futuro
locatário apenas se mude para o local. Nesse sentido, o planejamento de
etapas, prazos e custos é de extrema importância para que o projeto possa ser
viabilizado. Mais do que nunca, a coordenação e compatibilização dos projetos
são essenciais.
Em um projeto de arquitetura comercial, devem ser considerados diferentes
fatores em relação ao projeto residencial, mas o ponto de partida para o
desenvolvimento de qualquer projeto arquitetônico é o terreno onde será implantado.
Para um projeto comercial de pequeno porte, vamos conhecer um
terreno muito bem localizado na cidade de São Paulo e, a partir daí, fazer todo
o desenvolvimento até a etapa fi nal de envio para a obra.
Como já vimos, um projeto de arquitetura é fundamental para colocarmos
no papel todas as necessidades para o projeto e, nesse caso, principalmente,
alinhar funcionalidade e beleza. Um projeto bem planejado e com desenvolvimento
dentro do previsto é fundamental para que, na execução, todos os problemas
tenham sido antecipados e resolvidos, e tenhamos, assim, um projeto
fácil de ser executado.
Vamos, então, conhecer o terreno onde ele será implantado
e, a partir daí, fazer todos os estudos para
o desenvolvimento, começando pelos estudos
iniciais, passando pelos projetos complementares
(como instalações hidráulicas, elétricas, estruturas,
fundações, entre outros), até à especifi cação e deta-
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 107
lhamento de materiais de acabamento que serão utilizados. Quando temos um
profi ssional de arquitetura contratado para o desenvolvimento do projeto, devemos
prezar por itens de extrema importância, como:
• Forma: quando o cliente contrata um arquiteto, também busca um projeto
que atenda de forma harmônica e compatível com o espaço urbano, e
seja um atrativo para os futuros locatários do prédio comercial. Devemos,
portanto, buscar um projeto que atenda à forma e com revestimentos práticos
e atrativos;
• Funcionalidade: com todos os estudos feitos, o arquiteto deverá adequar
todas as necessidades do projeto à função pretendida. Nesse caso, precisamos
de um projeto funcional para diversos usos comerciais. Devem ser
projetados ambientes que atendam à funcionalidade e acessibilidade urbana
do edifício comercial;
• Custo: em casos de projetos comerciais especialmente para locação, a
questão do custo é muito importante para se dar andamento ou não ao
projeto. É, portanto, um item que deve ser considerado como premissa, e o
projeto deverá ser planejado com base no custo-base enviado pelo cliente;
• Segurança: o arquiteto é responsável pela concepção do projeto, considerando
todos os projetos complementares, bem como a sua segurança e a
sua estabilidade. A segurança da edifi cação é, muitas vezes, um item de responsabilidade
principal do projetista de estrutura e fundações. No entanto,
o arquiteto, como coordenador das informações e projetos fi nais, deverá
pensar em detalhes e contabilizações que atendam à segurança.
O terreno
O primeiro passo para o início do projeto é conhecermos o terreno onde
será implantado. Assim, a primeira coisa que devemos fazer, tão logo temos
conhecimento de um terreno, é separar sua documentação. Os documentos
principais que devem ser solicitados para o desenvolvimento inicial do projeto
são: o IPTU (ou ITR) e a matrícula do imóvel.
O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), no caso de imóvel em área
urbana, ou Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no caso
de imóvel em área rural ou imóvel em área urbana com uso rural, são os do-
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 108
cumentos emitidos pela prefeitura local em que constam dados do terreno,
como endereço completo, área do terreno, área construída (se houver) e valores
a serem pagos anualmente à Prefeitura.
O IPTU é identificado pelo código de contribuinte, ou SQL, que é formado
pelo setor, quadra e lote onde o terreno está localizado. Um setor imobiliário
é o local da cidade onde o imóvel está inserido; a quadra diz respeito ao
quarteirão; e o lote é o terreno em si. A Figura 1 apresenta um exemplo de
capa de IPTU na cidade de São Paulo, na qual vemos os dados indicados acima.
Este será o terreno em que vamos trabalhar para o desenvolvimento do
projeto comercial dessa unidade.
Figura 1. Capa de IPTU.
A matrícula é o documento do imóvel no Registro de Imóveis da cidade. É
na matrícula que fica registrado o tamanho do terreno, o tamanho de área
construída e também seu histórico, como, por exemplo, quem são os proprietários
e como foram feitas as transferências desde o terreno inicial. Além
disso, consta toda e qualquer alteração que tivermos no terreno, como retificação
de área, ou seja, alteração da área de acordo com a área real.
Muitas vezes, no levantamento planialtimétrico (o desenho do terreno),
percebemos que o terreno local tem uma área diferente da área registrada
na matrícula. Nesse caso, é necessário fazer a retificação de área, para que
fiquem iguais. Além disso, construção, demolição, venda ou qualquer outra
movimentação também deverão ser registradas na matrícula.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 109
A Figura 2 apresenta o exemplo de matrícula do terreno objeto do estudo,
na qual vemos os dados do imóvel, como medidas de perímetro e divisas.
Essa matrícula não tem uma área final registrada, porém, como podemos ver,
o terreno é um retângulo de fácil resolução de área, ou seja, 9,50 m de frente e
fundos x 38,00 m de profundidade = 361,00 m². Como podemos ver, temos as
medidas do terreno, o nome do proprietário inicial e o número do contribuinte.
Devem ser registradas na matrícula alterações de área, como parcelamento
de solo, quando dividimos o terreno original em lotes menores, e unificação,
quando juntamos lotes.
Figura 2. Página inicial da matrícula do imóvel.
Quanto ao histórico, devem ser registrados dados como compra e venda
do imóvel ou doação – por herança ou caso ele tenha sido dado como forma
de pagamento ou garantia de alguma dívida. Esses dados são importantes de
serem verificados, pois podem inviabilizar o uso do terreno, caso haja algum
impedimento jurídico. Na matrícula, também devem constar dados do imóvel
construído ou demolido no local (Figura 3). A matrícula é um documento jurídico
com validade legal de 30 dias, pois, como temos atualizações ao longo do
caminho, sempre é necessário que se tenha o documento atualizado, para dar
entrada no processo de aprovação da Prefeitura.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 110
Figura 3. Último registro da matrícula do imóvel.
Análises iniciais
Devemos iniciar os estudos pela localização e pelo zoneamento do terreno,
pois, assim, podemos planejar o melhor uso para o local. Em seguida, uma visita
deve ser feita, a fi m não apenas de conhecer o local, mas também de tomar nota
de todas as suas particularidades. Posteriormente, um levantamento planialtimétrico
deve ser realizado por um topógrafo, para que tenhamos um desenho real do
local. Por fi m, um programa de necessidades deve ser elaborado, com o objetivo
de levantarmos e organizarmos todas as necessidades do cliente na construção.
Localização e zoneamento
Como podemos ver na Figura 4, o terreno que analisaremos está localizado
na Rua Bela Cintra, nº 794, em uma região central da cidade de São Paulo,
com toda a infraestrutura disponível em uma área de uso misto, com edifícios
residenciais, comerciais e grande facilidade de acesso, com vias principais e
abundância de transporte público (fartas linhas de ônibus e metrôs), que possibilita
o fácil acesso a toda a cidade. Com essas análises, podemos confi rmar
que o terreno se encontra em uma área estratégica para o uso comercial,
devido a essa facilidade de acesso e ao entorno, com um público que pode
fazer uso dessa área comercial.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 111
Figura 4. Localização do terreno. Fonte: Google Maps. (Adaptado).
Feitos os levantamentos dos documentos iniciais e verificada a localização,
o próximo passo é ver em qual zona o terreno se encontra e a possibilidade
de se fazer um imóvel comercial no local, identificando as restrições e os benefícios
impostos pelo zoneamento no qual o terreno se encontra. Para esse
imóvel localizado na cidade de São Paulo, temos o site da Prefeitura, que disponibiliza
essas informações para consulta pública.
DICA
Para obtermos essas informações legais, devemos seguir
alguns passos: acessar o Mapa Digital da cidade, para o
mapeamento das informações legais básicas; pesquisar
o terreno pelo endereço ou pelo código de contribuinte
no IPTU, localizado no campo “Cadastro do Imóvel” (por
exemplo, 010.038.0025-4); e verificar em qual zoneamento o
terreno se enquadra.
Assim, como podemos ver na Figura 5, o terreno objeto de trabalho, localizado
na Rua Bela Cintra, nº 794, Cerqueira César, na cidade de São Paulo, encontra-
se no zoneamento da Zona Eixo de Estruturação da Transformação
Urbana (ZEU), que são porções do território localizadas em áreas com infraestrutura
completa. Nela, são permitidos os usos residenciais e não residenciais
com densidade demográfica alta.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 112
Figura 5. Zoneamento do terreno. Fonte: PREFEITURA, [s.d].
Essas são as áreas da cidade com maior infraestrutura consolidada, com
muitos bairros, edificações ou áreas já degradadas, nas quais a Prefeitura pretende
promover a qualificação da paisagem e incentivar o uso, priorizando os
pedestres. Por isso, também são áreas em que se incentivam construções de
edificações de uso misto e o térreo com uso do pedestre, como comércios de
pequeno porte, que atenda aos vizinhos locais. Para verificar quais são as restrições
para esse tipo de uso, devemos consultar a Lei de Uso e Ocupação do
Solo (Lei nº 16.402/16).
Por meio da Tabela 1, anexo à Lei, temos todos os parâmetros que devem
ser seguidos no terreno. No caso do terreno onde será implantado o projeto
comercial, como vimos, estamos inseridos em uma ZEU, uma zona mista que
permite o uso residencial e uso não residencial de alta densidade, ou seja, a
edificação comercial não apenas é permitida nesse local, como também incentivada.
Para planejarmos o projeto, então, devemos seguir os parâmetros de
coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, gabarito de altura e recuos.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 113
TABELA 1. PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Tipo de
Zona
ZONA
(a)
Coefi ciente de
aproveitamento
Taxa de
Ocupação
Máxima
Gabarito de altura máxima
(metros)
Gabarito de altura máxima
(metros)
C.A. mínimo
C.A. básico
C.A. máximo (m)
T.O. para lotes até 500
metros
T. O. para lotes iguais ou
superiores a 500 metros
Frente (i)
Fundos e laterais
Altura da edifi cação
menor ou igual a 10
metros
Altura da edifi cação
superior a 10 metros
Transformação
ZEU
ZEU
0,5
1
4 0,85
0,70
NA
NA
NA
3 (j)
2 ZEUP
ZEUP(
b)
0,5
1 2
0,85
0,70
28 NA
NA
3 (j)
ZEUPa(
1 ZEM
ZEM
0,5
1
2 (d)
0,85
0,70
28
NA
NA
3 (j)
ZEMP
0,5
1 2 (e)
0,85
0,70
28 NA
NA
3 (j)
ZEUa
NA
ZEU-
1
Pa(c)
NA
0,70
1
0,50
0,70
28
0,50
NA
28
NA
NA
3 (j)
NA
3 (j)
Para o coefi ciente de aproveitamento (CA), temos os índices mínimos,
básicos e máximos de área, que poderão ser construídos no terreno:
• CA Mínimo (0,5): o índice mínimo indica o mínimo de área que deverá ser
construída no terreno, para que ele não seja considerado subutilizado. No
caso do terreno objeto do nosso projeto, que tem uma área de 361,00 m², a
área mínima a ser construída deverá ser de 181,00 m²;
• CA Básico (1,0): o coefi ciente básico, em toda a cidade de São Paulo, é 1,
ou seja, pode ser construída até 1x a área do terreno sem pagamento de
valores adicionais de outorga onerosa. No caso do terreno objeto do nosso
projeto, em que temos área de 361,00 m², a área básica a ser construída
nele deverá ser de 361,00 m²; e
• CA Máximo (4,0): o coefi ciente de aproveitamento máximo é a área máxima
que pode ser construída no terreno, com o pagamento de outorga. No
caso do terreno objeto do nosso projeto, em que temos área de 361,00 m²,
Fonte: SÃO PAULO, 2016
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 114
a área máxima que pode ser construída com o pagamento de outorga poderá
ser de até 1.444,00 m². Os terrenos localizados em ZEU são os terrenos
com o maior coefi ciente de aproveitamento máximo em toda a cidade, pois,
como o próprio zoneamento determina, essas porções do território são as
porções que incentivam o uso de alta densidade.
A taxa de ocupação (TO) é a área máxima de projeção de construção que
poderá haver no lote. No caso do terreno da Rua Bela Cintra, a TO máxima
deverá ser 85% da área do lote, pois o terreno tem área menor que 500,00 m².
Assim, nossa área máxima de projeção deverá ser de 306,85 m².
O gabarito de altura é a altura máxima que a edifi cação poderá alcançar.
Em um terreno localizado em uma ZEU, não existe gabarito de altura máximo
permitido, pois estamos em uma área do território que incentiva o uso de alta
densidade. Nesse caso, quem determinará o gabarito deverá ser o Comando
da Aeronáutica (COMAER), que regulamenta o espaço aéreo em todo o País.
Como, porém, nosso projeto é um edifício comercial de baixo porte, de dois
pavimentos, não será necessário solicitar a anuência do COMAER.
Os recuos são as distâncias que devem ser deixadas entre o perímetro do
terreno e a construção que será feita. No caso do lote localizado em ZEU, não
é necessário deixar recuo frontal e podemos encostar o edifi co na calçada,
proporcionando uma maior área de vitrine e fachadas. Os recuos laterais e de
fundos de 3,00 m aplicam-se apenas se a edifi cação ultrapassar o gabarito de
altura de 10,00 m. Assim, feitas as consultas e análises na Lei de Uso e Ocupação
do Solo, já temos os parâmetros que devem ser seguidos para o desenvolvimento
do projeto.
Visita ao terreno
O próximo passo, então, é fazer uma visita ao terreno, que é de extrema
importância para conhecermos o local. Muitas vezes, olhamos um terreno
somente via Google ou por fotos, tirando proveito de toda a tecnologia que
temos para isso. No entanto, é fundamental visitar pessoalmente o local,
pois somente assim podemos ver detalhes, como o tamanho da copa das
árvores, os vizinhos, as sombras que podem existir no terreno, qualquer desnível
e outros detalhes.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 115
Na visita, portanto, devemos ver se há árvores no terreno, analisar a topografia
do local, como são os acessos, os vizinhos e se já há alguma construção
no local que deverá ser demolida. A Figura 6 nos apresenta uma foto, extraída
do Google Maps, na qual podemos identificar, a princípio, dois problemas:
uma árvore no meio do lote e uma banca de jornal, que pode impedir o acesso
de veículos. O ideal, portanto, é ir até o local, para ver sua real situação.
Ponto de atenção
Árvore interna
Ponto de atenção
Banca de jornal na frente
Figura 6. Terreno na Rua Bela Cintra, nº 794. Fonte: Google Maps. (Adaptado).
A importância de ir até o local é confirmarmos essas informações in loco e
termos certeza de qual caminho será tomado para o estudo de massa. Com a
visita ao terreno, podemos observar outras interferências: será mesmo necessário
fazer a remoção da árvore? E a banca de jornal, é possível manter no
terreno? Além disso, também podemos ver a topografia. A visita é o momento
em que conhecemos o local, os visuais, os pontos de interesse e qual a tipologia
da região. É a partir da visita inicial que começamos a idealizar o projeto e planejar
se ele será integrado ao local ou a um ponto de referência.
Como podemos ver, na Figura 7, o terreno possui uma árvore localizada
bem no seu perímetro, o que muda o seu estudo. Também vemos que é possível
fazer o acesso ao terreno mesmo com a banca de jornal no local, além de
observarmos que tem um aclive interno, o que significa que pode ser necessário
considerar um projeto e custo para a terraplanagem, além de alterar o projeto
de fundação. Ainda na Figura 7, vemos que há um edifício corporativo, do
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 116
lado direito, e um edifício residencial com aparência antiga, do lado esquerdo.
Ou seja, confi rmamos que, nesse local, temos um uso misto.
Figura 7. Vista ao terreno na Rua Bela Cintra, nº 794.
Na visita, então, é fundamental que seja feito um relatório fotográfi co do
terreno, de detalhes que podemos encontrar e de seu entorno, como vizinhos,
acessos, e equipamentos públicos existentes no local, além de interferências,
como árvores, bocas de lobo, guias rebaixadas, caixas de inspeção, entre outros.
Levantamento planialtimétrico
Outro documento que devemos solicitar, na fase inicial do projeto, é o
levantamento planialtimétrico, que é o desenho do terreno real, que deverá
ser feito por um topógrafo habilitado. Nesse desenho, devem ser incluídas
todas as medidas reais de perímetro do terreno, além de cotas de níveis internas,
cotas de níveis da rua e cotas de níveis dos vizinhos, levantamento arbóreo,
postes, calçadas, larguras de ruas e, no caso de nosso projeto, a banca
de jornal, além de todas as construções que existirem no lote.
É com base no levantamento planialtimétrico que os projetos devem começar
a ser desenvolvidos. Também é por meio dele que podemos confi rmar
se será necessário fazer alguma movimentação no terreno, como corte
de terraplanagem ou aterro, razão pela qual também é importante ter o
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 117
levantamento das cotas de vizinhos, a fi m de que seja considerada a contenção
do terreno.
No levantamento, o topógrafo deverá confirmar se as medidas e áreas
do terreno estão de acordo com as medidas registradas na matrícula. Caso
não estejam, deverá ser feito um projeto para a regularização dessas áreas
junto à Prefeitura e ao Cartório de Registro de Imóveis. Todas as medidas
poderão ter diferenças de 5%, para mais ou para menos, em relação à área
registrada em matrícula, sem que haja necessidade de fazer o trabalho de
retificação em cartório.
Assim, a matrícula é o documento principal do terreno, sendo equivalente
à sua certidão de nascimento. Muitas vezes, em matrículas antigas, as medidas
estão incompletas ou incorretas, por isso, é fundamental fazer conferência
e manter a matrícula do terreno com a área idêntica ao real.
Programa de necessidades
Realizados os levantamentos iniciais do terreno e o levantamento de documentos,
chegou a hora de levantarmos quais são as necessidades do cliente
para a construção. É importante que façamos um levantamento detalhado
de todas essas necessidades, para que o projeto possa atender a tudo que
é solicitado. Para esse projeto comercial, imaginemos que o cliente solicitou
um projeto multiuso, que possa ser usado para locação, com salas comerciais
no pavimento superior.
Precisamos, portanto, fazer esse projeto de forma funcional e atrativa
para a locação. Além disso, o cliente também nos enviou algumas
referências (Figura 8) do que gostaria que fi zéssemos no
projeto. Para o projeto da Rua Bela Cintra, nº 794, o programa
deverá respeitar as diretrizes de:
• Edifi cação comercial;
• Galpão com banheiro para locação, no pavimento térreo;
• Seis salas comerciais médias de 40,00 m², com banheiro, no pavimento
superior;
• Manter as árvores do terreno no local;
• Considerar contrapiso para piso elevado;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 118
• Paredes do salão sem acabamento;
• Deixar somente entrada de instalações elétricas e hidráulicas;
• Considerar estrutura metálica;
• Fazer instalações para águas pluviais;
• Fazer salas comerciais com iluminação natural; e
• Prever terraço para as salas comerciais.
Figura 8. Referência para o projeto.
Pré-projeto
Chegamos, então, ao pré-projeto, que conta com um estudo de massa,
realizado a fi m de apresentar ao cliente o desenvolvimento do projeto, com
base no estudo aprovado. Em seguida, o planejamento do projeto é a etapa
em que fl uxos, etapas, custos e prazos estimados são abordados de maneira
mais objetiva. O cronograma, por sua vez, é a etapa essencial por meio
da qual os prazos são defi nidos e acompanhados; Já o estudo da viabilidade
fi nanceira, por fi m, é a etapa em que se estudam os custos defi nitivos para
o desenvolvimento do projeto.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 119
Etapas do pré-projeto
Para o terreno em que estamos trabalhando, que conta com algumas particularidades
(como a árvore bem no alinhamento do lote e a banca de jornal,
que pode causar um grande impacto), foi muito importante apresentar o estudo
de massa para o cliente, para, somente assim, seguirmos com o desenvolvimento
do projeto de acordo com o estudo aprovado. Como podemos ver
na Figura 9, foram apresentadas duas opções para que o cliente possa defi nir
o caminho a seguir.
Figura 9. Estudo de massa 1 e 2.
A premissa para o desenvolvimento do projeto foi que o galpão ocupasse
a maior parte possível do terreno, para termos um melhor aproveitamento do
lote. O estudo de massa, portanto, é importante para que possam ser exploradas
todas as possibilidades do terreno, dentro dos parâmetros legais.
Depois de coletadas todas as informações, chegou o momento de fazer o
planejamento do projeto, que é extremamente importante para entender-
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 120
mos todos os fluxos, etapas, custos e prazos estimados. Como já conhecemos
o terreno e o programa de necessidades, devemos começar listando todos os
projetos complementares que serão necessários para o desenvolvimento do
projeto. Com isso, conseguimos estimar o custo de projetos e da obra, bem
como os prazos. Também se faz importante conversar com o cliente, para entender
as necessidades e possibilidades dele nesses pontos.
Para o projeto que estamos desenvolvendo, vimos que o terreno está localizado
em uma área urbana que já tem toda a infraestrutura principal. Pelo programa,
podemos considerar que teremos um projeto de arquitetura, os projetos
de estruturas e fundações e o projeto de instalações e ar-condicionado,
bem como o projeto de paisagismo. Observemos, então, um breve descritivo
da responsabilidade de cada projetista:
• Projeto de arquitetura – o arquiteto é o responsável por todo o desenvolvimento
do conceito do projeto e a aprovação desses conceitos junto ao
cliente. Também deverá ser responsável pela compatibilização, ou seja, a
organização de todos os outros projetos complementares, para que todos
sigam o cronograma proposto e atendam às necessidades dos projetos. O
arquiteto também é o responsável pelo desenvolvimento do projeto e os
quadros de áreas, para aprovação na Prefeitura;
• Projeto de estruturas e fundações – será responsável por planejar e projetar
todas as estruturas e fundações do imóvel, como vigas, pilares, lajes
e coberturas, priorizando atender ao projeto de arquitetura, com toda a
segurança necessária. Deverá, com a arquitetura, definir qual é melhor tipo
de sistema estrutural para o imóvel; e
• Projeto de instalações e ar-condicionado – os projetistas responsáveis
pelas instalações deverão projetar todo o sistema hidráulico
do comércio, considerando o acesso ao galpão e instalações
completas para as salas comerciais, além de
sistemas de esgotos e escoamento de águas
pluviais. O projetista de instalações também
deverá ser responsável pelo sistema
elétrico, além do dimensionamento,
projeto e definição de melhor sistema de
ar-condicionado para as salas.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 121
EXEMPLIFICANDO
O projeto de arquitetura deverá prever todos os pavimentos, como será
sua construção, detalhes de construção, de cobertura, defi nição de acabamentos
internos, especifi cação de acessórios – como louças, metais
e mobiliário –, especifi cação de caixilhos, defi nição e detalhamento dos
forros de todos os ambientes, com defi nição de localização de iluminação
e especifi cação das luminárias adequadas para atender às necessidades
do projeto.
Para um projeto bem organizado e com metas claras, os cronogramas
(Quadro 1) são importantes para se fazer o acompanhamento de todos os prazos.
É importante seguirmos o cronograma para a organização do processo
de trabalho e para acompanhamento por parte do cliente, que saberá quando
terá seu projeto completo e pronto para a construção.
QUADRO 1. CRONOGRAMA DE PROJETO
Item Projetos Status Início Término
JUL/20
1 2 3 4
1 1
1.1
Projetos Preliminares
1.2
Levantamento planialtimétrico
Levantamento arbóreo e
cadastramento
1.1
Projeto de arquitetura
1.2
Estudo preliminar
1.3
Anteprojeto
1.4
Projeto legal
2
Projeto executivo
2.1
Projeto de estrutura e
fundações
2.2
Estudo preliminar
3
20/07/20
Projeto executivo
3.1
10/08/20
Projeto de instalações
3.2
Estudo preliminar
4
10/08/20
11/08/20
Projeto executivo
Aprovações
4.1
17/08/20
16/09/20
Subprefeitura – aprovação geral
30/09/20
do galpão
20/08/20
13/10/20
30/09/20
10/10/20
20/11/20
21/08/20
30/09/20
15/09/20
21/08/20
12/10/20
30/09/20
15/09/20
13/10/20
12/10/20
13/12/21
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 122
4.2
Subprefeitura – remoção da
banca de jornal
4.3
Enel e Sabesp
01/10/20 01/12/20
5 Jurídico
5.1
Averbação da construção
14/12/21
14/01/22
Conforme ocorrerem interferências nos prazos, elas devem ser refl etidas no
cronograma de acompanhamento, sempre procurando alcançar as datas macro
estabelecidas entre todos. Antes do início do projeto, é fundamental que ocorra
uma reunião de início de projeto com todos os projetistas envolvidos. Essa reunião
deve acontecer para a apresentação do terreno e da proposta de trabalho.
Como estamos trabalhando com um projeto para uso comercial, com proposta
para locação, o estudo de custos é um item decisivo para o andamento do projeto.
Por mais que isso pareça ser um processo que não tem muito a ver com arquitetura,
ele é um item fundamental a ser considerado, pois os arquitetos devem considerar
o valor a ser investido e adequar o projeto à realidade fi nanceira disponível para ele.
Para esse empreendimento, podemos fazer uma planilha de custos inicial
para aprovação do cliente, antes de dar prosseguimento. Com essa aprovação,
conseguimos dar andamento no projeto dentro do prazo estipulado no cronograma.
Como podemos ver no estudo de viabilidade fi nanceira apresentado na
Tabela 2, foram previstos todos os itens para o desenvolvimento do projeto, desde
os projetos básicos, até despesas administrativas, como motoboy e plotagens.
TABELA 2. VIABILIDADE FINANCEIRA
Empreendimento Bela Cintra
Grupo
& item
safra
Grupo
safra Descrição do item
Previsão base zero 07/2020
809.500,00
1 1.
Despesas com terreno
2.500,00
1.1.1
1.
Retifi cação do terreno
50.000,00
1. 1. 2 1.3
1.3.1
2
2.1
2.
Investimentos iniciais
Levantamento planialtimétrico
Despesas com obra
Projetos/consultorias/assessorias
2.500,00
2.500,00
623.000,00
68.000,00
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 123
2.1.1
2. Projeto de arquitetura
20.000,00
2. 4 4 4. 4. 4. 4. 4. 4. É importante a previsão de todos os itens que podem incidir no terreno,
para que não tenhamos surpresas no custo ao longo do processo. Também é
pertinente que seja previsto um custo para contingência de projetos, caso
tenhamos alguma revisão ou projeto inicialmente não previsto.
O desenvolvimento do projeto
Feitas todas as análises e estudos iniciais do projeto, começamos o desenvolvimento
em si, com os primeiros desenhos técnicos. O primeiro projeto a ser
2.1.2
2.1.5
2.1.999
2.
2.3
2.3.1A
2.
Projeto de estrutura concreto
2.
2.99
2.99.1
2.
Projeto de instalações
2.
4.1
Contingência – projetos
Construção de obras (custo raso)
2.
4.1.3
Construção de obras
4.2
Contingência – despesas com obra
4.2.1
Contingências
Desenvolvimento imobiliário
4.
4.2.2
Assessoria de legalização/urbanística
4.
4.3
Despesas de incorporação
4.
4.3.1
4.
4.4
4.4.2
10.000,00
4.
4.4.3
8.000,00
Taxas diversas
Taxas diversas de prefeitura
4.
30.000,00
Emolumentos
520.000,00
520.000,00
IPTU
IPTU Terreno
Despesas administrativas
35.000,00
35.000,00
Cópias e plotagens
184.000,00
Motoboy
10.000,00
10.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
130.000,00
130.000,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
4.5
4.5.2
4.7
4.7.6
4.
4.99
4.
4.99.1
4.
Jurídico
Despesas jurídicas
4.
Despesas de marketing
Despesas publicidade
Contingência – desenvolvimento
Contingências
imobiliário
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 124
desenvolvido deverá ser o de arquitetura, pois é ele que servirá de base para
que todos os outros projetistas desenvolvam seus projetos.
Estudos preliminares
Na primeira fase do projeto, juntamos todos os documentos, levantamentos,
programa de necessidades e croquis e fazemos a emissão do estudo preliminar
de arquitetura, no qual devem constar os primeiros estudos da residência.
Assim, devemos ter, nesse momento:
• A planta do térreo, devendo ser feito, conforme solicitado, um pré-dimensionamento
do salão principal, com banheiros e opções para escoamento
de água pluvial;
• A planta do pavimento superior, devendo ser feito, conforme solicitado,
um pré-dimensionamento das salas comerciais, com banheiros privativos e
opções de layout para locação, com circulação generosa. Deverá ser previsto
acesso ao pavimento superior para pessoas com defi ciência;
• o corte, devendo aparecer as alturas de pé-direito dos ambientes e alturas
de forros e estruturas, como vigas;
• A elevação, que é um desenho de estudo feito quando o arquiteto vai
começar a entender qual o produto, da fachada para as plantas que foram
projetadas, e vemos como fi cam as aberturas e os primeiros estudos, com
os visuais externos, e estudos de acabamentos de fachada; e
• A maquete eletrônica, que serve para entendermos como ficam os
volumes, como essa primeira planta está em relação ao terreno e ao
entorno, quais são os visuais, o que queremos priorizar e o que queremos
esconder.
ASSISTA
Croquis é a etapa inicial de um projeto, o primeiro esboço
feito por um arquiteto e que não requer precisão. Ele é
um jeito rápido e claro de representar a ideia do arquiteto,
por meio de traços abstratos e desenho livre. Para
entender melhor, o canal In Residence, no YouTube, traz
uma explicação completa sobre essa importante parte do
processo arquitetônico.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 125
No estudo preliminar de arquitetura, devem ser feitas as indicações iniciais
de onde serão os pontos hidráulicos, elétricos e localizações de saídas de
ar-condicionado, pois servirão como base para que os projetistas complementares
possam fazer seus primeiros projetos. É fundamental que o estudo preliminar
seja aprovado pelo cliente, antes que seja dado andamento junto aos
demais projetistas. Esse projeto deverá atender ao programa de necessidades
e ter sua área dentro do que é permitido por lei, além de ter uma volumetria
que agrade ao arquiteto e ao cliente.
Os projetistas complementares deverão receber o estudo preliminar de arquitetura
aprovado e, após os primeiros estudos sobre o projeto, deverá ser
feito o estudo preliminar de projetos complementares, que abrange:
• Um projeto de instalações elétricas, que conta com a definição de
um sistema de instalação elétrica, as cargas elétricas necessárias e o
encaminhamento das tubulações elétricas;
• Um projeto de instalações hidráulicas, que conta com a localização
e espaços necessários para hidrômetro, reservatórios de água e suas
dimensões, um melhor posicionamento das tubulações hidráulicas e
esgoto, e a previsão e o pré-dimensionamento de captação das águas
pluviais;
• Um projeto de ar-condicionado, que conta com a definição dos espaços
onde deverá ser previsto o sistema, a previsão de prumadas hidráulicas,
as necessidades elétricas (cargas) e o encaminhamento dos
dutos de ventilação;
• Um projeto de fundações, que conta com a solicitação de sondagens,
se necessário, para verificar o tipo de solo existente no local, a definição
do tipo de fundação necessária para a edificação e a verificação de
necessidade de contenção entre os terrenos vizinhos;
• Um projeto de estrutura, que conta com a definição do tipo de estrutura
utilizada na edificação (estrutura de concreto ou metal), o
dimensionamento dos principais elementos estruturais
(pilares, vigas, lajes), as plantas de cargas preliminares,
para o estudo de possibilidades para o
projeto de fundações, o levantamento preliminar
dos quantitativos de materiais e o projeto de de-
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 126
senvolvimento (PD), levando-se em consideração os entreforros e as
estruturas, como vigas e lajes.
Feitos todos os projetos complementares, todos devem ser enviados para
o arquiteto, que deverá juntá-los e verificar quais são as interferências que
acontecem entre eles. Com base nisso, deve ser gerado um relatório técnico de
compatibilização, para que a arquitetura o considere na nova fase de emissão
do projeto, denominada anteprojeto.
O anteprojeto é a fase em que é feita a consolidação de todos os projetos
desenvolvidos na fase de projetos preliminares, com base no relatório de compatibilização
emitido pela arquitetura, que deverá ser responsável por verificar
todas as interferências do projeto. Essa é a fase em que temos um projeto com
áreas mais definidas, que servirá de base para o desenvolvimento do projeto
legal. Nesse momento, já devemos ter atendido a todas as exigências de produto,
cliente e complementares, além do quadro de áreas consolidado com a área
final, que será enviada para a aprovação. Assim, podemos elencar:
• As plantas dos dois pavimentos, com nomes dos ambientes, indicação de
norte, eixos estruturais principais, cotas, níveis de piso acabado e notas;
• Os cortes, passando por todos os pavimentos, com indicação de níveis e
distâncias piso a piso dos dois pavimentos;
• As elevações, com proposta de aplicação de materiais e cores;
• A apresentação de amostras e estimativas de custos, para opções de materiais
de acabamento;
• O quadro de áreas, definidas para a inclusão no projeto legal.
Após a emissão do anteprojeto, com a consolidação de todos os estudos
preliminares, a próxima etapa é o desenho do projeto legal, para protocolo
do processo, solicitando a aprovação para a execução da obra. Os projetos de
prefeitura são projetos que devem seguir um padrão específico para cada cidade;
por isso, é importante verificar o padrão que deverá ser seguido, de acordo
com a cidade na qual o projeto está sendo desenvolvido.
Nosso projeto, na Rua Bela Cintra, está localizado na cidade de São Paulo, que
exige um projeto com padrão simplificado, somente um plano de massas em que
são indicadas quais áreas terão intervenção e seu respectivo quadro de áreas. O
projeto legal deverá ser feito na escala 1:100 e contará com as plantas dos dois pavimentos
(térreo e superior), dois cortes e quadro de áreas. A Figura 10 traz o exemplo
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 127
de um projeto simplificado padrão na cidade de São Paulo. Além dos projetos, também
deve ser enviada uma série de documentos para a aprovação, sendo eles:
• Plantas, cortes e elevações;
• Tabelas de áreas;
• Memórias de cálculo;
• Quadros solicitados pela municipalidade;
• Levantamento arbóreo (se necessário).
Figura 10. Planta nível térreo não residencial. Fonte: SÃO PAULO, 2017.
Em relação ao prazo de aprovação, é difícil estimar, pois depende muito
do volume de projetos em andamento na Prefeitura, mas o prazo definido
em lei para a análise e aprovação é de 120 dias. Assim, o arquiteto deverá
ser responsável não só pelo protocolo de projeto inicial na Prefeitura, mas
também pelos atendimentos de exigências que a Prefeitura faça em relação
ao projeto. Essas alterações devem ser incorporadas em todos os projetos
em andamento.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 128
Projetos executivos
Como estamos trabalhando com um projeto pequeno, com poucas interferências
de instalações e somente dois pavimentos, podemos passar da
etapa de anteprojeto, que é a consolidação de todos os complementares,
para os projetos executivos, que é o projeto enviado para a execução da
obra, com todos os detalhes defi nidos. Precisamos considerar que a função
da obra é somente executar um projeto de arquitetura bem trabalhado e
elaborado, e por isso, o projeto deverá ter todos os detalhes resolvidos. A
função do arquiteto é pensar em todos os problemas que podem acontecer
e antecipar-se a eles, oferecendo soluções.
O projeto executivo de arquitetura, nessa fase, deverá ser completamente
detalhado, com cotas em todos os ambientes, para que seja de fácil
entendimento a todos. O projeto executivo é feito em uma escala maior,
para que possa ser visível e facilite o entendimento para a obra. O projeto
executivo consiste na elaboração de elementos gráfi cos que indiquem, claramente,
as dimensões e a geometria dos compartimentos e das fachadas;
os materiais a serem utilizados e os acabamentos propostos; e sistemas e
soluções arquitetônicas a serem adotadas. Desse modo, os produtos dessa
etapa são:
• A implantação geral;
• As plantas de todos os pavimentos, de forros com iluminação e de
telhado;
• Os cortes gerais, parciais pelas fachadas e parciais necessários;
• As elevações;
• A paginação de piso e detalhes;
• A especificação de acabamentos;
• O memorial descritivo de acabamentos;
• A indicação, nos elementos do projeto, de execução de todos
os detalhes elaborados;
• As elevações e detalhes principais da caixilharia de
alumínio, em escala adequada;
• Desenhos de detalhes de serralheria, esquadrias
e arremates, em escala adequada;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 129
• Detalhes construtivos e detalhamento das áreas molhadas;
• Paginações de pisos de todas as áreas molhadas e áreas externas;
• Detalhes e especificações de soleiras, artefatos de ferro e serralheria,
madeira e demais materiais ou detalhes necessários para a execução
dos serviços;
• Detalhamento de telhados de cobertura;
• Indicação em planta de nomenclatura de caixilhos;
• Prancha com ampliações de caixilhos e quadro com dimensões, especificações
e quantidade;
• Sistemas de revestimento de piso.
Os desenhos do projeto executivo de arquitetura serão utilizados pelos
projetistas complementares para as compatibilizações finais e revisões
necessárias de seus executivos e detalhamentos. Os projetos executivos
complementares, então, devem ser feitos com base no projeto executivo
de arquitetura, que é o projeto final com todas as instalações.
Nessa fase, os projetos complementares devem conter todos os detalhes,
cotas e especificações para a execução da obra. É fundamental que
todos os projetistas entreguem memoriais descritivos, especialmente de
instalações elétricas, hidráulicas e ar-condicionado, nos quais devem constar
todas as especificações de materiais e equipamentos a serem instalados.
Assim, deverá ser feito:
• Um projeto de instalações elétricas, que conta com a compatibilização
final das interferências, já com as definições das cargas e necessidades
previstas nos projetos executivos de ar-condicionado, irrigação,
luminotécnica, hidráulica e outros, e a entrega de memorial técnico
com especificações técnicas das instalações propostas;
• Um projeto de instalações hidráulicas e ar-condicionado, que conta
com a definição dos espaços e necessidades entre os projetos de hidráulica,
arquitetura, ar-condicionado, estrutura, elétrica, paisagismo
e outros. Além disso, temos a verificação final das furações em vigas
e lajes (marcação em formas), e o memorial descritivo com especificações
técnicas das instalações propostas;
• Um projeto de fundações, que conta com o detalhamento das fundações
e contenções que serão executadas;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 130
• Um projeto de estrutura, que conta com uma planta de formas finais,
uma planta de detalhes e cortes, onde necessários, e uma planta
de locação de pilares e cargas, definitiva, com eixos e cotas. Além disso,
temos a validação das quantidades de concreto e formas, plantas de
armações completas e detalhes construtivos de todas as peças envolvidas,
e os quantitativos de aço da estrutura.
Após o desenvolvimento de todos esses projetos, chega o momento de
o arquiteto fazer a compatibilização entre eles e verificar as interferências
finais. Mais uma vez, deverá ser feito um relatório de compatibilização,
para os projetistas adequarem seus projetos de forma que, na fase final,
todos os itens estejam resolvidos e compatibilizados entre si, não ocorrendo
problemas na execução da obra.
Projeto final
Após a entrega de todos os projetos
executivos dos projetistas
complementares, o arquiteto deverá
fazer uma última análise, com
a emissão do último relatório de
compatibilização, para ter certeza
de que todos os itens foram atendidos
e, com isso, fazer a emissão de
detalhes finais que serão utilizados
para a execução da obra. Esse projeto
final é um projeto técnico em
que constam todos os detalhes para a execução da obra (todos os detalhes
deverão ser contemplados nessa etapa). O detalhamento consiste no
desenvolvimento de todos os elementos necessários à exata execução das
obras civis. Assim, os produtos dessa etapa são:
• As pranchas do projeto executivo revisadas;
• A indicação, nos elementos do projeto, de execução de todos os detalhes
elaborados;
• Os desenhos ampliados das áreas especiais, em escala adequada;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 131
• As plantas e os detalhes, em escala ampliada, dos forros especificados
e seus arremates;
• A especificação de materiais de acabamento, aprovados previamente
com o cliente;
• As paginações de pisos de todos os ambientes;
• Os cortes e detalhes gerais e específicos;
• O detalhamento de todos os caixilhos, composto por planta, elevação
e cortes, tipo de vidro (acabamento) e planilha de esquadrias, com
quantitativos;
• Os detalhes e as especificações de tampos, soleiras, artefatos de ferro
e serralheria, madeira e demais materiais ou detalhes necessários para
a execução dos serviços;
• As planilhas com quantitativos de fechaduras e ferragens, serralheria
e detalhes construtivos;
• As ampliações de áreas molhadas (e outras, quando aplicável), devidamente
indicadas nas plantas e cortes gerais, indicando paginação
dos revestimentos, cotas de pontos de hidráulica, elétrica, iluminação e
outras disciplinas, quando necessário;
• Os detalhes construtivos de escadas, divisórias, gradis, guarda-corpos,
corrimãos, caixilhos, bancadas, marquises, cortes e seções parciais,
cumeeiras, rufos, arremates etc.
Compatibilização de projetos
Um projeto bem defi nido é fundamental para que a execução da obra ocorra
dentro do prazo, dos custos previstos e sem grandes interferências. Para
isso, temos a fase de compatibilizar os projetos, que nada mais é que verifi car
todos eles e entender como estão se comportando, em relação à base e aos
outros projetos. Há, por isso, um fl uxo funcional para o desenvolvimento
de projeto.
Claro que essas etapas podem ser alteradas ou aumentadas,
dependendo da complexidade. De qualquer
forma, a compatibilização de projetos consistirá no
acompanhamento de todos os projetos complementares
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 132
a serem executados por terceiros, visando sua compatibilização com o projeto
arquitetônico. Os trabalhos devem ser programados, no início, de forma a garantir
uma profunda coordenação entre as atividades, promovendo um fluxo
uniforme de troca de informações e evitando alterações ou modificações que
possam influir no cumprimento do cronograma do projeto. A coordenação de
projetos complementares compreende, então:
• O lançamento e o acompanhamento do cronograma do projeto (ou auxílio ao
cliente para sua execução), que será divulgado e acordado entre os projetistas
e o cliente;
• A adequação e/ou inclusão de espaços necessários, “apontados” pelos projetistas
complementares, incluindo ambientes e alturas necessárias, com o objetivo
de evitar incompatibilidades;
• A análise dos projetos complementares, baseada nas premissas previamente
acordadas e em sua compatibilização com o projeto arquitetônico;
• A coordenação de processo e prazo;
• O estabelecimento e a administração do fluxo de informação necessário
em cada etapa de projeto, entre projetistas, consultores, coordenador e
contratante;
• A integração das necessidades dos envolvidos, objetivando uma solução geral
e a máxima eficiência das etapas seguintes do processo de desenvolvimento;
• A disponibilização e atualização da lista de contatos da equipe envolvida;
• As reuniões gerenciais sobre o andamento do projeto e o acompanhamento
do cronograma. Quando necessário, deverá ser apresentado um plano de
ação para melhorar o desempenho e o cumprimento;
• A apresentação semanal de relatório de análise de tendência de atraso, à contratante;
• As reuniões de compatibilização junto à equipe de projetos, sempre que necessário,
para consolidação das informações geradas na etapa (quantas forem
necessárias);
• A emissão de relatórios e o acompanhamento das revisões de projetos, até
sua aprovação;
• A verificação da compatibilidade entre todos os projetos envolvidos, identificando
interfaces e itens não conformes, a fim de orientar as revisões junto ao
arquiteto coordenador (arquitetura) e demais projetistas;
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 133
• O preenchimento do checklist de compatibilização durante o processo de
identificação e resolução de interfaces.
A Diagrama 1 traz o fluxo completo para o desenvolvimento de um projeto,
que pode ser aplicado desde projetos mais simples até projetos completos, de
grandes edifícios. Esse é um fluxo padrão e completo, que pode ser adaptado
conforme a complexidade do projeto desenvolvido.
DIAGRAMA 1. FLUXO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
Escopo de projeto de arquitetura Escopo de projetos complementares
EV
EP (bases)
PE – Projeto
Executivo
AP – Anteprojeto
PL – Prefeitura
Comentários do EP complementares
Comentários do AP complementares
Comentários do PE complementares
Comentários do DT complementares
Emissão inicial de
AP (bases de
anteprojeto)
Premissas dos
complementares
EP complementares
AP complementares
PE complementares
DT e revisão PE
complementares
PB – Pré-executivo
ou projeto básico
(executivo sem cotas)
DT – Detalhamento
e revisão de PE
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 134
Sintetizando
Nesta unidade, conhecemos um terreno e aprendemos como elaborar um
projeto comercial de pequeno porte completo para ele, passando por todas as
etapas de projeto, desde os estudos iniciais do terreno, e pelo projeto legal para
aprovação até o projeto final, que será usado para a execução da obra. Começamos
conhecendo o terreno e o programa de necessidades do cliente, fazendo
os estudos de massa, para escolher a melhor opção, e, a partir daí, começamos
o planejamento para o desenvolvimento do projeto. Conhecemos também quais
são os projetos complementares que devem ser considerados para esse projeto,
bem como as interferências possíveis. Aprendemos, ainda, como é o processo de
compatibilização de projetos, e sua importância para termos um projeto definido
e pronto para executar.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 135
Referências bibliográficas
AMARAL, L. 8 dicas para um projeto de arquitetura de sucesso. Arquiteto
Leandro Amaral. Disponível em: <https://arquitetoleandroamaral.com/como-
-fazer-um-bom-projeto-de-arquitetura/>. Acesso em: 25 jul. 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6492/94: Representação
de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. Disponível em:
<https://www.ufjf.br/projeto3/files/2011/03/NBR-6492-Representa%C3%A7%-
C3%A3o-de-projetos-de-arquitetura.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2020.
CHING, F. D. K. Representação gráfica em arquitetura. 3. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2006.
CPE TECNOLOGIA. Veja 3 tipos de levantamentos topográficos para usar em
seus serviços! CPE Tecnologia. 2018. Disponível em: <https://blog.cpetecnologia.
com.br/veja-os-3-tipos-de-levantamentos-topograficos-para-usar-como-
servico/>. Acesso em: 25 jul. 2020.
FERREIRA, M. Etapas de um projeto arquitetônico. Ateliê da Arquitetura. abr.
2016. Disponível em: <http://ateliedaarquitetura.blogspot.com/2016/04/etapas-
de-um-projeto-arquitetonico.html>. Acesso em: 07 ago. 2020.
KENCHIAN, A. Estudo de modelos e técnicas para projeto e dimensionamento
dos espaços da habitação. 2005. 308 p. Dissertação (Mestrado em
Arquitetura). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005. Disponível em:< https://
teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16132/tde-02022012-143144/publico/
Alexandre_Kenchian_Dissertacao.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2020.
MACIEL, C. A. Arquitetura, projeto e conceito. Arquitextos, v. 4, n. 043.10. São
Paulo, dez. 2003. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/04.043/633>. Acesso em: 07 ago. 2020.
NEUFERT, E. Arte de projetar em arquitetura. 18. ed. São Paulo: Gustavo Gili,
2013
OS Três Tipos de Croquis. Postado por In Residence. (17 min. 42 s.) son. color.
port. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gPVbj3qIFig>. Acesso
em: 07 ago. 2020.
PREFEITURA de São Paulo. Mapa Digital da Cidade de São Paulo. [s.d]. Disponível
em: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.
aspx#>. Acesso em: 07 ago. 2020.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 136
PREFEITURA de São Paulo. Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. São Paulo,
2014. Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16050-de-
31-de-julho-de-2014>. Acesso em: 07 ago. 2020.
PREFEITURA de São Paulo. Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016. São Paulo,
2016. Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16402-de-
22-de-marco-de-2016>. Acesso em: 07 ago. 2020.
PREFEITURA de São Paulo. Lei nº 16.642, de 9 de maio de 2017. São Paulo, 2017.
Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16642-de-09-demaio-
de-2017>. Acesso em: 07 ago. 2020.
PREFEITURA de São Paulo. Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
– SMUL. Código de obras e edificações: Lei nº. 16.642, de 9 de maio de 2017;
Decreto nº. 57.776 de 7 de julho de 2017. COE ilustrado. São Paulo: SMUL, 2017.
Disponível em: <http://www.abrasip.org.br/docs/codigo_de_obras_ilustrado.
pdf>. Acesso em: 07 ago. 2020.
REIS, A. T. Repertório, análise e síntese: uma introdução ao projeto arquitetônico.
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002.
PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II 137