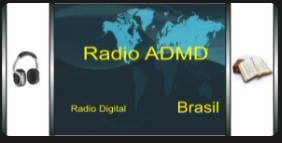da Construção. Nesta unidade, vamos conhecer alguns materiais utilizados
na construção civil, bem como suas principais peculiaridades, propriedades
e fatores que interferem na escolha da forma mais adequada a cada caso.
Não se concebe um projeto ou obra, por menor que seja, sem a utilização
de algum tipo de material de construção, portanto, boa parte da qualidade do
projeto depende da qualidade dos materiais utilizados. Materiais mal especifi -
cados põem muitas vidas em risco. Outro fator importante a ser considerado
é que os materiais são um investimento importante em uma construção, daí
a relevância da nossa disciplina para o aprimoramento e escolha correta dos
materiais.
Portanto, ao estudarmos as propriedades de materiais como gesso, cal,
concreto e aço, entenderemos não somente sua composição química e física,
sua aplicação e as adequadas técnicas de construção, mas também poderemos
desenvolver discernimento crítico sobre qual material utilizar para uma construção,
de acordo com a região ou cidade, analisando as infl uências ambientais,
econômicas e sociais de seu emprego.
Espero que as atividades planejadas sejam amistosas e auxiliem você a
aprofundar seus conhecimentos, além de o munirem com subsídios para sua
atividade profi ssional.
Bons estudos!
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 9
Apresentação
Dedico este livro ao meu esposo, Ioser, por todo incentivo e apoio constante,
aos meus fi lhos, Julia, Lais e Mateus, com muito amor e fé que eles possam
compor um futuro melhor, aos meus pais, Eliza e Rodemberg, por me
guiarem a sempre me dedicar aos estudos e a um pensamento críti co.
A professora Meriellen Nuvolari Pereira
Mizutani é mestre em Cidades
Inteligentes e Sustentáveis pela Universidade
Nove de Julho (2019), possui MBA
em Projetos Aplicados à Construção Civil
pela Faculdade Cidade Verde (2019).
Graduada em Pedagogia pela Faculdade
Villas Boas (2018), em Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade Nove de
Julho (2012) e em Tecnologia em Planejamento
e Gestão de Empreendimentos
na Construção Civil pelo Instituto Federal
de São Paulo (2005). Possui consolidada
experiência dentro do ramo
da Construção Civil desde 2004, com a
gestão de obras e projetos corporativos
para a maior efi ciência, garantindo
conformidades e prazos, o controle de
custos do projeto e sua administração
orçamentária voltada para a redução
de riscos e a aprovação, regularização
e elaboração de projetos residenciais e
comerciais. Também tem experiência
como docente no curso de Graduação
em Arquitetura e Urbanismo.
Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/2670300042910136
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 10
A autora
CIÊNCIA DOS
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
AGLOMERANTES:
GESSO E CAL
1
UNIDADE
Objetivos da unidade
Tópicos de estudo
Apresentar os conceitos dos materiais aglomerantes;
Apontar as propriedades predominantes dos materiais gesso e cal;
Conhecer as origens e processos dos materiais estudados;
Apresentar as técnicas de construção mais adequadas a estes materiais para
uma construção com qualidade, desempenho e durabilidade;
Familiarizar-se com os termos técnicos e desenvolver postura crítica na
escolha dos materiais e técnicas construtivas;
Identificar patologias e falhas resultantes do emprego e manuseio
inadequados dos materiais.
Conceito de aglomerantes
O que são aglomerantes
Gesso
Uso na construção
Gesso acartonado
Normativas
Patologias
Resíduos na construção
Cal
Cal hidratada
Cal hidráulica
Uso na construção
Normativas
Patologias
Principal diferença com os incorporadores
de ar
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 12
Conceito de aglomerantes
Podemos defi nir os materiais de
construção como toda e qualquer
substância utilizada na construção,
desde a implantação e infraestrutura
da obra até a fase fi nal de acabamento.
A expressão “materiais de
construção” abarca uma quantidade
extensa de materiais, dos quais estudaremos,
dentro desta unidade, os
aglomerantes gesso e cal.
Dentro da construção civil, alguns
materiais são aplicados há muitos
anos, como os de natureza igual ao
concreto, e alguns evoluem constantemente,
como o gesso. Com o desenvolvimento
das cidades e do homem,
surge a necessidade de transformação
e evolução dos materiais encontrados
na natureza, criando outros a
partir deles. Os materiais continuam em constante evolução para cumprir
com as necessidades do homem, de modo cada vez mais ágil e com premissas
maiores quanto a qualidade, durabilidade e custo.
Os materiais de uma edifi cação são estipulados seguindo princípios de técnicas
de aplicação, vantagens econômicas e o uso quanto à estética que se deseja
obter. O domínio das propriedades dos materiais a serem empregados possibilita:
• Aumentar a resistência e segurança apropriada a cada tipo de obra;
• Otimizar custos e tempo de construção;
• Melhorar a estética da obra, conciliando a funcionalidade com o design;
• Valorizar o projeto;
• Analisar e entender os procedimentos de logística e armazenagem de cada
material, evitando contato com substâncias que poderiam danifi cá-lo ou inviabilizar
o seu emprego;
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 13
• Avaliar a compatibilidade dos materiais, evitando patologias na interação
de dois ou mais materiais que não reagem entre si;
• Otimizar a construção para que se torne o mais sustentável possível.
A escolha do material a ser adotado no projeto e obra depende da solidez,
durabilidade e custo. Uma parede pode ser construída com diferentes materiais,
cada material conferirá a ela diferentes qualidades e características; cabe
ao arquiteto e ao engenheiro escolherem o melhor material para atender às
condições solicitadas, mantendo uma aparência agradável e uma durabilidade
sufi ciente.
O que são aglomerantes
Aglomerantes são produtos empregados
na construção civil que
atuam na fi xação ou aglomeração dos
materiais entre si. São materiais ativos,
em grande frequência, de forma
pulverulenta (coberto ou cheio de pó),
que proporcionam a ligação entre os
grãos do material agregado inerte. Ao
serem misturados com água, ganham
a capacidade de aglutinar (juntar), formando uma pasta capaz de endurecer
por meio da secagem simples e de suas reações químicas. Temos como exemplos:
cimento, gesso, cal, dentre outros.
Algumas nomenclaturas são utilizadas para a defi nição de uma mistura
aglomerante com outros materiais. Dentre as mais apontadas, podemos citar:
• Pasta: mistura do aglomerante + água;
• Argamassa: mistura do aglomerante + água + agregado miúdo;
• Concreto: mistura do aglomerante + água + agregado miúdo + agregado
graúdo.
De acordo com Eladio Petrucci, autor do livro Materiais de construção (2007)
e um dos principais nomes na área de materiais de construção, os aglomerantes
são divididos em classes de acordo com sua composição e método de
endurecimento, conforme é possível observar no Diagrama 1.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 14
Aglomerantes
Inertes Ativos
Aéreos Simples
Hidráulicos Compostos
Com adições
DIAGRAMA 1. CLASSIFICAÇÃO DOS AGLOMERANTES
Fonte: PETRUCCI, 2007, p. 23.
A classificação dos aglomerantes inertes se dá pelo endurecimento por secagem,
por exemplo, a argila e o barro cru. No caso dos aglomerantes ativos,
o endurecimento acontece por meio de reações químicas, sendo que os materiais
com classificação aérea endurecem com a exposição ao ar e não são
resistentes à água, por exemplo, a cal aérea e o gesso. Para os aglomerantes
hidráulicos, o endurecimento ocorre por meio do contato com a água, um fenômeno
chamado de hidratação ou pega. Exemplos desse aglomerante são a
cal hidráulica e o cimento Portland.
Se observarmos a composição dos aglomerantes, eles podem ser classificados
em aglomerantes simples, com adição e compostos. Observe o
Quadro 1.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 15
Aglomerantes
Simples
Compostos por apenas um componente, têm como
objetivo a melhoria das características fi nais do produto.
Esta adição não ultrapassa os 5% do peso do
material. Um exemplo é o cimento Portland.
Com adição
Constituídos por um aglomerante simples em
quantidades superiores, que empresta propriedades
especiais à mistura, como calor reduzido de
hidratação, menor permeabilidade, menor retração,
dentre outras.
Compostos
pro-
proprieda-
Composto pela combinação dos subprodutos industriais
ou componentes de baixo custo misturados
aos aglomerantes simples. O resultado do aglome-
aglomerante
composto é um produto de custo inferior e
com propriedades específi cas. Como exemplo, teobjetivo
temos
o cimento pozolânico (mistura entre o cimento
Portland e adição de pozolana).
des rante QUADRO 1. CLASSIFICAÇÃO DOS AGLOMERANTES POR MEIO DE
SUA COMPOSIÇÃO
Fonte: PETRUCCI, 2007. (Adaptado).
Outra forma de catalogar um aglomerante
é por meio do tempo que leva
para iniciar o processo de solidifi cação
da pasta em que é utilizado. Este período
inicial de endurecimento é chamado
de pega, portanto, uma forma
de classifi cação é verifi car qual o tempo
de pega, sendo que seu início é o
instante em que a mistura começa a
endurecer e perde parte da sua plasticidade.
O fi m da pega é o momento em
que a mistura se solidifi ca por completo.
A classifi cação por tempo do endurecimento
do aglomerante pode se dar conforme Quadro 2.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 16
Importante frisar que a pega não impossibilita o manuseio da pasta. Além
disso, é durante o processo de endurecimento que ocorrem os ganhos mais
signifi cativos de resistência do material.
EXPLICANDO
A palavra pega está associada à expressão “pegar”, que tem sentido de endurecer
ou solidifi car. Na realidade, a pega relaciona-se ao tempo de endurecimento,
solidifi cação ou enrijecimento de um material. São utilizadas também
as expressões “perda de plasticidade”, “perda de trabalhabilidade” ou ainda
“cristalização”para o entendimento desses intervalos de tempo. A duração da
pega depende de diversos aditivos que retardam ou aceleram este período,
sem danos para a evolução das outras características do material.
Portanto, para a escolha do aglomerante correto, devemos levar em consideração
as características de suas classifi cações, adotando, assim, o que mais
se adequa ao projeto proposto. Também é ideal observar aspectos quanto à
produção do aglomerante, verifi cando os atributos técnicos, econômicos, ambientais
e normativos.
Gesso
É um aglomerante aéreo obtido por meio da supressão parcial ou total
da água de cristalização contida na gipsita, um mineral detectado em
abundância em grande parte do globo terrestre – composto a partir dos
sedimentos de salmoura originados dos antigos oceanos, com formação de
100 a 200 milhões de anos atrás. A obtenção do gesso ocorre por meio de
quatro etapas, conforme Figura 1:
QUADRO 2. CLASSIFICAÇÃO DOS AGLOMERANTES ATRAVÉS DE SEU
ENDURECIMENTO (PEGA)
Aglomerantes
Pega rápida A solidifi cação da pasta ocorre em um intervalo de
tempo inferior a 30 minutos.
Pega semirrápida Pega normal solidifififi A solidifi cação da mistura acontece em um interva-
A solidifi cação ocorre em um intervalo de tempo
intervalo
de 30 a 60 minutos.
entre uma e seis horas.
solidifififi Fonte: SILVA, 1991. (Adaptado).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 17
Mineração: com uso de
explosivos, a gipsita é
retirada do subsolo e
transportada por tratores.
Britagem: a gipsita é
quebrada em partes
pequenas em um britador
específico para gesso.
Pré-moldados: colocado
em formas, o gesso em
em pó é misturado,
formando placas usadas
na construção civil.
Calcinação: depois de moídas,
as pedras são colocadas em
fornos, onde será extraído o
excesso de água.
Figura 1. Processo de produção do gesso. Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 3.
1. Mineração: a extração da rocha gipsita;
2. Britagem: a redução do tamanho com uso de britador;
3. Calcinação: a queima do material para extração do excesso de água;
4. Pré-moldado: gesso em pó é colocado em placas.
No Brasil, as jazidas de grande relevância de gipsitas com alto grau de pureza
podem ser encontradas em nove estados, sendo eles: Amazonas, Pará, Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Tocantins, sendo
que as de melhor aproveitamento econômico se localizam na bacia sedimentar
do Araripe, fronteira entre os estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. O processo
de extração do minério é próximo de 1,9 milhão de toneladas por ano no Brasil;
destes, 59% direcionados à calcinação, 30% ao setor cimenteiro e 11% ao setor
agrícola. O segmento de gesso encontra-se em expansão, com uma taxa de crescimento
anual de 8% e expectativa de crescimento ainda maior.
O processo de queima da gipsita, também chamado de calcinação, compreende
expor a rocha a temperaturas que variam de 100 ºC a 300 ºC e,
deste processo de queima, é atingido o resultado do gesso por meio do
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 18
desprendimento de vapor d'água. Dependendo de qual temperatura for
atingida durante a calcinação, podemos obter produtos diferentes, portanto,
o controle da temperatura é fundamental para atingir o produto final
desejado. Esse processo de queima é realizado em fornos rotativos e pode
ser resumido pela equação química:
CaSO4.2H2O
120 °C - 150 °C - calcinação
(gesso)CaSO4.1⁄2H2O + (vapor d’água) 3⁄2 H2O
O gesso, com a adição da água, faz uma reação exotérmica, ganha características
plásticas e endurece rapidamente, voltando sua composição
original anterior à mistura com a água. É com essa mistura que se obtém
uma fina camada de cristais de sulfato hidratado, que é responsável pela
unidade do conjunto, conhecida também como pega. Geralmente, o tempo
de pega do gesso varia entre 15 e 20 minutos, e é a temperatura da água
que acelera essa pega, portanto, com a água em temperatura mais alta, a
pega será mais rápida e vice-versa.
DICA
A mistura do gesso realizada em temperaturas mais altas tem maior resistência.
As pastas de gesso endurecidas podem atingir resistência a
compressões entre 5 e 15 Mpa.
A quantidade de água no decorrer da mistura interfere como retardador
de pega no resultado final, ou seja, quanto maior a quantidade de água,
mais vagarosamente ocorrerá a pega do gesso e mais poroso e menos resistente
será o produto final. A quantidade necessária de água para a mistura
do gesso, geralmente, é em torno de 50 a 70%. Evitando esse “excesso” de
água, a pega será muito rápida e a pasta ficará mais maleável por tempo
suficiente para sua aplicação.
Das propriedades específicas do gesso, podemos enumerar a elevada
plasticidade da pasta, a pega rápida, finura equivalente ao cimento, baixo
poder de retração na secagem, inibidor de propagação de chamas, estabilidade
volumétrica e elevado equilíbrio higroscópico, ou seja, alta absorção e
liberação de umidade ao ambiente.
A gipsita pode ser proveniente tanto das fontes naturais, por meio da
mineração das rochas, como das fontes residuais, que é o processo indus-
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 19
trial de obtenção do gesso, também chamado de gesso químico ou gesso
sintético. Esse processo se dá por meio da fabricação do ácido fosfórico
(fosfogesso), do ácido fl uorídrico (fl uorogesso), do ácido bórico (borogesso)
e da dessulfurização dos gases da combustão. As semelhanças com a
gipsita natural aparecem, principalmente, no fosfogesso e no sulfogesso.
A gipsita residual é utilizada na produção de componentes pré-moldados
de gesso e na produção do cimento, porém, a viabilidade e consolidação do
seu uso necessita de mais estudos para minimizar o consumo de recursos
naturais não renováveis e, por consequência, os impactos ambientais.
Na construção civil, o formato em pó de gesso é muito usado nas argamassas;
também se utiliza o gesso em formato de placas, mais conhecido
como drywall. Essas placas possuem um processo de fabricação à parte
após o processo de extração e calcinação da gipsita.
Uso na construção
Da mesma forma que a cal e a terracota, o gesso é um dos elementos
construtivos mais antigos produzidos pelo homem. Historicamente, em ruínas
na Síria, identifi cou-se o emprego do gesso por volta do oitavo milênio
a.C. Na África, onde os bárbaros ergueram barragens e canais com um gesso
de resistência altíssima, o material garantiu por muitos séculos a irrigação
da vegetação de Mozabe e suas edifi cações próximas. Outro exemplo é
encontrado a partir de uma carta real de 1292, na França, que descreve a
extração de 18 jazidas de pedra de gesso para uso de argamassa, instalação
de placas de madeira, ambientes fechados e construção de chaminés
monumentais.
Pesquisas de Pinheiro (2011) mostram que foi identifi cada a presença do
gesso no assentamento dos blocos das pirâmides de Gizé, no Egito, como também
em Quéops, no ano de 2800 a.C. Em Israel, amostras datadas de 6000 a.C.,
em Jericó, explicitam o uso do gesso na moldagem de recipientes e afrescos, e
também na utilização em argamassas de revestimento nas ruínas da Síria, no
Turquestão.
Podemos representar os principais marcos do uso do gesso como material
construtivo em três fases:
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 20
QUADRO 3. PERÍODO HISTÓRICO DO USO DO GESSO COMO MATERIAL
CONSTRUTIVO
Fase Período Ocorrência
1
7000 a.C. a 2800 a.C.
300 a.C. a 222 a.C.
Séculos V a XVII
Argamassa, afrescos, moldes
e modelagens.
Extração de gipsita e início do
uso na Europa Ocidental.
Disseminação na Europa.
2 Séculos XVIII a XIX Estudos científicos.
3 Século XX
Agregação de tecnologia – revestimentos,
componentes
para construção, elementos
decorativos – uso mundial.
Fonte: PINHEIRO, 2011, p. 11.
Após o desenvolvimento industrial do século XX, as novas tecnologias e
pesquisas associadas à produção e emprego do gesso proporcionaram uma
fabricação de melhor qualidade e desempenho de pré-fabricados e pré-moldados
e, por consequência, aumentou o emprego na construção civil.
O gesso como material da construção civil pode ser empregado a granel,
como um pó branco de elevada finura e comercializado em sacos de geralmente
50 kg, 20 kg e 1 kg. Neste formato, seu nome pode ser encontrado como gesso,
estuque ou gesso-molde. Ele possui uma boa aderência com tijolos e pedra,
porém é impróprio para superfícies metálicas devido ao risco de corrosão por
conta da junção dos dois materiais.
O gesso em saco é muito utilizado como material de acabamento interior, propiciando
superfícies lisas e podendo substituir a massa corrida e a massa fina.
Outra forma de emprego do gesso é por placas pré-fabricadas, comumente conhecidas
como paredes leves ou drywall, que substituem a construção de uma
parede convencional de alvenaria ou mesmo na execução dos forros.
Componentes de gesso, como placas, blocos e divisórias acartonadas correspondem
a grande parte da produção para uso na construção civil. Veja as
diferenças entre esses três produtos no Quadro 4:
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 21
Nome Características Uso Dimensões
Placa de
gesso
Mistura de gesso e água
com incorporação de aditivos,
fibras e pigmentos.
Forro e rebaixamento de teto.
Placas de 60
x 60 cm ou
65 x 65 cm.
Espessura de
12 a 20 mm.
Blocos de
gesso
Mistura de gesso e água,
com ou sem adições.
Elementos de vedação vertical
(paredes e divisórias internas). São
produzidos três tipos de placas a
ST: placas simples; RF: placas: ST,
placas simples; RF, placas reforçadas
com fibra de vidro; RU, placas
resistentes à umidade.
Chapas
de gesso
acartonado
Processo de laminação
contínua, em que a mistura
de gesso, água e
aditivos é envolvida por
duas lâminas de papel
cartão.
Divisórias internas produzidas nos
três tipos (ST, RF e RU).
Placas de
1,20 x 1,80
m.
Espessura de
12,5 mm.
QUADRO 4. PRODUÇÃO DOS COMPONENTES DE GESSO
Fonte: PINHEIRO, 2011, p. 55. (Adaptado).
Variáveis ST RF RU
Composição química Gesso Gesso e fibras de
vidro
Gesso e aditivos
hidrofugantes
Densidade (kg/m³) 950 - 1100 950 - 1100 950 - 1100
Resistência à compressão
(Mpa) 4,50 - 5,50 4,50 - 5,50 4,50 - 5,50
Peso do bloco (kg) 15 - 16 15 - 16 15 - 16
Dimensões (mm) 666 x 500 666 x 500 666 x 500
Espessura (mm) 70, 80 e 100 70, 80 e 100 70, 80 e 100
Absorção d’água (%) 45 45 4 - 5
Volume vazio (%) 25/c 25/c 25/c
Cor Branco Azul Verde
TABELA 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS PLACAS DE GESSO
Das distinções entres os três tipos de placas de gesso, a Tabela 1 apresenta
as características técnicas de cada um.
Fonte: PINHEIRO, 2011 p. 56. (Adaptado).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 22
Dentre suas propriedades, o gesso apresenta excelente isolamento térmico,
acústico e impermeabilidade do ar. Mas, por se tratar de um aglomerante
aéreo, ou seja, não resistente à água, não é aplicado nos ambientes externos.
Outra vantagem no emprego do gesso na construção civil é o aumento na produtividade
da obra, pois, segundo Queiroz (2007), no Brasil, o caráter praticamente
artesanal das atividades na construção, a falta de serialização e baixa qualifi -
cação da mão de obra corroboram para a baixa produtividade do setor, porém,
se for analisada a produtividade com o emprego das placas de gesso acartonado,
observamos um aumento de produtividade, gerando maior lucro ao setor.
Gesso acartonado
O processo histórico de utilização
do gesso acartonado ganha intensifi
cação e relevância a partir de 1920
nos Estados Unidos, Europa e Canadá;
esses países, na contemporaneidade,
utilizam estruturas de gesso acartonado
em 95% de suas construções. No
Brasil, o gesso acartonado apareceu
em meados de 1972 de forma muito
tímida e, somente após os anos 2000,
passou a ganhar mais força em seu
emprego, principalmente nas construções
comerciais e industriais, em
maior parte nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país.
As placas de gesso acartonadas são elementos pré-fabricados e empregados
como paredes divisórias nas construções. Elas são formadas por uma
mistura de gesso, água e aditivos envolvidas por duas lâminas de papel cartão,
sendo uma grande ferramenta para a elaboração de projetos e obras mais
ágeis, leves e limpas. No Brasil, as chapas de gesso acartonado são produzidas,
principalmente, por três empresas internacionais, seguindo um rigoroso processo
de padronização internacional. A primeira fábrica foi instalada em 1972
na cidade de Petrolina, em Pernambuco.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 23
Existem três tipos de placas de gesso acartonado:
• ST ou standart: nas cores branca, marfim ou cinza, possui espessura de
12,5 mm. É utilizada em áreas secas, sem necessidades específicas;
• RU ou resistente à umidade: com cor esverdeada, é aplicada em áreas
molhadas, como banheiros, lavanderias, cozinhas;
• RF ou resistente ao fogo: na cor avermelhada, possui em sua composição
produtos químicos e fibra de vidro. É utilizada nas construções comerciais e industriais
que exigem mais proteção. Também manuseadas em áreas com baixa
presença de umidade e com exigências especiais em relação ao fogo.
Dentre as vantagens e desvantagens do emprego do gesso acartonado nas
edificações, podemos sintetizar, conforme o Quadro 5, um compilado de diversos
autores em relação ao uso do drywall.
Pode-se compreender que as desvantagens do uso do drywall estão correlacionadas
quanto ao processo de qualificação da mão de obra, uso restrito
em ambientes internos, mudança de cultura no emprego do material dentro
do Brasil e custo elevado de acessórios. Como vantagens, apresenta a redução
de peso da estrutura total da construção/laje, melhoria acústica, facilidade de
construção e manutenção das instalações embutidas, ganho de área com a
redução da espessura das paredes, agilidade no tempo final da obra e redução
no desperdício de materiais.
Processos de extração da
gipsita jazida
Extração e britagem
Transporte
Calcinação
Estocagem
Secador
Mesa de
transferência
Logística
Distribuição
Processos de fabricação do gesso Processos de produção da chapa = sanduíche de gesso
Gesso
Água Aditivos
Cartão
traseiro
Cartão
frontal
Moagem da
gipsita
Misturador
Cilindro de
calandragem
Mesa de formação Guilhotina
Figura 2. Fluxograma do processo de fabricação das chapas de gesso acartonado. Fonte: MARCONDES, 2007, p.107.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 24
Gesso acartonado (drywall) na construção civil
Autores Vantagens Desvantagens
DA COSTA;
DO NASCIMENTO
(2015)
Ganho de área; menor peso; facilidade
de execução de instalações embutidas;
desempenho acústico; superfície lisa e
precisa; facilidade de manutenção das
instalações; rapidez, acelera cronograma,
reduz prazo; vantagens econômicas;
instalação sem danos, de forma
racionalizada e produtiva; flexibilidade
de maior implementação acústica, sem
ganhos significativos em sua espessura.
Deformabilidade das estruturas
de concreto; dependência de
profissionais habilitados em
todos os níveis; carência de
profissionais habilitados para a
construção do sistema no Brasil;
a cultura dos usuários em relação
às vedações internas.
FERREIRA; VISENTIM;
PINTO (2016)
Execução rápida, limpa e menos desperdício
de material; flexibilidade de
layouts; versatilidade na instalação
devido à sua leveza (peso próprio reduzido);
montagem precisa, já que os
materiais são industrializados, necessitando
de pequenos ajustes para moldá-
-los; acabamento perfeito sem muitos
retrabalhos; ganho de espaço no ambiente
(espessura menor) em torno de
4%; fundações e estruturas mais leves
e maior espaçamento entre pilares; facilidade
nos reparos das redes elétricas
e hidráulicas; menos danos materiais;
custos globais com menor efetivo de
funcionários e cronograma mais enxuto;
facilidade de receber vários tipos de
acabamentos.
Alto custo em caso de reformas;
em caso de rompimento da rede
hidráulica, a água tende a percolar
rapidamente, manchando
a placa de gesso (podendo até
danificá-la); custo elevado de
acessórios e poucos locais de
venda; menos resistente, com
restrições a impactos; não resiste
às intempéries, portanto, em
ambientes de atmosfera úmida,
pode ocorrer aparecimento
de fungos; por serem ocas, as
paredes estão mais sujeitas a
criadouros de insetos em seus
vãos internos.
DOS REIS; MAIA;
MELO (2003)
Relocação das paredes de maneira
rápida e fácil; facilidade nos serviços
de instalações elétricas, hidráulicas,
sanitárias, de GLP etc., proporcionando
rapidez, leveza, limpeza, economia,
versatilidade, facilidade dos serviços de
instalações; aumento da área útil dos
cômodos; mão de obra especializada;
bom acabamento, postergação de desembolso.
Mão de obra com pouca qualificação;
necessidade de reforço para
fixação de armários; preço alto;
possibilidade de rejeição pelos
clientes; obrigatoriedade do uso
de grua; isolamento acústico deficiente;
necessidade de cuidados
especiais em áreas molhadas;
atendimento ruim por parte do
fornecedor; manutenção deficiente;
manutenção cara.
QUADRO 5. ANÁLISE COMPARATIVA DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO
GESSO ACARTONADO
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 25
MACHADO et al.
(2014)
Fácil montagem, rapidez e praticidade
de instalação; possibilita redução de
custos com relação aos outros tipos de
blocos cerâmicos.
São exclusivas para ambientes
internos, exigindo maior atenção
para garantir uma boa resistência;
necessitam de planejamento
especial para caso de
serem utilizadas para pendurar
objetos mais pesados.
ROSSO (2016)
Ganho de área útil em ambientes de
qualquer dimensão; facilidade de instalação,
rápida e sem gerar sujeira e
resíduos; excelente acabamento; versatilidade
para a elaboração de projetos
estéticos; ganho de tempo; resistência,
não costuma trincar ou amarelar como
o gesso tradicional; mais tecnológico,
oportuniza melhores instalações elétricas
e hidráulicas; possibilita maior
isolamento acústico e o melhor controle
da temperatura interna do ambiente;
maior funcionalidade.
Em contato com água pode se
dissolver, o que faz com que não
possa ser utilizado em áreas e
espessuras elevadas o trinquem;
tem baixa resistência a choques,
não devendo ser utilizado em áreas
de tráfego intenso de pessoas.
MATTA; MENEZES
(2009)
Retirada da vedação vertical do caminho
crítico da obra; superfície pré-acabada,
facilitando o acabamento final;
construção a seco, levando a possibilidade
de maior limpeza e organização
do canteiro; uso de revestimentos de
pequena espessura; elevada produtividade;
não depende da habilidade do
profissional (artesão); precisão dimensional;
desmontabilidade; menor peso;
possibilidade de embutimento das
instalações.
Resistência mecânica: cargas pontuais
superiores a 35 kg devem ser
previstas com antecedência, para
instalar reforços no momento da
execução; resistência à umidade:
as placas de gesso acartonado não
resistem à alta taxa de umidade;
necessidade de nível organizacional
elevado para obter vantagens
potenciais; barreira cultural do
construtor e do consumidor; falta
de visão sistêmica dos construtores,
de modo que o potencial de racionalização
oferecido pelo sistema
não seja totalmente explorado; a
necessidade de se colocar reforço
com localização predeterminada no
interior das paredes para permitir a
fixação de armários e outros objetos,
como suporte para TV, suportes
para rede, quadros, espelhos etc., o
que gera insatisfação ao consumidor
final, pois dificulta mudanças na
decoração e reorganização interna
do imóvel.
Fonte: OLIVEIRA, 2019, p. 9.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 26
Normativas
A sigla NBR é uma abreviação para Norma Brasileira. A NBR é aprovadapela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a partir de pesquisas
e estudos por profi ssionais gabaritados e órgãos nacionais e internacionais,
regulamentando a qualidade, competitividade e rentabilidade do produto no
mercado. Das NBRs relacionadas ao gesso na construção civil, podemos citar:
• NBR 12127/1991: determina as propriedades físicas do pó de gesso para
a construção.
• NBR 12128/1991: determina as propriedades físicas da pasta de gesso
para a construção.
• NBR 12129/1991: determina as propriedades mecânicas do gesso para a
construção.
• NBR 12130/1991: determina a cristalização e teores de óxido de cálcio no
gesso.
• NBR 12775/1992: determina o método de dimensionamento e propriedades
físicas das placas lisas de gesso para forro.
• NBR 13207/1994: trata sobre as condições de recebimento do gesso a ser
utilizado em revestimento.
• NBR 13867/1997: fi xa as condições exigíveis quanto aos materiais, preparo,
aplicação e acabamento de revestimento interno de paredes e tetos com
pasta de gesso.
• NBR 14715/2001: especifi ca os requisitos para as chapas de gesso para
drywall destinadas à execução de paredes, forros e revestimentos internos
não estruturais.
•NBR 14716/2001: estabelece métodos de verifi cação das características
geométricas das chapas de gesso acartonado
destinadas à execução de paredes, forros e
revestimentos internos não estruturais.
• NBR 14717/2001: estabelece métodos de
determinação das características físicas das
chapas de gesso acartonado destinadas à execução
de paredes, forros e revestimentos internos
não estruturais.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 27
Resíduos na construção
A cadeia produtiva do gesso, na construção civil, apresenta um grande potencial
na contribuição para a sustentabilidade da indústria. Isso ocorre graças
ao seu baixo consumo energético no processo de produção e na viabilidade da
reciclagem dos resíduos gerados ao longo de toda sua cadeia produtiva. O ciclo
de vida de um material é o conjunto de todas as fases pelas quais o gesso ou
qualquer outro produto passa para seu cumprimento na função na cadeia de
produtividade. A investigação do ciclo de vida de um produto é importante para
a contabilização das emissões ambientais e do impacto ambiental.
As atividades produzidas em todas as etapas da cadeia produtiva do gesso
geram resíduos, sendo necessário o gerenciamento de cada etapa no processo
de produção. Há geração de resíduos dentro das três primeiras etapas da cadeia
de produção do gesso, sendo elas:
1) Resíduos na extração e preparação da matéria-prima: durante o processo
de extração e preparação da gipsita, são gerados resíduos dos rejeitos da
extração que são impróprios para a industrialização, além de resíduos da britagem
do minério. A fração mais fi na desta britagem é descartada e destinada à
produção de gesso agrícola; além deste resíduo, a britagem gera material parti-
Patologias
A patologia é o estudo das “doenças” que podem ocorrer nas construções
com o surgimento das primeiras manifestações perceptíveis de algum tipo de
erro ou agressão à edifi cação. Dentre essas patologias, tanto de alvenarias
como das paredes de gesso acartonado e forros no geral, podem surgir desde
manchas após a pintura até trincas na parede. É comum ocorrer trincas devido
à má execução do forro ou parede de gesso, patologia essa oriunda das tensões
e retrações térmicas dos diferentes materiais.
Tanto no forro como na parede podem ocorrer fi ssuras provocadas pelo encontro
entre a viga e o forro, o que compromete a estabilidade e estética da
construção. A quebra da placa do forro ocorre devido à deformação diferenciada
dos tirantes. A degradação do forro pode ocorrer com a infi ltração de água, provocando
gotejamentos ou manchas amareladas tanto no forro como na pintura.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 28
culado (pó), que é considerado um poluente atmosférico de alto risco para a saúde
humana. Ele ocasiona impactos ambientais que podem modificar o ecossistema
da região próxima, reduzindo a vegetação nativa e contaminando o lençol
freático com o aumento da acidez e sulfurização dos mananciais.
2) Resíduos no processo de produção do gesso: durante esse processo, a
gipsita é submetida à estocagem, rebritagem, moagem, calcinação e acondicionamento.
Na rebritagem e moagem são gerados resíduos que geralmente são direcionados
para a indústria agrícola; já nos casos da calcinação e acondicionamento,
os resíduos gerados e o material particulado ficam em suspensão no interior das
usinas, e os gases emitidos através de chaminés dos fornos são poluentes atmosféricos.
Durante o acondicionamento do gesso em embalagens de papel, ocorre
perda de material, gerando resíduos de varrição, que são colocados em embalagens
especiais e comercializados como gesso de baixa qualidade.
3) Resíduos do beneficiamento dos componentes: as peças pré-moldadas
(placas, blocos, chapas e elementos decorativos) são produzidas de forma
manual ou mecanizada – dependendo do porte da empresa. São três etapas:
preparação da pasta, conformação e secagem. A formação de resíduos durante
essa fase depende muito da forma de produção, se artesanal, semiartesanal
ou automatizada. Parte dos resíduos gerados é destinada a descartes credenciados
ou à produção de tijolos de gesso.
Os maiores geradores de resíduos de gesso não estão no processo de produção
e fabricação, mas, sim, durante a construção e demolição das obras
civis, principalmente decorrentes dos desperdícios de materiais resultantes
dos processos construtivos e das atividades em canteiros de obras. Em países
como os Estados Unidos, em que o uso do drywall é intenso nas construções, o
volume de resíduos de gesso é em torno de 20% maior do que demais resíduos
provenientes da construção civil; no Brasil, esse número chega próximo a 10%,
porém com uma variação muito grande entre as regiões.
No País, segundo a Resolução 307/2002 do CONAMA, os resíduos de gesso na
construção civil são classificados como resíduos classe C, ou seja, sem reciclagem e
com necessidade de tratamentos especiais devido à contaminação do solo ou mesmo
lençol freático. Mas, em 2011, essa resolução sofreu alteração e revisão, classificando
o gesso como classe B, ou seja, material possível de ser reciclável, como o papelão,
metais, vidros, madeira e plástico, segundo a Resolução 431/2011 do CONAMA.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 29
Usina reciclagem
Gesso reciclado
hidratado
Benefi ciamento
Chapas gesso acartonado
Resíduo gesso
Coleta
Figura 3. Ciclo de reciclagem do resíduo de chapas acartonadas. Fonte: PINHEIRO, 2011, p. 88.
A reciclagem no Brasil está limitada ao setor de chapas de gesso acartonado, que
possui um sistema próprio e consolidado, sendo que no processo produtivo de construção
e demolição o resíduo é tratado e incorporado à etapa de benefi ciamento.
Cal
É um aglomerante obtido por meio da calcinação de rochas calcárias
constituídas de carbonatos de cálcio e/ou de magnésio a temperaturas elevadas.
Pode ser classifi cado em três tipos: a cal aérea virgem, a cal aérea
hidratada e a cal hidráulica. Em relação à sua composição, as características
da rocha de origem infl uenciam diretamente a composição química da cal.
Observe o Quadro 6:
Este processo de reciclagem é amplamente empregado na Europa, Estados Unidos
e Ásia. Nesses países, o resíduo da obra é recolhido pelo transporte até a usina e
o material é submetido à remoção do contaminante em excesso, triturado e introduzido
novamente no benefi ciamento das chapas acartonadas, permitindo, assim, uma
reciclagem de 100% do material destinado.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 30
Classificação da cal
Cálcica
Sua composição tem no mínimo
75% de óxido de cálcio (CaO) e
apresenta maior capacidade de
sustentação da areia.
Magnesiana
Sua composição tem no mínimo
20% de óxido de magnésio (MgO)
e apresenta misturas mais trabalháveis,
sendo muito utilizada em
argamassas.
QUADRO 6. CLASSIFICAÇÃO DA CAL
O processo de fabricação ocorre sob um rígido controle industrial das
rochas extraídas, selecionadas, britadas e sujeitas a fortes temperaturas em
fornos industriais.
Após a adição de água à cal, a mistura é deixada em descanso. Esse período,
também chamado de envelhecimento, pode variar de duas formas:
• A cal em pedra tem um período de envelhecimento de sete a dez dias
para a cal cálcica e de duas semanas para a cal magnesiana;
• A cal em pó tem um tempo de envelhecimento mínimo de 24 horas.
CURIOSIDADE
A forma correta de se referir à palavra é "a cal", substantivo feminino. Sua
origem vem da palavra em latim calx, que significa pedra calcária. O plural
de "cal" é "cales" ou "cais".
A cal virgem é um aglomerante da resultância da calcinação (queima)
das rochas calcárias (CaCO3) em uma temperatura inferior à de fusão do
material (850 a 900 ºC), compondo-se basicamente de óxidos de cálcio e
pequenas proporções de impurezas de óxidos de magnésio, sílica, óxidos
de ferro e óxidos de alumínio, conforme demonstrado na equação química:
CaCO3 CaO + CO2
900 °C calcinação
Ela é apresentada em forma de grãos de tamanho avantajado e estrutura
porosa, ou em pó, e coloração branca. Após a calcinação, o produto resultante
formado é o óxido de cálcio, ou CaO, porém a cal tem necessidade
de ser transformada em hidróxido para se converter em aglomerante. Essa
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 31
reação química se dá por meio da adição da água, em uma operação chamada
de extinção, que resulta na cal extinta. Quando o processo de adição é
feito em fábrica, passa a ter o nome de cal hidratada. A equação química
que representa é:
CaO + H2O Ca(OH)2 + calor
extinção
A extinção (ou adição de água à cal) é um processo realizado em tanques
próprios. Ao adicionar a água, inicia-se uma reação química com a liberação
de calor. Esse calor, por sua vez, possui reações diferentes dependendo da
estrutura da cal, sendo que, na cal cálcica, a reação é mais forte e acaba
gerando uma grande liberação de calor, atingindo até 400 ºC nos tanques
fechados. A cal magnesiana produz uma reação mais lenta e com temperaturas
mais baixas.
Devido a essa liberação de calor, podemos classificar a cal por meio de
um teste simples dentro da obra, que compreende colocar em um balde
dois a três pedaços de cal (próximo de meio quilo) e encobri-los com água.
A partir disso, analisando o tempo em que ocorre a extinção, classificamos
a cal em três tipos:
• < Cinco minutos: cal com extinção rápida;
• Entre cinco a 30 minutos: cal com extinção média;
• > 30 minutos: cal com extinção lenta.
Após a realização do teste, passamos a conhecer o tipo de material e,
desta forma, escolhemos a maneira mais adequada para realizar a extinção
em grandes volumes. Além do desprendimento de calor, a extinção da cal
apresenta como efeito o aumento de volume ou rendimento da pasta. Pode-
-se classificar a cal conforme seu rendimento em dois tipos.
Classificação
da cal por
rendimento
Cal gorda
Rendimento superior a 1,82, isto é, uma porção de cal dá origem
a mais de 1,82 porções de pasta. Um exemplo deste tipo de cal é
a cal cálcica.
Cal magra
Rendimento inferior a 1,82, isto é, uma porção de cal dá origem a
menos de 1,82 porções de pasta. Um exemplo deste tipo de cal é
a cal magra.
QUADRO 7. CLASSIFICAÇÃO DA CAL CONFORME RENDIMENTO
Fonte: PETRUCCI, 2007, p. 11. (Adaptado).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 32
Cal hidratada
A cal hidratada é encontrada em forma de fl ocos ou em pó de coloração
branca, sendo diferente da cal virgem por conta do processo de hidratação
feito em usina. Por meio dele, a cal é moída e misturada à uma porção exata de
água, conforme equação química a seguir:
CaO + HO2 → Ca(O2H) + vapor
A cal hidratada apresenta maior praticidade de manuseio, transporte e armazenamento,
proporciona maior segurança para os trabalhadores, uma vez
que se encontra pronta para uso e evita queimaduras do processo de extinção
da cal virgem. Como desvantagem, tem um menor rendimento e menor capacidade
de fi xação da areia, revertendo-se em argamassas menos trabalháveis.
A cal hidratada pode ser comercializada nas embalagens de 8 kg, 20 kg, 25 kg
ou 40 kg, facilitando sua estocagem e manuseio. Normalmente, estão disponíveis
no mercado em três tipos, conforme suas propriedades químicas e físicas:
1) CH-I: cal hidratada especial tipo I, com grau de pureza elevado;
2) CH-II: cal hidratada comum tipo II, com grau de pureza intermediário;
3) CH-III: cal hidratada com carbonatos tipo III, com grau de pureza baixo.
Para maior segurança e garantia de qualidade na compra da cal hidratada,
sempre busque nos produtos o selo de qualidade emitido pela Associação Brasileira
dos Produtores de Cal (ABPC) estampado nas embalagens. A cal hidratada
é um dos principais elementos das argamassas e traz a ela abundantes
benefícios, atribuindo, além de durabilidade à edifi cação:
• Poder aglomerante: elevado poder agregador, unindo para sempre os
grãos de areia presentes nas argamassas de assentamento;
• Economia: grande parte das argamassas é calculada em volume e os aglomerantes,
em peso. A cal hidratada, por ter menor massa unitária, possui
maior volume por peso, portanto, reduz o custo do metro cúbico da
argamassa fi nal;
• Plasticidade (liga): composta por partículas muito
fi nas, ao receber água atribui a função de lubrifi cante
e reduz o atrito entre os grãos de areia dentro da argamassa,
propiciando uma maior liga e aderência, além de
aumentar o rendimento da mão de obra;
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 33
• Retenção de água: grande capacidade de retenção de água em torno das
partículas. Reagindo com o CO2 presente no ambiente, a cal libera a água que
reteve em torno das partículas, proporcionando boa cura;
• Poder de incorporação de areia: capacidade de unir determinado volume
de areia. Devido à cal hidratada ser extremamente fi na, possui um grande
número de grãos (partículas) e envolve um maior volume de areia, criando,
assim, uma maior quantidade de argamassa;
• Resistência à compressão e aderência: auxilia no atendimento das normas
técnicas, atribuindo maior resistência à argamassa. Como exemplo, em
um traço de 1:1:6, a resistência à compressão chega a 90 kgf/cm² e a aderência
a 8 kgf/cm² aos 28 dias, segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas;
• Proteção às armaduras: difi culta a oxidação nas ferragens por se tratar
de um produto alcalino, com um pH de aproximadamente 12;
• Compatibilidade com tinta: graças à sua elevada alcalinidade, é um grande
agente bactericida e fungicida, contendo a presença de fungos na construção
e evitando a formação de manchas e apodrecimento precoce dos revestimentos,
além de proporcionar maior durabilidade às pinturas e construções. O
uso da cal permite um acabamento mais liso e de cor mais clara, o que economiza
o uso da tinta na pintura da superfície;
• Módulo de elasticidade: maior capacidade de absorver pequenas movimentações
da construção devido a seu baixo módulo de elasticidade, evitando o aparecimento
de trincas, fi ssuras e possíveis deslocamentos do revestimento;
• Durabilidade: maior durabilidade fi nal da construção.
Cal hidráulica
A fabricação da cal hidráulica também ocorre por meio da calcinação
de uma rocha calcária. Ela se distingue da cal aérea (ou virgem)
pelo material de origem: a rocha calcária terá uma maior
proporção de materiais argilosos, de forma natural ou
artifi cialmente. Da mesma forma que a cal virgem, a
cal hidráulica, depois de calcinação, também passa
pelo processo de extinção, porém, por possuir silicatos
em sua composição, o procedimento é mais con-
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 34
trolado, com a água sendo adicionada na quantidade sufi ciente para propiciar
a extinção do material, mas sem estimular a hidratação precoce dos silicatos
contidos.
A temperatura para o processo de fabricação da cal hidráulica gira em torno
de 1000 ºC a 1500 ºC, preferencialmente em fornos verticais de alvenaria e revestimento
refratário. Por volta de 850 ºC ocorre a calcinação do calcário, libertando
o anidrido carbônico e, após essa temperatura, a sílica reage com o óxido de cálcio
e origina os silicatos de cálcio. Quanto maior a temperatura atingida, menor
será a quantidade de óxido de cálcio e maior a quantidade de silicato.
A cal hidráulica proporciona uma boa trabalhabilidade à argamassa, aumentando
a resistência mecânica, a boa aparência às superfícies, uma maior
rentabilidade da mão de obra e um bom acabamento, melhorando, assim, a
qualidade da construção civil.
Uso na construção
A cal está presente, de forma direta ou indireta, em diversos produtos que
nos rodeiam: papel e celulose, açúcar, alimentos, medicamentos, alumínio, soda
cáustica, couro, defensivos agrícolas, dentre diversos outros. Na construção civil,
aparece especialmente em argamassas de assentamento e revestimento, pinturas,
estabilização de solos, misturas asfálticas e na fabricação de blocos sílico-
-calcários. Adicionar cal às argamassas proporciona melhorias na mistura, como
o aumento da trabalhabilidade, retenção de água, melhor aderência entre os
elementos de construção, aumento na quantidade de agregados e economia. O
custo reduzido da cal também colabora para tornar seu uso muito mais atrativo.
As pinturas à base de cal, também conhecidas como caiação, apresentam
propriedades fungicidas e bactericidas, alta refl exibilidade à
luz e ao calor. Revestimentos feitos de argamassa de cal e
areia são utilizados desde a antiguidade, pois permitem
uma melhor retração, diminuindo o volume e aparecimento
de fi ssuras. A função principal da cal hidratada
é unir eternamente os grãos de areia encontrados nas
argamassas de assentamento e revestimento. Ela pode
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 35
ser fornecida em bags com capacidade de 500 a 2000 kg ou em sacos de 5, 25, 40
ou 50 kg, normalmente em paletes (quando em grandes volumes). Também pode
ser entregue a granel, apesar de não sermuito usual dentro da construção civil.
Seu recebimento e estocagem dentro do canteiro de obras não deve se dar
por longos períodos. É preciso proteger a cal da umidade, e as pilhas de armazenamento
não podem ultrapassar 20 sacos empilhados sob estrados ou chapas
de madeira. Por ser um material sensível, sofre alteração em sua composição
ao interagir com a umidade do ambiente, bem como com o CO2 presente no ar.
Normativas
As normas regulamentadoras concernentes às cales podem ser identifi cadas
por meio de consulta ao catálogo da ABNT, sendo que, dentro da construção
civil, temos associadas as seguintes normativas:
• NBR 6471/1998: trata da retirada e preparação de amostra de cal virgem e
cal hidratada.
• NBR 14399/1999: trata da determinação de água na pasta de cal hidratada
para argamassas.
• NBR 9289/2000: trata da determinação de fi nura da cal hidratada para argamassas.
• NBR 9205/2001: trata da estabilidade da cal hidratada para argamassas.
• NBR 6453/2003: trata dos requisitos no recebimento da cal virgem empregada
na construção civil.
• NBR 7175/2003: trata dos requisitos no recebimento da cal hidratada nas
argamassas para a construção civil.
• NBR 9206/2016: trata da plasticidade da cal hidratada para argamassas.
• NBR 10790/2016: trata da aplicação da cal virgem, hidratada e em suspensão
aquosa no saneamento básico.
Patologias
Patologias são os danos causados na construção pelo emprego incorreto do
material ou por sua baixa qualidade. No caso da cal, diversos fenômenos podem
ocorrer, dentre eles:
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 36
Fenômenos decorrentes da qualidade dos materiais utilizados:
1) A reação da hidratação não é completa na fabricação, aumentando
o volume e provocando o rasgamento do saco da cal armazenada
por tempo prolongado;
2) O aumento do volume por conta da hidratação
contínua pode causar danos ao revestimento, mais
especifi camente na camada de reboco, por conta
do óxido de cálcio ou do óxido de magnésio, que são
absorvidos pelos vazios da argamassa, o que ocasiona
trincas no acabamento com o endurecimento gradativo
do emboço.
Fenômenos decorrentes do traço da argamassa:
1) Se a proporção entre areia, cal e água não estiver adequada,
pode ocasionar o endurecimento, o que resulta na perda da resistência da argamassa;
2) A argamassa magra tem maior porosidade devido à carbonatação, ocasionando
o deslocamento e a desagregação do revestimento.
Principal diferença com os incorporadores de ar
Os incorporadores de ar limitam a tensão superfi cial da água e integram
ou adicionam ar ao concreto, tornando-o mais coesivo e gorduroso,
formando microbolhas que deixam a massa mais
macia e acabam aumentando a resistência mecânica,
reduzindo a segregação e recompondo o acabamento
das faces nas desenformas. Esse processo faz
com que as arestas das peças fi quem mais bem
acabadas. São, portanto, aditivos líquidos que, quando
adicionados ao concreto, modifi cam suas propriedades
físicas. Entretanto, esses aditivos não substituem
o uso da cal, que restabelece a reserva alcalina do concreto e reduz a
porosidade total com a criação de uma estrutura mais consistente, acelerando
a taxa de hidratação do cimento.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 37
Pasta: aglomerante + água
Argamassa: aglomerante + água + agregado
miúdo
Concreto: aglomerante + água + agregado miúdo
+ agregado graúdo
AGLOMERANTES
Ativos
Promove a “ligação” dos materiais
entre si, misturando com água tem o
poder de aglutinar.
GESSO CAL
Aéreos Hidráulicos
Cal
hidratada
Cal virgem
Placa ou aérea
Blocos
Chapa de gesso
acartonado
Material de acabamento
e revestimento interior
utilizado puro em misturas
com areias em forma de
argamassas. Placas para
revestimentos, forros,
divisórias, entre outros.
Endurece com a
exposição ao ar
Argamassas de assentamento
e revestimento, pinturas,
misturas asfálticas,
estabilização de solos,
fabricação de blocos sílicocalcários,
indústria metalúrgia,
entre outros.
Cal hidráulica
Endurece com
a água
Figura 4. Aglomerantes.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 38
Sintetizando
Como vimos nesta unidade, os aglomerantes são fundamentais dentro da construção
civil e da arquitetura, permitindo atribuir mais qualidade e durabilidade aos
projetos e construções.
Aglomerantes unem os materiais entre si, aglutinando-se com água e formando
uma mistura que pode ser classificada em três tipos: pasta, quando o aglomerante
se mistura com a água; argamassa, quando o aglomerante se mistura com a água e
ao menos um agregado miúdo e concreto, quando o aglomerante se mistura com a
água, ao menos um agregado miúdo e um agregado graúdo.
Dentre os aglomerantes mais conhecidos e utilizados em nosso dia a dia, estudamos
o gesso e a cal.
O gesso é um aglomerante ativo aéreo, ou seja, que reage em exposição com
o ar. Sua produção se dá por meio da calcinação da gipsita. É muito utilizado como
material de acabamento e revestimento interior, sendo utilizado puro em misturas
com areias em forma de argamassas, placas para revestimentos, forros, divisórias,
entre outros.
A cal, por sua vez, é um aglomerante aéreo que age em exposição com a água e
é muito utilizado nas misturas de argamassas de assentamento e revestimento, pinturas,
misturas asfálticas, estabilização de solos, fabricação de blocos sílico-calcários,
indústria metalúrgica, entre outros. Sua produção se dá por meio da extração
de rochas calcárias.
Ambos atribuem diversos benefícios ao projeto e obra, intensificando a qualidade
e durabilidade da construção, permitindo uma economia nos materiais, uma vez
que o acréscimo de cal nas argamassas reduz o uso de cimento, um produto mais
caro. O gesso, por sua vez, atribui ao projeto uma agilidade em sua execução, como
também redução na carga da estrutura do prédio, o que auxilia em maior economia
final da obra, reduzindo nos custos fixos diretos e indiretos.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 39
Referências bibliográficas
AGUIAR, L. R.; MELO, I. V. Avaliação da ecoeficiência de programas e projetos
ambientais voltados às micro e pequenas empresas do pólo gesseiro do
Araripe, estado de Pernambuco. 2007. 156 f. Dissertação (Mestrado). Programa
de Pós-Graduação em Gestão e Políticas Ambientais, Universidade Federal
de Pernambuco, Recife, 2007. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/
123456789/6452>. Acesso em: 05 mai. 2020.
BAUER, L. F. Materiais de construção. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, 2019. Vol. 1.
COELHO, A. Z. G.; TORGAL, F. P.; JALALI, S. A cal na construção. Braga: Guimarães,
2009.
GUIMARÃES, J. E. P.; GOMES, R. D.; SEABRA, M. A. Guia das argamassas nas
construções: construindo para sempre com cal hidratada. 8 ed. São Paulo: Associação
Brasileira dos Produtos de Cal, 2004.
GYPSUM. Sustentabilidade. Disponível em: <https://www.gypsum.com.br/pt-
-pt/nossa-empresa/sustentabilidade>. Acesso em: 14 mai. 2020.
MARCONDES, F. C. S. Sistemas logísticos reversos na indústria da construção
civil: estudo da cadeia produtiva das chapas de gesso acartonado. 2007.
365 f. Dissertação (Mestrado). Curso de Engenharia de Construção Civil e Urbana,
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível
em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-08012008-101200/pt-br.
php>. Acesso em: 05 mai. 2020.
MUNHOZ, F.C; RENOFIO, A. Uso da gipsita na construção civil e adequação
para a P+L. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2007_
TR650479_9888.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2020.
OLIVEIRA, F. N. As vantagens e desvantagens do gesso acartonado na construção
civil. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/
artigo_franciney_uninorte_corrigido_para_ser_publicado.pdf>. Acesso em:
05 mai. 2020.
OLIVEIRA, H. M. Materiais de construção I. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
PETRUCCI, E. G. R. Materiais de construção. Porto Alegre: Globo, 2007.
PINHEIRO, S. M. M. Gesso reciclado: avaliação das propriedades para uso em
componente. 2011. 330 f. Tese. (Doutorado). Pós-Graduação da Faculdade de
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 40
Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas, 2011. Disponível em:
<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/257820>. Acesso em: 05
mai. 2020.
QUEIROZ, M. N. Programação e controle de obras. Disponível em: <http://
www.ufjf.br/pares/files/2009/09/APOSTILA-PCO-JAN-20121.pdf>. Acesso em: 05
mai. 2020.
SILVA, M. R. Materiais de construção. São Paulo: Pini, 1991.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 41
CIÊNCIA DOS
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO,
CIMENTO E
ARGAMASSA
2
UNIDADE
Objetivos da unidade
Tópicos de estudo
Apontar as principais propriedades do cimento;
Apontar os principais tipos de argamassa e usos;
Conhecer origens e processos dos materiais estudados;
Apresentar as técnicas de utilização mais adequadas para estes materiais
para garantir uma construção com qualidade, desempenho e durabilidade;
Familiarizar-se com os termos técnicos e desenvolver postura crítica na
análise dos materiais e técnicas construtivas;
Detectar patologias e falhas decorrentes do emprego e manuseio
inadequados dos materiais.
Cimento
Fabricação
Clínquer
Tipos de cimento
Hidratação do cimento
Sustentabilidade no processo
de fabricação
Utilizações na construção civil
Argamassa
Fabricação
Propriedades da argamassa
Contrapiso
Assentamento
Revestimento
Patologias
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 43
Cimento
Bauer (1992) explica que o cimento é um aglomerante hidráulico pulverulento
que, ao se juntar com água, mantém suas características de conservação
das propriedades aglomerantes, formando uma pasta que pode ser facilmente
moldada e que endurece gradativamente.
Silva (1991) nos traz uma perspectiva histórica acerca do uso do cimento.
A palavra cimento é originária do latim caementa, que tem como signifi cado
uma espécie de pedra natural na Roma Antiga. Existem registros de aproximadamente
4500 anos que indicam o emprego de materiais com características
idênticas as do cimento, e temos o Panteão e o Coliseu como grandes
exemplos de obras romanas construídas com solo vulcânico
com propriedades de endurecimento sob a ação da água.
Fabricação
Segundo Oliveira (2008), a fabricação do cimento – patenteado como cimento
Portland – tem origem em 1824, quando um construtor inglês chamado Joseph
Aspdin queimou pedras calcárias e argila em conjunto, e as transformou em um
pó fi no. Joseph percebeu que adicionando água a este pó obtinha uma mistura
que, após secagem, transformava-se em algo tão duro quanto as pedras utilizadas
nas construções, e que, mesmo em contato com a água, não se dissolvia
após endurecer. Porém, alguns estudiosos apontam a existência de produtos
originários da calcinação com grande resistência já em 1756.
Battagin (2009) afi rma que no Brasil, o início dos estudos para a viabilização
da fabricação do cimento Portland se dá em meados de 1888, com a instalação
de uma fábrica em Sorocaba, São Paulo, pelo comendador Antônio Proost Rodovalho.
Mas foi somente em 1892 que a produção de cimento no País se iniciou,
em uma ilha na Paraíba, por iniciativa do engenheiro Louis Felipe Alves da Nóbrega.
Essa primeira fábrica funcionou por apenas três meses e a causa de seu fracasso
foi a grande distância do local de produção para os centros consumidores.
Conforme os estudos de Joseph Aspdin, o cimento é produzido a partir da
mistura de rocha calcária e argila, onde a calcinação (ou queima) dessa mistura
dá origem ao clínquer.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 44
O site Indústria Hoje (2014) resumiu o processo de fabricação do cimento,
que passa pelas seguintes etapas: extração de matérias-primas (rocha calcária
e argila), transporte, britagem, homogeneização, queima, resfriamento,
adições (componentes minerais) e moagem.
Após a britagem da rocha calcária para a redução de suas dimensões,
ela é armazenada, igualmente à argila, em local específi co, e então é encaminhada
para a dosagem, onde se efetua a mistura em proporções adequadas
de rocha calcária e de argila. Essa primeira mistura,
segundo Silva (1991), é chamada de farinha crua. Em seguida,
a farinha é encaminhada para moinhos específi
cos para a redução do tamanho dos
grãos e homogeneização (mistura) do
material. Os silos de homogeneização
misturam os materiais por meio de processos
pneumáticos e de gravidade.
Dentre os componentes fundamentais dos cimentos, Oliveira (2008) cita:
Material Composição química %
Sílica
SiO
2 17 a 25%
Alumina
Al 2O
3 2 a 9%
Óxido de ferro
Fe2O3
0,5 a 6%
Magnésia (porção máxima de 5%)
MgO
0,1 a 4%
Impurezas
----
0,5 a 1,5%
Cal
CaO
60 a 68%
TABELA 1. COMPONENTES DO CIMENTO PORTLAND
Fonte: OLIVEIRA, 2008, p. 27. (Adaptado).
Clínquer
Segundo Bauer (1992), o clínquer (ou clinker) é um produto de natureza granulosa
que resulta da calcinação da mistura de materiais, conduzida até a temperatura
de sua fusão incipiente.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 45
EXPLICANDO
A fusão é a mutação do estado sólido para o estado líquido de um material.
Ela ocorre quando um corpo sujeito a uma dada pressão recebe
calor e sua temperatura atinge um determinado valor. Para as substâncias
puras, os processos de fusão ou de solidifi cação ocorrem sempre a uma
mesma temperatura, que se mantém constante durante todo o processo.
Surgem combinações químicas a partir do clínquer, que resultam na produção
dos compostos citados por Oliveira (2008), e suas proporções infl uenciam
diretamente nos atributos do cimento:
• Silicato tricálcico (C3S): corrobora para a resistência da pasta em todas
as idades; durante a hidratação do cimento (mistura com a água), libera certa
quantidade de calor, sendo que o silicato tricálcico é o que mais libera calor
durante a hidratação;
• Silicato bicálcico (C2S): corrobora para o endurecimento da mistura em
idades avançadas e libera pouco calor durante a hidratação;
• Aluminato tricálcico (C3A): corrobora para a resistência no primeiro dia e
agilidade na pega. É o componente que mais libera calor na hidratação;
• Ferroaluminato de cálcio (C4AFe): apresenta pouca infl uência nas características
da mistura.
Tipos de cimento
Bauer (1992) explica que o cimento pode ser dividido em três grupos principais:
os cimentos endurecidos em ar, os cimentos endurecidos em água e os cimentos
resistentes a ácidos. Na maioria dos casos, sua comercialização é feita em sacos
de papel contendo 50 kg de material, ou a granel, no caso de grandes volumes e
de acordo com as adições e a resistência à compressão mínima após os 28 dias.
Independentemente do tipo de cimento, seu armazenamento deve seguir alguns
cuidados especiais, e, justamente por ser um aglomerante hidráulico e reagir
com a água, não deve fi car exposto à umidade e precisa ser estocado em local
seco, coberto e fechado, afastado do chão por meio de páletes. O estoque empilhado
dos sacos não pode ultrapassar 10 unidades e recomenda-se que não fi que
estocado por mais de três meses a partir da data de fabricação, portanto, é importante
observar a data de fabricação no ato da compra.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 46
Cimento Sorel
Cimentos com oxicloretos (mais conhecidos como cimento Sorel) são considerados
aglomerantes especiais e são
preparados por meio de uma mistura
de magnésia calcinada com cloreto
de zinco e óxido de zinco com cloreto
de magnésia. Após a pulverização da
magnésia, é agregada à mistura ainda
seca o cloreto de magnésio em uma
solução concentrada de 22 graus Baumé,
permitindo mais trabalhabilidade
à argamassa. O cimento Sorel dá pega
em tempo inferior a 24 horas e endurece
completamente antes de quatro meses, o material obtido é especialmente
duro e possui muita resistência à abrasão, porém sofre deterioração com ação
sistemática da água, sendo assim, seu uso não é indicado para áreas externas.
Cimento resistente à ação de ácidos
De um modo geral, os aglomerantes utilizados na construção possuem um
comportamento satisfatório em meio alcalino, não resistindo ao ataque de
meios ácidos ou com pH baixo. Os produtos aglomerantes que resistem à ação
dos ácidos são produtos orgânicos que usualmente são encontrados nas resinas
e nos plásticos. Das resinas especiais podemos citar o furano, o fenólico, o
enxofre e o epóxi, e apresentaremos suas características na Tabela 2.
Os cimentos de resinas furano são produtos com excepcionais qualidades
de resistência a uma larga variedade de agentes corrosivos, porém não resistem
aos ataques de ácido nítrico, ácido sulfúrico concentrado, ácido crômico
e cloro. Os cimentos fenólicos têm características semelhantes aos cimentos
de resina furano, porém seu comportamento não é satisfatório em meio alcalino.
Os cimentos de enxofre (após a fundição do enxofre) resistem satisfatoriamente
a ácidos, mas não são usados em misturas com materiais inertes. Os
cimentos de resina epóxi são derivados do fenol e têm propriedades físicas e
químicas semelhantes ao furano e ao fenólico, com excelentes propriedades
de adesão, sendo muito utilizados em reparações de concreto danificado, pois
permitem a perfeita ligação entre o concreto novo e o concreto velho.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 47
Furano c/
carvão
Fenólico c/
carvão
Enxofre c/
carvão
Epóxi c/
carvão
Resistência à tração MPa 8,5
9
4,5
11
Resistência à compressão MPa 100
10
42
110
Densidade 1,4
1,4
2,2
1,4
Coefi ciente de dilatação °C-1 · 10-6 11
11
14
11
Adesão ao tijolo MPa 3,5
2,8
2,8
3,5
Máxima temperatura em serviço °C 190
190
95
95
TABELA 2. CARACTERÍSTICAS DOS CIMENTOS ESPECIAIS
Fonte: BAUER, 1992, p. 31. (Adaptado).
Cimento Portland
Segundo Bauer (1992), o cimento Portland tem em sua constituição essencialmente
silicatos de cálcio hidráulicos e sulfato de cálcio natural, obtidos por
meio da pulverização do clínquer. Possui eventuais adições de certas substâncias
que modifi cam suas propriedades ou facilitam seu emprego. Conforme
explicação da ABCP [s.d.], o cimento brasileiro possui uma grande versatilidade
e pode atender a variados tipos de obras, sendo o cimento Portland comum
uma grande referência por suas características e propriedades.
O cimento Portland pode ser classifi cado em diversos tipos que se diferenciam
de acordo com a proporção de clínquer, dos sulfatos de cálcio e das
adições (tais como escórias, pozolanas e material
carbonático) acrescentadas no processo de
moagem durante a fabricação. A diferenciação
também pode ocorrer de acordo com a
função das propriedades intrínsecas, como a
alta resistência inicial, a cor branca, dentre outras.
Tanto a nomenclatura do cimento Portland como a identifi cação
dos tipos e variações são compostas em partes, conforme
representado na Figura 1.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 48
Figura 1. Identifi cação dos tipos de cimento.
(1) Abreviatura
de cimento
(3) Composição e adições
(4) Classe de resistência
(MPa): resistência à
compressão do corpo de prova
(2) Tipo de cimento:
algarismos romanos de I a V
Podemos extrair diversas informações das classifi cações e identifi cações
dos tipos de cimento, e, a partir da Figura 1, podemos gerar o Quadro 1, apresentando
cada variedade possível.
(1) (2) (3) (4)
IV - Pozolânico
V - ARI
B - Branco
QUADRO 1. CLASSIFICAÇÕES DO CIMENTO PORTLAND
Sempre estará
indicado CP, que
é a abreviatura de
Tipo de cimento
cimento Portland
I - Comum
II - Composto
III - Alto forno
Composto
E - Escória
Resistência mecânica,
Z - Pozolana
em MPa
F - Fíler
25
32
40
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 49
O tipo de cimento é retratado por números romanos de I a V, seguidos
ou não de letras, de acordo com a composição de adição. Um mesmo tipo
de cimento pode ter diferentes classes de resistência, que são representadas
por um número correspondente à
resistência mecânica em megapascal
(MPa), obtida em ensaio específico.
Este ensaio, segundo Oliveira (2008),
é descrito pela NBR 7215 de forma
detalhada, e tem como objetivo principal
moldar amostras (também chamadas
de corpos de prova) de uma
argamassa composta por uma medida
de cimento e três medidas de
areia. As amostras são mantidas em
condições adequadas e ensaiadas em
idades ou períodos de 1, 3, 7 e 28 dias.
Os resultados mínimos de resistência obtidos nesses ensaios para que tenhamos
qualidade no produto final é de 8 MPa na idade de três dias, 15 MPa na
idade de sete dias e 25 MPa na idade de 28 dias. A resistência de 25 MPa é o
mínimo apresentado nas opções de cimento, segundo o Quadro 1.
EXPLICANDO
Para realizar um teste de amostragem de modo eficaz, o ideal é retirar
no mínimo seis corpos de prova (cilindros moldados com diâmetro
de 10 cm e altura de 20 cm) da concretagem realizada a cada lote de
caminhão betoneira que chegar na obra.
As adições ao cimento, segundo a ABCP [s.d.], melhoram certas características
do concreto e preservam o ambiente ao aproveitar resíduos, diminuindo
as emissões de gases e a extração de matéria-prima. Desde 2018, a NBR 16697
reuniu em uma única norma todos os tipos de cimento, desde suas dosagens
adequadas, aplicações, análises de características e propriedades. Quanto à
classificação por tipos de cimento, essa separação acontece de acordo com
a composição e a classe de resistência, e segundo Petrucci (2007), os tipos de
cimento podem ser apresentados conforme o Quadro 2.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 50
Sigla
Composição
Classe
de
resist.
MPa
Norma Uso
Descrição
Clínquer +
gesso
Escória
alto forno
Pozolana
Fíler
CP I
Composto em
grande parte
de clínquer,
com pequena
adição de gesso
(5%)
100 0 25, 32
e 40
NBR
5732
Indicado em
construções sem
necessidade
de condições
especiais e que
não fiquem
expostas a agentes
agressivos (águas
subterrâneas,
esgotos, mar). Por
conta do grande
uso de clínquer em
sua composição,
seu custo é muito
elevado e por isso
é pouco fabricado
CP I-S
Cimento CP I
com a adição
de material
pozônico
95-99 1-5 25, 32
e 40
NBR
5732
CP II-E
Tem adição
de escória
granulada
de alto forno
e confere
baixo calor de
hidratação ao
cimento
56-94 6-34 0-10 25, 32
e 40
NBR
11578
Indicado para
estruturas que
necessitem de
desprendimento
de calor
moderadamente
lento e que
possam ser
agredidas por
sulfatos em seu
entorno
CP II-Z
Tem adição
de material
pozolânico e
confere menor
permeabilidade
à mistura
76-94 6-14 0-10 25, 32
e 40
NBR
11578
Obras
subterrâneas
marítimas com
presença de água,
em pré-moldados
e concreto
protendido
CP II-F
Tem adição
de material
carbonático ou
fíler
90-94 6-10 25, 32
e 40
NBR
11578
Obras de
concreto armado,
argamassa de
assentamento
e revestimento
de pisos e
pavimentos, todos
em meio não
agressivo
QUADRO 2. TIPOS DE CIMENTO
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 51
CP III
Adição de
escória
conferindo
baixo calor de
hidratação,
maior
permeabilidade,
durabilidade
e maior
resistência a
sulfatos
25-65 35-
70 0-5 25, 32
e 40
NBR
5735
Obras de grande
porte e sujeitas
a condições de
alta agressividade
(barragens,
fundações, tubos
para condução
de líquidos
agressivos,
esgotos efluentes
industriais, obras
submersas,
pavimentação de
estradas, pistas de
aeroportos etc.)
CP IV
Adição de
pozolana, conferindo
impermeabilidade
e
durabilidade às
misturas
45-85 15-
50 0-5 25 e 32 NBR
5736
Obras com
exposição à ação
de águas correntes
e ambientes
agressivos.
A resistência
mecânica
do concreto
é elevada, a
longo prazo, em
comparação aos
demais cimentos
comuns
CP V-ARI
Alta resistência
inicial sem
adição especial.
Possui um
percentual
diferenciado
de argila e
uma moagem
mais fina que
os demais
cimentos,
sendo que sua
hidratação é
mais rápida
95-
100 0-5 14, 24
e 34
NBR
5733
Obras com
necessidade de
desforme rápido
do concreto
(prazo apertado),
e na confecção de
elementos prémoldados,
blocos,
postes, tubos. A
resistência mínima
adquirida é de 14
MPa em um dia, 24
MPa em três dias
e 34 MPa em sete
dias
CP V-ARI RS
Resistentes
a sulfatos
com adições
carbonáticas.
Admite adição
de escória
ou material
pozolânico sem
faixa de limites
0-5 NBR
5737
Obras de rede
de esgotos de
águas servidas ou
industriais, água
do mar e alguns
tipos de solos
Cimento aluminoso
De acordo com Petrucci (2007), o cimento aluminoso é resultante do cozimento
da mistura de bauxita com calcário. Ele possui uma pega lenta e consegue
alcançar altas resistências em pouco tempo, sua hidratação é intensa e
libera grandes quantidades de calor. Justamente por conservar essas características,
é muito utilizado como cimento refratário, resistindo a temperaturas
de até 1400 °C, mas não é fabricado no Brasil.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 52
Cimento branco
O cimento branco, consoante explicação de Oliveira (2008), é resultante da
mistura de caulim no lugar da argila, por isso a cor branca. É encontrado no
mercado para venda com a sigla CPB e possui baixo teor de óxido de ferro e
manganês. Ele pode ser atribuído durante sua fabricação a condições especiais,
podendo ser do tipo estrutural ou não estrutural. Sua maior utilização é
para fi ns arquitetônicos, permitindo uma estética mais leve do que o cimento
cinza convencional, além de ser utilizado no rejuntamento de azulejos e aplicações
não estruturais. Uma grande vantagem é que ele pode ser associado a
pigmentos, resultando em concretos coloridos.
Hidratação do cimento
A hidratação do cimento nada mais é que a liberação de calor durante a
reação química do clínquer com a água. Esse processo ocorre nas primeiras
horas após a aplicação da mistura de cimento com água (concreto), que também
podemos chamar de cura do concreto, tendo justamente o objetivo de
evitar a perda da água e o surgimento de problemas como trincas, fi ssuras e
porosidade.
O resultado do processo de hidratação é o endurecimento do material.
Assim, existe a formação dos silicatos de cálcio hidratados que, juntamente
com o calor da hidratação, infl uenciam nas propriedades mecânicas e físicas
do concreto depois de endurecido.
É necessário conhecer as características de cada tipo de cimento, pois a
composição química interfere no método de cura e na hidratação, portanto,
caso opte por um tipo de cimento inadequado
para determinada situação,
corre-se o risco de ocorrer redução da
durabilidade do concreto, trazendo
sérias consequências à obra. Dentre
os quatro componentes principais do
cimento, cada um reage de uma forma
diferente ao calor da hidratação,
conforme verifi ca-se no Quadro 3.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 53
Nome Fórmula Descrição Liberação de calor
Silicato bicálcico C2S
É responsável pela
Silicato tricálcico 3S
É responsável pela
resistência do concreto
em todas as idades, mas,
em especial, nas idades
iniciais
Libera calor logo após
sua aplicação
Ferroaluminato
tetracálcico C
4AF
Aluminato tricálcico C3A
Reage com a água
formando a etringita
Libera calor nas
primeiras horas
QUADRO 3. CALOR DE HIDRATAÇÃO SEGUNDO A COMPOSIÇÃO DO CIMENTO
resistência do concreto
C
nas idades mais
avançadas
Não possui infl uência na
Libera calor
resistência
lentamente
Já existe no mercado cimentos de baixo calor de hidratação, que possibilitam
retardar o desprendimento do calor e são indicados para elaboração
de peças de grande massa de concreto, permitindo evitar fi ssuras térmicas.
Mas outra forma de se abaixar o calor da hidratação sem o uso de cimentos
especiais de alto custo é prestando atenção ao horário da concretagem, pois
as condições climáticas interferem muito na liberação de calor e a exposição
excessiva ao sol pode comprometer a reação. Portanto, é recomendável evitar
a concretagem em horários com sol a pino, sendo sempre ideal sua programação
no fi nal da tarde ou em dias nublados. Também pode-se reduzir o
calor da hidratação pulverizando água.
Sustentabilidade no processo de fabricação
Enfrentamos, cada vez mais, graves problemas ambientais oriundos das
ações humanas. Pensando nisso, indústrias e empresas vêm em busca de
soluções sustentáveis em sua produção. Segundo Maury e Blumenschein
(2012), no Brasil, os movimentos ambientais estão intrinsecamente ligados à
questão da produção industrial e seus impactos ao meio ambiente e à saúde
humana. Como o cimento é a base dos métodos construtivos atuais, é necessário
pensar em maneiras de reduzir os impactos gerados por sua produção.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 54
ASSISTA
Para saber mais sobre o processo da fabricação do cimento
aliado à sustentabilidade, assista ao vídeo Mapeamento
tecnológico do cimento: Roadmap Brasil, publicado no site
da Associação Brasileira de Cimento Portland.
A indústria do cimento é responsável por aproximadamente 3% das emissões
mundiais de gases de efeito estufa e por 5% das emissões de CO2. Para o controle da
poluição gerada nos pátios fabris de cimento, estabeleceu-se a Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 003/1990, com os padrões de emissão para
materiais articulados, metais pesados, cloretos, monóxido de carbono e dioxinas.
Vários aspectos dentro do processo produtivo do cimento podem ser vinculados
às questões ambientais. Veja alguns desses impactos elencados por Maury
e Blumenschein (2012, p. 82), que devem ser observados, fi scalizados e, quando
possível, evitados:
• Extração de matéria-prima (argila, areia e calcário) nas pedreiras: fl uidos,
impactos na paisagem, vibrações do terreno, emissão de gases, arremessos de fragmentos
e poeira, cavas abandonadas, desmoronamentos e erosões;
• Dragagem de rios: contaminação de águas com substâncias tóxicas, diminuição
da qualidade da água dos leitos, perturbação de habitats e redução de biodiversidade,
alterações batimétricas (aprofundamento de canais e cursos d’água) e ruídos
gerados pelo funcionamento das dragas;
• Moagem de calcário: poeira, ruídos, eletricidade;
• Produção de clínquer: poeira, emissão de gases, dióxido de carbono (CO2), dióxido
de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), micropoluentes, gases oxidantes,
óxidos nitrogenados, compostos de chumbo, calor e uso de combustíveis;
• Moagem do cimento: poeira, ruídos, eletricidade e matérias-primas;
• Armazenamento e frete: poeira, ruídos e combustíveis.
Utilizações na construção civil
Como já citado anteriormente, o cimento é utilizado desde as mais remotas
construções e, na atualidade, é muito empregado na construção civil como um
dos principais componentes. Geralmente, quando se fala em cimento, também
se fala em concreto, e ambos são indispensáveis em nossos projetos e obras.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 55
A escolha do tipo de cimento a ser empregado dependerá, portanto, das necessidades
relacionadas à resistência, trabalhabilidade, durabilidade e impermeabilidade.
Em cada região do Brasil você pode encontrar um tipo de cimento
com maior disponibilidade que em outra. O Quadro 4, desenvolvido por Arnaldo
Forti Battagin e divulgado no Portal AECweb [s.d.] pode auxiliar a esclarecer
quais tipos de cimento utilizamos para cada categoria de serviço ou projeto.
Aplicação Tipo de cimento Portland
Argamassa de assentamento de azulejos e
ladrilhos
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F) e pozolânico
(CP IV)
Concreto simples (sem armadura)
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto forno
(CP III) e pozolânico (CP IV)
Concreto armado com função estrutural
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto forno
(CP III), pozolânico (CP IV), de alta resistência
inicial (CP V-ARI) e branco estrutural (CPB
estrutural)
QUADRO 4. TIPOS DE CIMENTO E APLICAÇÕES
Argamassa de revestimento e assentamento
de tijolos e blocos
Argamassa de rejuntamento de azulejos e
Concreto magro (para passeios e enchimentos)
ladrilhos
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto forno
(CP III) e pozolânico (CP IV)
Branco (CPB)
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto forno
(CP III) e pozolânico (CP IV)
Concreto protendido com protensão das
barras antes do lançamento do concreto
Concreto protendido com protensão das
barras após o endurecimento do concreto
Concreto armado para desforma rápida,
curado por aspersão de água ou produto
Concreto armado para desforma rápida,
curado a vapor ou com outro tipo de cura
químico
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), alta
resistência inicial (CP V-ARI) e branco
térmica
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto
forno (CP III), pozolânico (CP IV) alta resistência
estrutural (CPB estrutural)
inicial (CP V-ARI) e branco estrutural (CPB
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto forno
(CP III), pozolânico (CP IV), de alta resistência
inicial (CP V-ARI) e branco estrutural (CPB
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto forno
estrutural)
(CP III), pozolânico (CP IV), de alta resistência
inicial (CP V-ARI) e branco estrutural (CPB
estrutural)
estrutural)
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 56
Elementos pré-moldados de concreto e
artefatos de cimento curados por aspersão
(CP II-E, CP II-Z, CP II-F) e branco estrutural
Solo-cimento
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto forno
(CP III) e pozolânico (CP IV)
Argamassas e concretos para meios agressivos
(água do mar e de esgotos)
De alto forno (CP III), pozolânico (CP IV) e
resistente a sulfatos
Concreto-massa
De alto forno (CP III), pozolânico (CP IV) e de
baixo calor de hidratação
Fonte: PUGLIESI, [s.d.]. Acesso em: 13/05/2020. (Adaptado).
Argamassa
A argamassa precisa de desempenho e durabilidade ideais para atuar, protegendo
contra os agentes agressivos (por exemplo, umidade, vento, calor, ruídos
etc.), facilitando que as vedações regulem a superfície dos elementos. Ela
também apresenta importante função para os demais revestimentos e para a
estética da fachada.
Com o passar do tempo, o uso da cal virgem nos canteiros de obras (que
buscavam velocidade) e menos área utilizada nos canteiros fi zeram aumentar a
necessidade na fabricação e comercialização de argamassas, conforme afi rma
Recena (2011). Inicialmente, as madeireiras fabricavam argamassas a partir da
cal e da areia, chamadas de argamassas brancas ou intermediárias. Ela é justamente
intermediária porque a argamassa fi nal, que é aplicada efetivamente, é
a que recebe o acréscimo do cimento Portland.
Elementos pré-moldados de concreto e
artefatos de cimento para desforma rápida,
curados a vapor ou com outro tipo de cura
de água
Pavimento de concreto simples ou armado
térmica
Pisos industriais de concreto
De alta resistência inicial (CP V-ARI), composto
Concreto arquitetônico
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto forno
(CP III), Pozolânico (CP IV) e branco estrutural
(CPB estrutural)
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto forno
(CPB estrutural)
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto forno
(CP III) e pozolânico (CP IV)
(CP III), pozolânico (CP IV) e de alta resistência
inicial (CP V-ARI)
Branco estrutural (CPB estrutural)
Concreto com agregados reativos
Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de alto forno
(CP III) e pozolânico (CP IV)
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 57
Fabricação
A argamassa é a adição de aglomerantes com água e agregados minerais e
sua classifi cação se dá quanto à sua utilização, quanto ao aglomerante utilizado,
ao número de aglomerantes, à dosagem e à consistência, conforme podemos
observar no Quadro 5.
Utilização
1. Assentamento para elementos de alvenaria;
2. Revestimentos;
2.1. Preparadas no canteiro de obras;
2.2. Pré-fabricadas
Comuns – emboço e reboco
Especiais – acabamento fi nal;
3. Assentamento de pisos, azulejos e pedras;
3.1. Preparadas no canteiro de obras;
3.2. Pré-fabricadas.
Aglomerante
1. Argamassa de cal;
1.1. Cal hidratada (em pó);
1.2. Cal virgem (em pedras ou em pó hidratada no canteiro);
2. Argamassa de cimento;
3. Argamassa de gesso;
4. Argamassa de cal e cimento;
4.1. Mistas;
4.2. Compostas.
Número de aglomerantes 1. Argamassa simples (apenas 1 aglomerante);
2. Argamassa composta (2 ou mais aglomerantes).
Dosagem
1. Magras ou pobres (o volume da pasta não ocupa todos os
vazios entre os grãos dos agregados);
2. Cheias, normais ou básicas (o volume ocupa os vazios
exatos entre os grãos dos agregados);
3. Gordas ou ricas (quando existe um excesso de pasta).
Consistência
1. Secas;
2. Plásticas;
3. Fluidas;
QUADRO 5. CLASSIFICAÇÃO DAS ARGAMASSAS
Das argamassas colantes industrializadas disponíveis no mercado, encontramos
a classifi cação de quatro tipos, sendo que cada uma tem uma melhor adequação
de uso:
• AC-I: é usualmente empregada no assentamento de revestimentos e pisos
cerâmicos em ambientes internos, sendo utilizadas tanto em áreas secas como
em áreas molhadas;
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 58
• AC-II: é usualmente empregada em ambientes internos e externos que necessitem
absorver as variações de temperatura, umidade e ação do vento dos
revestimentos cerâmicos e dos pisos, portanto, sua utilização é muito indicada
para fachadas, revestimentos de piscinas de água fria e áreas públicas;
• AC-III: é muito mais aderente entre as argamassas, sendo indicada para o
assentamento cerâmico das fachadas, onde o risco de acidentes por queda é
muito grande. Também é indicada para os revestimentos de piscinas de água
quente e sauna, ou mesmo para placas maiores que 60 x 60 cm.
• AC-III E: argamassa com maior tempo de cura.
Da mesma forma que o cimento, seu armazenamento deverá preservar as
questões de afastamento de umidade, ficando em cima de tablados de madeira
(páletes) por se tratar de um material pulverulento, que tem reação com o contato
com a água.
Além da questão do armazenamento, outro item importante a ser observado
no canteiro de obras é o traço empregado nas argamassas.
EXPLICANDO
O traço é a proporção entre os materiais componentes, e pode ser
especificado em massa, volume ou peso. São essas as proporções q ue
definem se a argamassa será mais ou menos forte, e mais ou menos
resistente aos agentes agressivos.
Para argamassas dosadas sem o ensaio em laboratório, que é o caso de argamassas
prontas, a resistência à compressão esperada é menor que 6 MPa para
uma proporção de um saco de cimento, com 10 dm³ de cal, mais 133 dm³ de
agregado miúdo e 40 cm³ de água.
Segundo Mohamad e colaboradores (2009), para argamassas
com resistência superior, ou mesmo com características específicas,
é necessário ensaio em laboratório para a
definição dos traços mais adequados. As normativas
ASTM C-270 e BS-5628 regem as discriminações
quanto ao traço das argamassas,
verificando a consistência e a retenção
de água para as argamassas em estado fresco,
conforme observa-se nas Tabelas 3 e 4.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 59
Tipo CP* Cal
hidráulica
Proporção de
agregado
RC**
(MPa)
RA***
(%)
Ar na
mistura (%)
M
1
0,25
Maior que 2,25
e menor que 3
vezes a soma
dos volumes de
aglomerantes
17,2
> 75
12
S
1
0,25 a 0,50
12,4
> 75
12
N
1 0,50 a 1,25
5,2
> 75
14****
O
1
1,25 a 2,25
2,4
> 75
14****
Tipo
Tipo de argamassa Resistência à compressão
média em 28 dias (MPa)
cim:cal:areia cim alv:areia cim:areia plast Testes
laboratoriais
Testes in
situ
M 1:0 a 0,25:3
--- --- 16,0
11,0
S 1:0,5:4 a 4,5
1:2,5 a 3,5
1:3 a 4
6,5
4,5
N
1:1:5 a 6
1:4 a 5
1:5 a 6
3,6
2,5
O
1:2:8 a 9
1:5,5 a 6,5
1:7 a 8
1,5
1,0
TABELA 3. ESPECIFICAÇÃO DO TRAÇO DE ARGAMASSA CONFORME ASTM C-270
TABELA 4. ESPECIFICAÇÃO DO TRAÇO DE ARGAMASSA CONFORME BS-5628
Fonte: MOHAMAD et al., 2009, p. 829. (Adaptado).
Fonte: MOHAMAD et al., 2009, p. 829. (Adaptado).
*CP: cimento Portland ou cimento com adição;
**RC: resistência média à compressão aos 28 dias;
***RA: retenção de água;
****Quando houver armadura incorporada à junta de argamassa, a quantidade de ar incorporado não poderá
ser superior a 12%.
Dos tipos apresentados nas Tabelas 3 e 4, o traço M é tão forte que pode
fi ssurar, portanto não é muito utilizado. O traço S, que também é um traço forte,
é utilizado em situações que aparecem esforços de tração. Já o traço N é mais
utilizado em alvenaria de edifi cações de baixa altura e o traço O é utilizado em
alvenaria de vedação.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 60
Propriedades da argamassa
Conforme Recena (2011), o desempenho da argamassa está relacionado diretamente
às suas características em seu estado plástico e em seu estado endurecido.
Quanto ao estado plástico, a argamassa precisa apresentar boa trabalhabilidade,
permitindo o assentamento dos blocos de forma maleável e tendo
capacidade de retenção ideal de água, garantindo a hidratação do cimento. Já
para o estado endurecido da argamassa, é necessário ter resistência à compressão,
resistência de cisalhamento e boa aderência e resiliência.
A ABNT, por meio dos seus ensaios e estudos em laboratório, normatizou
requisitos necessários para cada característica, conforme vemos no Quadro 6.
Característica Requisito Norma
Trabalhabilidade
Consistência padrão de 255 ± 10 mm
NBR 13276
Resistência à
compressão
Deve ser especifi cada no projeto
NBR 13279
Resistência de
aderência
Deve ser especifi cada no projeto
ASTM E 518
Retenção de água
80% < normal < 90%
90% < alta
NBR 13277
Teor de ar
incorporado
Grupo a < 8%
8% < grupo b < 18%
18% < grupo c
NBR 13278
QUADRO 6. RELAÇÃO DE NORMAS ABNT PARA AS ARGAMASSAS
Fonte: DÉSIR, [s.d.]. Acesso em: 13/05/2020. (Adaptado).
Trabalhabilidade: está ligada diretamente à quantidade de água empregada
em sua preparação, pois o excesso de água em uma argamassa tornará mais fl uida
e menos trabalhável pela perda de coesão. Distribui facilmente ao ser assentada,
não agarra na ferramenta no momento da aplicação e não endurece em contato
com superfícies absortivas.
Resistência à compressão: quanto maior a resistência à compressão, maior sua
resistência aos outros esforços solicitantes. Nas argamassas de cal e areia, a resistência
é pequena, entre 0,5 a 2,0 MPa aos 28 dias. Já nas argamassas de cimento e
areia, ou cimento, cal e areia, a resistência aos 28 dias fi ca entre 1,5 a 16 MPa.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 61
Aderência: capacidade de absorver as tensões tangenciais e normais à superfície
da argamassa, sendo importante observar a aderência tanto da argamassa
fresca como da argamassa endurecida.
Retenção de água: capacidade de liberar demoradamente para o meio ambiente
a água utilizada em sua preparação, quanto maior o volume de água no
preparo da massa, maior o volume de água a ser evaporado, gerando mais retração
e causando fi ssuras.
Durabilidade: capacidade de manter-se estável química e fi sicamente ao longo
do tempo, em condições normais de exposição a um determinado ambiente.
Elasticidade: capacidade de absorver os esforços por deformação ou elasticidade,
portanto, absorvendo a deformação dos trabalhos dos diferentes materiais
empregados e evitando a ruptura no regime elástico. A retenção de água e
a cura lenta favorecem a elasticidade da argamassa.
Contrapiso
De acordo com Barros (1991), contrapiso se refere às camadas de argamassa
ou enchimento utilizadas sobre uma laje ou um terreno, e também qualquer
camada intermediária de isolamento e impermeabilização, sendo necessário
defi nir os parâmetros relacionados ao desempenho, função e fi nalidade, bem
como a base em que será aplicado e o revestimento de piso que este contrapiso
irá receber. Dentre as funções do contrapiso, Barros (2011) cita:
• Criação de desníveis entre ambientes, principalmente no caso de ambientes
de áreas molhadas, que costumam ser rebaixados em relação aos
demais cômodos de um projeto para evitar o escoamento da água;
• Possibilita as declividades necessárias para o escoamento da água
aos ralos;
• Auxilia na transmissão de cargas para a base estrutural;
• Regularização da base, permitindo o assentamento de pisos vinílicos
ou mantas de fi na espessura, evitando a visualização de deformidades e
irregularidades da laje;
• Permite o embutimento das instalações, evitando a quebra da laje;
• Adequa os suportes de fi xação de revestimentos de piso;
• Isolamento térmico e/ou acústico.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 62
Barros (2011) menciona as principais características e propriedades do
contrapiso:
• Condições superficiais: incumbido da aderência entre o contrapiso e
o revestimento;
• Aderência: habilidade de transmitir esforços por meio da interface do
contrapiso – base, que são oriundas das solicitações de uso;
• Resistência mecânica: prevenção da integridade física quando solicitado
por meio de ações durante sua utilização;
• Resiliência: habilidade de regressar à forma original após sofrer as deformações
de trabalho dos materiais sem a apresentação de fissuras;
• Compacidade: resistir ao esmagamento em razão dos índices de vazios
da argamassa;
• Durabilidade: habilidade de resistir à degradação em consequência do
grau de exposição do contrapiso e da compatibilidade entre ele e o revestimento
do piso.
Ao escolher o tipo de contrapiso a ser executado, é necessário analisar
suas propriedades e qual argamassa será utilizada, que, segundo a normativa
BS 8204-02, de 2009, existem três tipos de contrapiso conforme sua
aderência com a base:
• Contrapiso aderido: a argamassa aponta total aderência à base e é executada
em camadas finas, entre 20 a 40 mm. Esse contrapiso movimenta-se
em conjunto com a laje;
• Contrapiso não aderido ou semiaderido: a argamassa não adere totalmente
à base e as espessuras são superiores a 35 mm;
• Contrapiso flutuante: o contrapiso estaria “flutuando” entre o revestimento
final e a laje, por ser executado sobre
manta asfáltica impermeabilizante e manta
de polietileno para isolamento acústico.
Para um melhor entendimento, a
Figura 2 ilustra as camadas comuns do
contrapiso que, por ser um revestimento
composto por argamassa em seu principal
componente, utiliza dois tipos de argamassas, as plásticas e
as secas.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 63
Figura 2. Camadas do contrapiso.
Revestimento
Argamassa de fi xação
Laje (base)
Contrapiso
Camada de separação (fl utuante)
Uma correta execução do contrapiso, segundo Barros (1991), minimiza
as chances de erros de declividade da queda d’água, bem como maximiza o
rendimento dos revestimentos.
Assentamento
A argamassa de assentamento é um dos tipos mais utilizados e conhecidos,
servindo para unir tijolos e blocos de alvenaria ou blocos estruturais. A união dos
blocos ocorre geralmente em um cordão de 1 cm ancorando mecanicamente, ou
seja, formando “raízes” entre os poros do bloco, fi xando-os.
Essa argamassa é produzida no canteiro de obras com a utilização de betoneira,
mas também pode ser adquirida de forma industrializada. É possível
encontrá-la para venda em forma de bisnagas, garantindo um bom acabamento
na junção dos blocos. Independentemente da origem da argamassa de assentamento,
o ideal é que o trecho entre os blocos não seja muito grande, refl etindo
em economia fi nanceira e qualidade na resistência e alinhamento.
A Tabela 5 apresenta os traços mais comuns para a argamassa de assentamento:
Utilização Característica Cimento Cal Areia Caracterização
da areia
Alvenaria de tijolos
maciços
Esp. 1 tijolo
20 a 22 cm 1 1,5 6 Grossa comum
Esp. ½ tijolo 10 a
11 cm 1 2 8 Grossa lavada
Esp. ¼ tijolo 5 a 6 cm
(cutelo) 1 2 8 Grossa lavada
TABELA 5. TRAÇOS DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 64
Alvenaria de tijolos
laminados (maciços
ou 21 furos)
Esp. 1 tijolo
20 a 22 cm 1 1 6 Grossa lavada
Esp. ½ tijolo 10 a
11 cm 1 1 5 Grossa lavada
Alvenaria de tijolos
de 6 furos
A chato 1 1,5 6 Grossa comum
A espelho 1 2 8 Grossa lavada
Alvenaria de tijolos
de 8 furos
A chato 1 1,5 6 Grossa comum
A espelho 1 2 8 Grossa lavada
Alvenaria de blocos
de concreto para
vedação
Esp. 20 cm 1 0,5 8 Grossa lavada
Esp. 15 cm 1 0,5 8 Grossa lavada
Esp. 10 cm 1 0,5 6 Grossa lavada
Alvenaria de
blocos de concreto
autoportantes
Esp. 20 cm 1 0,25 3 Grossa lavada
Esp. 15 cm 1 0,25 3 Grossa lavada
Alvenaria de blocos
de vidro 1 0,5 5 Média lavada
Alvenaria de pedras
irregulares 1 4 Grossa comum
Alvenaria de
elementos vazados
de concreto
Esp. 6 cm 1 3 Média lavada
Fonte: LEGGERINI; AURICH, [s.d.]. (Adaptado).
Revestimento
A argamassa para revestimento é aplicada na parede crua ou mesmo no teto
recém-construído, cobrindo, protegendo e nivelando as superfícies. No caso dessa
argamassa, aplica-se em três camadas, onde cada uma delas tem função específi ca.
A primeira camada de argamassa recebe o nome de chapisco e sua função é
ser a base para todo o revestimento, feita normalmente com uma parte de cimento
e quatro partes de areia grossa. A segunda camada é chamada de emboço, e
tem como objetivo o nivelamento da superfície. Já a terceira camada chama-se
reboco e atribui o acabamento da parede ou local e, na sequência, o recebimento
do revestimento.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 65
A produção de argamassa de uso imediato em uma mistura natural pode ser
estabelecida em quatro passos, segundo Leggerini e Aurich [s.d.]:
• Medir primeiro o agregado (areia) e espalhá-lo para formar uma camada de
cerca de 12 cm de altura;
• Acima dessa camada de areia, colocar o cimento e a cal hidratada;
• Fazer a mistura dos componentes até obter uma mistura homogênea. Colocar
o resultado desta mistura amontoada em um canto, abrindo espaço no meio para
o acréscimo de água;
• Acrescentar e misturar a água aos poucos, controlando a quantidade para evitar
excessos.
Em casos onde a mistura ocorre mecanicamente, deve-se seguir:
• Ligar o equipamento, betoneira ou similar;
• Colocar dentro o agregado (areia);
• Acrescentar metade da água;
• Colocar o cimento e a cal hidratada;
• Adicionar o restante da água, sempre controlando o excesso;
• Deixar misturar no equipamento por três a cinco minutos.
O ideal é deixar que a argamassa “descanse” por 16 a 24 horas para se obter um
maior rendimento e uma melhor liga. A Tabela 6 nos traz os traços mais comuns
para a argamassa de revestimento:
TABELA 6. TRAÇOS DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO
Utilização Característica Cimento Cal Areia Caracterização
da areia
Chapisco
Sobre alvenaria 1 4 Grossa lavada
Sobre concreto e
tetos 1 3 Grossa lavada
Emboço
Interno, base para
reboco 1 4 Média lavada
Interno, base para
cerâmica 1 1,25 5 Média lavada
Interno, para tetos 1 2 9 Média lavada
Externo, base para
reboco 1 2 9 Média lavada
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 66
Interno, base para
cerâmica 1 2 8 Média lavada
Reboco
Interno, base para
pintura 1 4 Fina lavada
Externo, base para
pintura 1 3 Fina lavada
Barra lisa 1 1,5 Fina lavada
Interno, para tetos,
base para pintura 1 2 Fina lavada
Assentamento de
revestimentos
Interno - cerâmicas 1 1 5 Média lavada
Externo - cerâmicas 1 0,5 5 Média lavada
Peitoris, soleiras e
capeamentos 1 4 Média lavada
Pisos
Base regularizadora
para cerâmicas 1 5 Grossa lavada
Base regularizadora
para pisos
monolíticos
1 3 Grossa lavada
Base regularizadora
para tacos 1 4 Grossa lavada
Colocação de
cerâmicas 1 0,5 5 Média lavada
Colocação de tacos 1 4 Média lavada
Cimentados alisados 1 3 Fina lavada
Fonte: LEGGERINI; AURICH, [s.d.]. (Adaptado).
Patologias
Dentre as patologias mais comuns nas argamassas e revestimentos argamassados
temos as fissuras, as vesículas, os empolamentos e os descolamentos,
tanto na aplicação em alvenarias estruturais como em alvenarias
de vedação. Santos (2016) afirma que essas anomalias vão além de
incômodos estéticos. Desta forma, é necessário levar em consideração os
fatores climáticos, seja no momento de projetar e escolher os materiais
adequados para aquela região, seja no momento de produzir e aplicar a
argamassa.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 67
A causa mais comum para vesículas e empolamento da argamassa é a reação
de hidratação da cal virgem ou a presença de impurezas nos agregados. No caso
das fissuras e microfissuras, a maior contribuição para esse quadro é quando há
elevado teor de insumos e agregados. No caso da proliferação de fungos, a infiltração
de água no revestimento é a causa mais comum para a patologia, e quanto ao
descolamento das placas de revestimento, tem-se o uso inadequado de tinta ou a
aplicação de pintura prematuramente sobre o reboco ainda fresco.
Podem surgir também eflorescências (manchas de umidade) que podem ser
causadas devido a infiltrações ou umidade e presença de sais solúveis na argamassa.
O bolor (manchas esverdeadas ou escuras) também é ocasionado por conta da
umidade e da falta de exposição ao sol. Podem ocorrer fissuras horizontais ao longo
da parede por conta da expansão da argamassa por uma hidratação retardada
do óxido de magnésio da cal, ou também a presença de argilominerais expansivos
no agregado. Podemos observar ainda as fissuras mapeadas - trincas distribuídas
por toda a superfície que podem até ocasionar alguns descolamentos de placas –
causadas principalmente pela retração da argamassa, pelo excesso de agregado
fino ou por causa de excesso de cimento na mistura.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 68
Sintetizando
Conforme vimos nessa unidade, o cimento também é um aglomerante de
fundamental emprego dentro da construção civil e da arquitetura, e a argamassa
é a mistura de um aglomerante (no caso, o cimento) com água e um agregado
miúdo, que normalmente é areia ou cal hidratada.
O cimento, da mesma forma que a cal, é resultado da calcinação de rochas
calcárias que, em conjunto com a argila e demais aditivos, forma um dos aglomerantes
mais presentes em nossas obras, desde as casas mais simples até os
projetos mais complexos de engenharia, como as pontes. Desta queima surge o
clínquer, que é a base principal para a produção do cimento. Dos vários tipos de
cimento, o mais utilizado é o cimento Portland, que possui uma grande versatilidade
em seu emprego, atendendo a características e propriedades distintas.
As argamassas têm a função de unir os revestimentos nas alvenarias, auxiliar
no desempenho térmico e acústico, na durabilidade da construção e em sua
estética. Protegem contra agentes agressivos, tais como umidade, vento, calor,
ruídos, e seguem traços definidos para cada tipo de emprego.
Ambos são fundamentais para a elaboração de um projeto e para o andamento
de uma obra, intensificando a qualidade e a durabilidade da construção.
São os dois materiais mais empregados na maioria das obras brasileiras.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 69
Referências bibliográficas
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND - ABCP. A versatilidade
do cimento brasileiro. Disponível em: <https://abcp.org.br/cimento/
tipos/?politica=sim>. Acesso em: 13 mai. 2020.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7215: Cimento
Portland - Determinação da resistência à compressão de corpos de prova
cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16697: Cimento
Portland - Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
BARROS, M. M. B. Revestimentos horizontais: notas de aula. São Paulo: EPUSP,
2011. Disponível em: <http://www.pcc.usp.br/files/text/publications/TT_00027.
pdf>. Acesso em: 13 mai. 2020.
BARROS, M. M. B. Tecnologia de produção de contrapisos para edifícios
habitacionais e comerciais. São Paulo: EPUSP, 1991. Disponível em: <http://
www2.pcc.usp.br/files/text/publications/BT_00044.pdf>. Acesso em: 13 mai.
2020.
BATTAGIN, A. F. Uma breve história do cimento Portland. Associação Brasileira
de Cimento Portland, São Paulo, 10 nov 2019. Disponível em: <https://
abcp.org.br/basico-sobre-cimento/historia/uma-breve-historia-do-cimentoportland/?
politica=sim>. Acesso em: 13 mai. 2020.
BAUER, L. A. F. Materiais de construção. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1992, v. 1.
BRITISH STANDARDS INSTITUTION - BSI. BS 8204-02:2003 + A1:2009: Screeds,
bases and in situ floorings – Part 2: Concrete wearing surfaces – Code of
practice. LONDRES: BSI, 2009.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA. Resolução 003 de 28
de junho de 1990. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Poder Executivo, 22
ago. 1990. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res90/
res0390.html>.
DÉSIR, J. M. Propriedades das argamassas. Alvenaria Estrutural, Porto Alegre.
Disponível em: <https://lume-re-demonstracao.ufrgs.br/alvenaria-estrutural/
propriedades_de_argamassa.php>. Acesso em: 13 mai. 2020.
LEGGERINI, M. R. C.; AURICH, M. Materiais técnicas e estruturas I: notas de
aula. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, PUCRS.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 70
MAPEAMENTO tecnológico do cimento: Roadmap Brasil 2019. Postado por
ABCP PORTLAND. (5min. 34s.). son. color. port. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=cRSvWaVyy9I>. Acesso em: 13 mai. 2020.
MAURY, M. B.; BLUMENSCHEIN, R. N. Produção de cimento: impactos à saúde
e ao meio ambiente. Revista Sustentabilidade em Debate, Brasília, v. 3, n. 1,
p. 75-96, 2012.
MOHAMAD, G. et al. Caracterização mecânica das argamassas de assentamento
para alvenaria estrutural: revisão e modo de ruptura. Revista Matéria, Rio de
Janeiro, v. 14, n. 2, p. 824-844, 2009.
OLIVEIRA. H. M. Cimento Portland. In: BAUER, L. F. A. (Org). Materiais de
construção. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008, v. 1, p. 35-62.
PETRUCCI, E. G. R. Materiais de construção. 12. ed. São Paulo: Editora Globo,
2007.
PUGLIESI, N. Cimento: diferentes tipos e aplicações. Portal AECweb, São
Paulo. Disponível em: <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/cimentodiferentes-
tipos-e-aplicacoes/11959>. Acesso em: 13 mai. 2020.
RECENA, F. A. P. Conhecendo argamassa. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011.
REDAÇÃO INDÚSTRIA HOJE. Como é produzido o cimento? Indústria Hoje,
13 abr. 2014. Disponível em: <https://industriahoje.com.br/fabricacao-decimento>.
Acesso em: 13 mai. 2020.
SANTOS, A. Patologias em argamassas vão além das fissuras. 14 dez. 2016.
Disponível em: <https://www.cimentoitambe.com.br/patologias-argamassas/>.
Acesso em: 13 mai. 2020.
SILVA, M. R. Materiais de construção. São Paulo: Pini, 1991.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 71
A CIÊNCIA DOS
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO:
CONCRETO
3
UNIDADE
Objetivos da unidade
Tópicos de estudo
Apresentar os conceitos dos materiais aglomerantes e agregados
relacionados ao concreto;
Apontar as propriedades predominantes do concreto e do concreto armado;
Conhecer origens e processos dos materiais estudados;
Apresentar as técnicas de construção mais adequadas a esses materiais para
construção com qualidade, desempenho e durabilidade;
Familiarizar-se com os termos técnicos e desenvolver postura crítica na
escolha dos materiais e técnicas construtivas;
Identificar patologias e falhas resultantes do emprego e do manuseio
inadequados dos materiais.
Concreto: o resultado a partir
de um aglomerante
Agregados
Propriedades
Tipos de concreto
Cura do concreto
Concreto armado na construção
civil
Propriedades
Execução
Ensaios
Patologias
Normativas
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 73
Concreto: o resultado a partir de um aglomerante
O concreto era produzido com a junção de apenas três materiais: cimento,
que quase sempre era o cimento Portland, agregados e água. Com o passar do
tempo, na busca por aumentar as propriedades do concreto, foram acrescidas
à mistura alguns aditivos químicos. Segundo Neville (2016), além dos aditivos,
outros materiais de natureza inorgânica foram introduzidos nessa mistura por
serem materiais mais baratos que o cimento Portland, trazendo não apenas
redução de custos na elaboração do concreto, mas também a opção de uma
alternativa mais sustentável, pois reduz a proporção da exploração das jazidas
para a produção do cimento Portland.
Essa atribuição de outros materiais ao concreto também confere inúmeras
propriedades benéfi cas ao material, não apenas em seu estado fresco, mas
principalmente em seu estado endurecido.
Agregados
Conforme Bauer (1992, p. 63), “agregado é um material particulado, incoesivo,
de atividade química praticamente nula, constituído de misturas de partículas
cobrindo extensa gama de tamanhos”. Na construção civil, a defi nição de
agregado pode ser resumida como um material inerte e granuloso, utilizado na
formação de argamassas e concretos, contribuindo para o aumento da resistência
à compressão e auxiliando na redução dos custos da obra. São materiais
minerais sólidos e inertes que de acordo com sua granulometria serão utilizados
para a fabricação de produtos artifi ciais resistentes mediante mistura com
materiais aglomerantes com ativação hidráulica. Os agregados são geralmente
granular, sem forma e volume defi nidos, com dimensões e características adequadas
para a preparação de argamassas e concretos.
EXPLICANDO
Granulometria é o estudo da distribuição das dimensões dos grãos, determinando
as dimensões das partículas do agregado e de suas porcentagens.
A análise granulométrica é representada por uma curva que permite
a determinação das características físicas do agregado.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 74
DIAGRAMA 1. CLASSIFICAÇÃO DOS AGREGADOS
Primeiramente, os agregados eram considerados materiais inertes, soltos
na pasta de cimento e usados exclusivamente para a redução econômica. Porém,
Neville (2016) nos conta que os agregados não são totalmente inertes,
pois suas propriedades físicas, térmicas e químicas influenciam diretamente o
desempenho do concreto
Do volume do concreto, 3/4 são compostos pelos agregados. Sendo assim,
sua qualidade é de suma importância para a composição da mistura, pois são
os agregados que podem limitar a resistência do concreto e suas características
afetam diretamente na durabilidade e no desempenho estrutural do concreto.
Os agregados podem ser classificados conforme nos mostra o Diagrama 1.
Conforme o Diagrama 1, os agregados classificados por sua origem podem
ser os naturais, que são agregados encontrados na natureza sob a forma definitiva
de utilização (por exemplo cascalhos, areia de rios, seixos rolados, pedregulhos,
entre outros); os artificiais são obtidos pelo britamento de rochas (por
exemplo pedrisco e pedra britada); e por fim, os industrializados são obtidos
por processos industriais, resultando em argila expandida, escória britada etc.
O uso da areia natural se dá no preparo de argamassas, sendo que a areia
natural é um aglomerado de origem natural, originária de rios, cavas, praias
Agregados
Sedimentar
Ígnea
Origem
Natural
Artificial
Industrializada Metamórfica
Miúda
Graúda
Dimensão
das partículas
Leve
Média
Pesada
Massa específica Composição
mineralógica
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 75
e dunas, porém, as areias das praias e das dunas não são utilizadas na construção
civil para o preparo do concreto por conta de sua fi nura e de seu teor
de cloreto de sódio. Ela é usada também no concreto betuminoso juntamente
com o fíler e possui importante função de impedir o amolecimento do concreto
usado nos pavimentos de ruas em dias de intenso calor. A areia natural pode
ser utilizada no concreto de cimento e no pavimento rodoviário na correção do
solo (também chamado de sub-base). Dependendo da granulometria da areia,
ela é classifi cada conforme as especifi cidades do Quadro 1.
Areia fi na Areia média Areia grossa
Uso
Granulometria NBR Empregada principalmente
em argamassa
de reboco interno,
externo e tetos, em
concreto usinado, en-
entre
outros.
Entre 0,06 mm e 0,2 mm.
7211/83
Empregada em estru-
estruturas
pré-moldadas,
assentamento de pisos
e tijolos, concreto, arga-
argamassas
de assentamen-
assentamento
e revestimento.
Entre 0,2 mm e 0,6 mm.
Usada no reboco rús-
rústico,
na argamassa de
assentamento, no con-
concreto,
no chapisco e na
construção de quadras
de futebol e vôlei.
Entre 0,6 mm e 2,0 mm.
tico, creto, QUADRO 1. CLASSIFICAÇÃO E USO DA AREIA NA CONSTRUÇÃO
Nomenclatura Descrição
Brita
Pedra britada
Obtida a partir de rochas compactas que ocorrem em depósitos
geológicos (jazidas) pelo processo industrial da cominuição ou da
fragmentação controlada da rocha maciça. Os produtos fi nais enqua-
enquadram-
se em diversas categorias.
Brita produzida em cinco graduações, denominadas em ordem crescente
de diâmetros médios: pedrisco, pedra 1, pedra 2, pedra 3 e
pedra 4, designadas em seguida por pd, p1, p2, p3 e p4.
cres-
QUADRO 2. CLASSIFICAÇÃO DAS PEDRAS (AGREGADO DE ORIGEM ARTIFICIAL)
APÓS PROCESSO DE BRITAGEM
Dos agregados de origem artifi cial, a pedra brita é um dos mais utilizados e é
originada a partir da britagem ou da redução de tamanho de uma rocha maior, que
pode ser basalto, granito, gnaisse, entre outros. Os agregados são classifi cados de
acordo com a dimensão da pedra após a britagem. Acompanhe no Quadro 2.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 76
Pó de pedra
rigorosa, é entre 0 a 4,8 mm. Possui porcentagem maior de fi nos que
0,075 contra 15% da areia para o concreto.
Areia de brita Fíler
Bica corrida
secundária Rachão
Restolho Blocos
Material mais fifi no que o pedrisco. Sua graduação genérica, mas não
fi as areias padronizadas, podendo chegar a 28% de material abaixo de
Obtido dos fi nos resultantes da produção da brita, dos quais se retira
a fração inferior a 0,15 mm. Sua graduação é entre 0,15 a 4,8 mm.
Graduação entre 0,005 a 0,075 mm. Seus grãos são da mesma ordem de
grandeza dos grãos de cimento. É obtido por decantação nos tanques das
instalações de lavagem de britas das pedreiras e utilizado em mástiques
betuminosos, concretos asfálticos e espessamentos de betumes fl uídos.
Material britado no estado em que se encontra à saída do britador:
primária
mada de 0 a 300 mm, dependendo da regulagem e do tipo do britaprimária
dor;
britador;
britaaproximada
de 0 a 76 mm.
quando deixa o britador primário, com graduação aproxi-
britaquando
aproximada
aproxisecundária
britasecundária
Constituído de material que passa no britador primário e é retido na pe-
peneira
de 76 mm. É a fração de 76 mm da bica corrida primária. A NBR 9935
pedefi
ne rachão como “pedra de mão” de dimensões entre 76 e 250 mm.
neira defi Material granular, de grãos em geral friáveis, que pode conter uma
aproxiquando
deixa o britador secundário com graduação
quando aproximada parcela de solo. É retirado do fl uxo na saída do britador primário.
Fragmentos de rocha de dimensões acima do metro, resultantes dos
fogos de bancada que, depois de devidamente reduzidos em tama-
nho, vão abastecer o britador primário.
tamanho,
brita-
tamarigorosa,
tamaas
tamagrandeza
tamabetuminosos,
tamamada
Fonte: BAUER, 1992, p. 64. (Adaptado).
A pedra brita tem seu processo de fabricação através da extração dos blocos
(fragmentos de rochas retirado de jazidas com proporções superiores a um
metro), que passam pelo britador primário e cujo subproduto é a bica corrida.
Posteriormente, o material passa pelo britador secundário, atingindo tamanhos
menores, e, na sequência, pelo terceiro britador. Os fragmentos de rocha
que acabam fi cando retidos nas peneiras são separados conforme o tamanho
de seus grãos e transportados por meio de correias aos espaços de estocagem,
resultando nos produtos comumente utilizados na construção civil: o pedrisco,
a brita 1, brita 2, brita 3 e brita 4, e, de acordo com a NBR 7225 (ABNT, 1993),
os tamanhos dos grãos são determinados a partir das faixas de abertura de
peneiras, conforme acompanhamos pelo Quadro 3.
Pedra britada numerada Tamanho nominal
Aberturas de peneiras de malhas quadradas (mm)
Número
1
2
Mínima
4,8
12,5
Máxima
12,5
25
QUADRO 3. CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS DIMENSÕES NOMINAIS
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 77
3
25
50
4
5
50
76
76
100
Fonte: BAUER, 1992, p. 64. (Adaptado).
A brita é produzida industrialmente nas pedreiras, onde as rochas são submetidas
a diversos processos de cominuição, reduzindo seus fragmentos conforme
demonstrado na Figura 1.
Figura 1. Fluxograma típico de pedreiras. Fonte: BAUER, 1992, p. 73. (Adaptado).
Separador
de areia
Lavra
Furo
Britador primário
Britador secundário
Britador terciário
Bica-corrida secundária
Bica-corrida secundária
Peneira de classifi cação
Grelha
Areia Restolho Rachão
Pedra 2 Pedra 3 Pedra 4
Pó de pedra Pedrisco Pedra 1
A rocha da jazida é fragmentada por meio de explosivos, e, em seguida,
essas fragmentações são levadas a britadores, que por meio de mandíbulas
efetuam a redução desses fragmentos em dimensões ainda menores, gerando
assim os agregados utilizados na produção do concreto.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 78
O resultado dessa britagem é utilizado no concreto de cimento, que emprega
o pedrisco, a pedra 1 e a pedra 2; nos concretos ciclópicos, que empregam a
pedra 4 e o rachão; no concreto asfáltico, que emprega o fíler, a areia, a pedra
1, a pedra 2 e a pedra 3; nas argamassas de enchimento, que empregam a brita,
a areia e o pó de pedra; na correção de solos, com o emprego de proporções
de pó de pedra; nos pavimentos rodoviários, que empregam em seus subleitos
a bica corrida e o pó de pedra, sendo que, para a base, é usada pedra britada
com granulometria maior que 6 mm; no concreto betuminoso, que utiliza várias
faixas granulométricas de brita e fíler.
A classifi cação NBR 7211 (ABNT, 2009) separa os agregados conforme a dimensão
das partículas em agregados miúdos ou em agregados graúdos. Agregados
miúdos são compostos por areia de origem natural ou resultante do britamento
de rochas estáveis, ou a mistura de ambas. Seus grãos passam pela
peneira 4,8 mm ABNT (peneira com malha quadrada com abertura nominal de
4,8 mm) fi cando retido na peneira 0,15 mm ABNT. Já materiais como pedregulho
natural ou pedra britada proveniente do britamento de rochas estáveis, ou
mistura de ambos, são chamados de agregados graúdos, cujos grãos passam
pela peneira 152 mm ABNT e fi cam retidos na peneira 4,8 mm ABNT. As especifi -
cações das peneiras são feitas de acordo com suas aberturas, atendendo à NBR
5734 (ABNT, 1989) e auxiliando na classifi cação dos agregados. Veja o Quadro 4.
Agregado graúdo
Série normal Série intermediária
-
- - -
- - -
-
ABNT 76 mm
ABNT 38 mm
ABNT 19 mm
ABNT 64 mm
ABNT 50 mm
-
ABNT 9,5 mm
ABNT 32 mm
-
ABNT 25 mm
ABNT 12,5 mm
ABNT 6,3 mm
QUADRO 4. CLASSIFICAÇÃO DOS AGREGADOS SEGUNDO
A DIMENSÃO DAS PARTÍCULAS E OS CONJUNTOS DE PENEIRAS
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 79
Agregado miúdo
ABNT 4,8 mm
-
-
-
-
-
-
ABNT 2,4 mm
ABNT 1,2 mm
ABNT 0,600 mm
ABNT 0,300 mm
ABNT 0,1500 mm
Quanto à classifi cação pela massa específi ca, os agregados podem ser
classifi cados em leves, onde a massa específi ca é menor que 1000 kg/m³, e
temos como exemplo o isopor e a argila expandida; médios, com massa específi
ca entre 1000 e 2000 kg/m³, tendo como exemplos o basalto e o granito; e
pesados, com massa específi ca acima de 2000 kg/m³, sendo o minério de ferro
um exemplo.
Os agregados classifi cados por meio da composição mineralógica podem
ser sedimentares, ígneas ou metamórfi cas.
A aderência do agregado com a pasta de cimento é um importante fator de
resistência do concreto, especialmente em se tratando da resistência à fl exão.
Segundo Neville (2016), a aderência ocorre em boa parte pelo intertravamento
dos agregados, e da pasta de cimento hidratada adequada à sua rugosidade. A
superfície rugosa das partículas britadas resulta em maior aderência devido ao
intertravamento mecânico.
Propriedades
As propriedades do concreto são determinadas por meio de ensaios executados
em condições específi cas e realizados com controle de qualidade e atendimento
às especifi cações. As principais propriedades mecânicas do concreto,
segundo Neville (2016), Silva (1991), Mehta e Monteiro (2014) são:
Resistência à compressão
É a característica mecânica mais importante do concreto e é denominada
de fc. Sua análise é feita a partir da moldagem e ensaio de corpos de prova seguindo
os critérios da NBR 5738 (ABNT, 2015a) de moldagem e cura de corpos
de prova cilíndricos ou prismáticos de concreto, e da NBR 5739 (ABNT, 2018) de
ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos para concreto.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 80
Pelo padrão brasileiro, os corpos de prova são cilíndricos com 15 cm de diâmetro
e 30 cm de altura, e as idades de referência normalmente estudadas são
de 7 e 28 dias. Sendo que aos sete dias já é possível verificar se haverá algum
problema com relação à resistência desse concreto, pois nesse período ele já
deve atingir em média 70% da resistência mínima.
DICA
A moldagem do corpo de prova é fundamental para verificar se o concreto
atendeu à resistência mínima necessária, e acontece dentro do canteiro
de obra, durante a concretagem.
Após um ensaio com número elevado de corpos de prova, obtém-se
um gráfico com os valores obtidos de fc versus a quantidade de corpos
de prova relativos e determinados, gerando assim a densidade de frequência
e uma curva denominada curva estatística de Gauss, ou curva de
distribuição normal. Confira o Gráfico 1, que apresenta a resistência do
concreto à compressão.
GRÁFICO 1. CURVA DE GAUSS PARA A RESISTÊNCIA DO CONCERTO À COMPRESSÃO.
Densidade de
frequência
S
fck fcm fc
Fonte: NEVILLE, 2016, p. 321. (Adaptado).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 81
É na curva de Gauss que encontramos dois valores de grande importância, a resistência
média do concreto à compressão, ou fcm, e a resistência característica
do concreto à compressão, ou fck. O valor de fcm é a média aritmética dos valores de
fc ao conjunto de corpos de prova ensaiados, utilizando a resistência característica
de fck por intermédio da fórmula fck = fcm - 1,65 s, sendo o desvio de s a distância entre
a abscissa de fcm e o ponto de inflexão da curva (ponto que ocorre a mudança de concavidade).
O valor 1,65 representa o quantil de 5%, ou seja, apenas 5% dos corpos de
prova possuem fc < fck, ou que 95% dos corpos de prova possuem fc ≥ fck.
Nas obras, devido ao pequeno número de corpos de prova ensaiados, o fck é calculado
por um valor estimado da resistência característica do concreto à compressão.
Vários fatores interferem na resistência mecânica do concreto, por exemplo, a
relação entre água e cimento, onde a resistência do concreto é tanto menor quanto
maior a quantidade de água adicionada à mistura. O tipo de cimento também influencia
na evolução da resistência com o tempo, e a idade do concreto normalmente
é ensaiada em 3, 7 e 28 dias, sendo a idade adotada como padrão a de 28 dias. A
forma e a graduação dos agregados também interferem na resistência do concreto,
pois a resistência do agregado geralmente é superior à da pasta, portanto, quanto
maior a proporção no emprego do agregado, maior será a resistência do concreto.
Resistência à tração
Os conceitos são iguais aos da resistência à compressão, com a resistência
média do concreto a tração, ou fctm, obtido por meio de média aritmética dos
resultados. A resistência característica do concreto à tração, ou fctk, ou também
ftk, e a probabilidade de não alcançar os resultados é de 5%, semelhante ao
ensaio de resistência à compressão.
Módulo de elasticidade
A relação entre as tensões e as deformações em um projeto de estruturas
do concreto chama-se módulo de elasticidade. Dentro da resistência dos materiais,
a relação entre a tensão e a deformação em determinados intervalos
pode ser considerada linear, também nomeada lei de Hooke, ou seja, σ=Eε,
onde σ é a tensão, ε é a deformação específica e E é o módulo de elasticidade
ou módulo de deformação longitudinal.
Trabalhabilidade
É a facilidade e a homogeneidade do concreto ao ser manipulado, desde
a mistura até o acabamento, sem uma segregação nociva. Um concreto
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 82
que seja difícil de lançar e adensar aumenta o custo da manipulação, mas
também interfere na resistência, na durabilidade e na aparência. A trabalhabilidade
está associada à facilidade na redução de vazios e do adensamento
do concreto, na moldagem relacionada com o preenchimento da fôrma e dos
espaços entre as barras de aço e na resistência à segregação e manutenção
da homogeneidade da mistura durante seu manuseio e vibração. Fatores que
afetam na trabalhabilidade do concreto são o consumo de água, consumo de
cimento, aditivos e agregados.
Coesão
É a facilidade de adensamento e de acabamento, geralmente avaliada pela
facilidade de desempenhar o visual da resistência à segregação e está muito
ligada à trabalhabilidade, pois a falta de coesão da mistura pode acarretar a desagregação
do concreto em estado fresco, alternando assim sua composição
física e sua homogeneidade.
Segregação
É a separação dos componentes do concreto fresco de forma que sua
distribuição não seja uniforme, sendo muito típica em concretos pobres e
secos, onde os grãos maiores do agregado tendem a se separar durante o
lançamento do concreto por conta de energia demasiada ou de uma vibração
excessiva.
Massa específica
Quanto mais poroso for o concreto, mais rapidamente esses agentes prejudicam
a integridade da peça por ação de agentes agressivos, como o gás carbônico
(presente no ar), o sal da água do mar, os gases sulfurosos da rede de
esgoto, entre diversos outros agentes.
Assim, os fatores que influenciam nas propriedades do concreto são: tipo
e quantidade de cimento empregado; qualidade da água e a proporção de
água/cimento; tipos de agregados utilizados, sua granulometria e a
proporção agregado/cimento; presença de aditivos na mistura; procedimento
e duração do processo da mistura; condições
e duração do transporte e do lançamento do concreto;
condições de adensamento e de cura; forma e dimensões
dos corpos de prova; tipo e duração do carregamento;
idade do concreto; umidade e temperatura.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 83
Tipos de concreto
O concreto é um dos materiais mais utilizados e importantes dentro da construção
civil, e segundo a NBR 12655 (ABNT, 2015c), temos os seguintes tipos de concreto:
• Concreto de cimento Portland: é um material formado por meio da mistura
homogênea de cimento, agregado miúdo, agregado graúdo e água, com
ou sem a incorporação de aditivos, desenvolvendo suas propriedades mediante
endurecimento da pasta de cimento;
• Concreto fresco: completamente misturado e em estado plástico, sendo
capaz de ser adensado por um método escolhido;
• Concreto endurecido: encontrado no estado sólido e que já desenvolveu
resistência mecânica;
• Concreto preparado pelo executante da obra: quando sua dosagem e
sua elaboração são realizadas no canteiro de obras pelo construtor;
• Concreto pré-moldado: elemento moldado previamente e fora do local
de instalação;
• Concreto pré-fabricado: elemento pré-moldado industrialmente em locais
permanentes destinados a este fi m;
• Concreto normal: com massa específi ca seca determinada conforme NBR
9778 (ABNT, 2005) entre 2000 kg/m³ e 2800 kg/m³;
• Concreto leve: com massa específi ca seca determinada conforme NBR
9778 (ABNT, 2005) inferior a 2000 kg/m³;
• Concreto pesado ou denso: com massa específi ca seca determinada conforme
ABNT NBR 9778 (ABNT, 2005) superior 2800 kg/m³;
• Concreto de alta resistência: com uma classe de resistência à compressão
do grupo II da NBR 8953 (ABNT, 2015b);
• Concreto dosado em central: dosado em instalações específi cas ou em
central instalada no canteiro de obra em conformidade com a NBR 7212 (ABNT,
2012a) e misturado em equipamento estacionário ou em caminhão betoneira.
Transportado por caminhão betoneira ou outro tipo de equipamento equipado
com dispositivo de agitação;
• Concreto prescrito: composto por materiais defi nidos pelo usuário.
Ainda sobre tipos de concreto, Oliveira (2008) traz defi nições mais usuais
dentro do dia a dia da obra, que são descritas em:
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 84
• Concreto convencional: é o tipo mais usado nas obras brasileiras, é utilizado
diretamente no solo, nas fundações, ou lançado em fôrmas para lajes e
pisos. Sua mistura é feita com um vibrador, garantindo o adensamento correto
da mistura. Tem como base da mistura padrão água, cimento, areia e brita sem
aditivos, por isso mesmo denominado convencional, e sua resistência pode variar
de 10 a 40 MPa;
• Concreto bombeável: é uma variação do concreto convencional, e por ter
mais fluidez, é possível realizar seu emprego por bombeadoras. A tubulação
pode variar de 3 a 5,5 polegadas de diâmetro, saindo do caminhão betoneira
diretamente ao local de aplicação final. A fluidez para o lançamento é obtida
através do aumento do fator de água e da diminuição da granulometria do
agregado, permitindo a passagem pelo diâmetro da tubulação. Geralmente
são utilizados aditivos para se obter as características necessárias;
• Concreto armado: este é um concreto mais comum em nosso dia a dia,
e a diferença entre ele o concreto convencional é a presença de armaduras de
barras de aço que garantem ao concreto a resistência à flexão e tração, sendo
empregados nas estruturas de vigas, pilares e lajes;
• Concreto protendido: tem como técnica a inserção de cabos de aço de
alta resistência no concreto, processo chamado de ancoramento. As partes
tracionadas, com as aplicações de tensões de compressão prévia realizadas
na peça permitem melhor desempenho da estrutura e oferecem boa capacidade
em resistir aos esforços de flexão. Sendo assim, a utilização do concreto
protendido permite a realização de vãos livres um pouco maiores que os de
concreto armado convencional, podendo se obter vãos ainda maiores se ao
mesmo tempo for usada a estrutura de laje nervurada ao invés da maciça;
• Concreto leve: empregado com agregado leve, sua massa específica é
aproximadamente dois terços da densidade de um concreto tradicional, gerando
assim uma redução de custos e oferecendo baixa permeabilidade. Apesar da
redução no peso das estruturas, seu objetivo é a redução da massa específica e
não da resistência. Possui uma porosidade maior em seus agregados, o que gera
maior uso de água e riscos de segregação. É mais empregado em peças pré-moldadas,
fabricação de blocos, regularização de superfícies e enchimento de lajes;
• Concreto celular: tem maior leveza que o concreto convencional e possui
uma massa específica entre 300 kg/m³ a 1850 kg/m³, sua diferença em relação
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 85
ao concreto leve é por ser obtido através de um aditivo especial de espuma. É
muito utilizado em paredes, divisórias e nivelamento de pisos;
• Concreto pré-fabricado: é produzido industrialmente fora da obra. São
peças encaixadas no local de execução da laje tornando a obra mais ágil;
• Concreto de alta resistência inicial: possui resistência inicial maior,
obtida por meio de aditivos especiais que garantem grande resistência
em um pequeno intervalo de tempo, agilizando a obra ou atendendo a
emergências;
• Concreto pesado: emprega agregados de maior massa específica para atingir
valores superiores a 2800 kg/m³, e é muito utilizado na construção de câmaras
de raio X ou gama, ou mesmo em ambientes que lidam com energia atômica,
como usinas, pois os agregados ajudam na proteção contra a radiação;
• Concreto projetado: também conhecido como concreto jateado, é
aplicado por mangueiras de ar comprimido que possuem aditivos que garantem
maior aderência, sendo muito utilizado em encostas para evitar
deslizamentos;
• Concreto autoadensável: possui alta fluidez através da ação de aditivos
superplastificantes que facilitam o bombeamento. É utilizado em peças armadas,
estruturas pré-moldadas, fôrmas em alto relevo e acabamentos em
concreto aparente. Tem como vantagem o autonivelamento, eliminando a necessidade
de vibradores na concretagem, porém, suas propriedades possuem
menor homogeneidade, resistência e durabilidade;
• Concreto de alto desempenho: também conhecido como CAD, é empregado
em obras que necessitam de elevada resistência e durabilidade, por meio
de aditivos especiais que diminuem os índices de porosidade e permeabilidade,
tornando as estruturas mais resistentes à ação de cloretos, sulfatos, gás
carbônico e maresia, apresentando uma resistência superior a 40 MPa. Outra
característica do CAD é a possibilidade de desformas rápidas e uma maior agilidade
na obra;
• Concreto rolado: muito utilizado na base inferior das obras, como pisos
de estacionamentos e barragens, e sua aplicação é realizada com a compactação
por rolos compressores devido aos baixos consumos de cimento e trabalhabilidade.
Não tem um acabamento muito bom e por isso é mais empregado
como sub-base para concretos que apresentam melhor aparência.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 86
Cura do concreto
A cura do concreto tem como objetivo retardar a evaporação da água empregada
no preparo da mistura e auxiliar na hidratação completa do cimento, segundo
Petrucci (2007). As condições de umidade e de temperatura têm grande infl uência,
principalmente nas primeiras idades do concreto. O processo de cura é realizado
nas etapas iniciais do endurecimento e pode ser executado de diversas formas.
A NB 1/77 pede para que a proteção das peças se faça nos sete primeiros
dias a partir do lançamento do concreto, podendo ser então imersas em água,
molhando continuamente as peças concretadas com dispositivos apropriados,
para depois cobrir com sacos de aniagem mantidos sempre úmidos. A atenção
maior à cura é em lajes e pisos, pois costumam ser ambientes expostos, sem
proteção e formas, como no caso de vigas e pilares.
De todas as técnicas, a mais empregada é a cura com molhagem constante,
porém vale lembrar que isso não signifi ca ter um operário com uma mangueira
na mão molhando uma área enquanto outra área vai secando; a cura deve estar
sempre 100% saturada de umidade relativa (UR).
Outros métodos de cura são: por aspersão, que envolve sistemas de ar-
-comprimido, mantendo uma névoa próxima à peça de concreto; cura química,
que é a aplicação de produto na superfície do concreto por aspersão, com
sustâncias como WAX, ceras, parafi nas, PVA, acrílicos, estilenos, entre outros
elementos que impedem a evaporação da água; cura a vapor, que
é muito empregada em ambientes frios, como a região Sul do país,
que tem como procedimento usar o princípio da maturidade
para alcançar altas resistências em baixas
idades; e, por fi m, temos a cura térmica, que tem o
mesmo princípio da cura a vapor pela maturidade,
mas é empregada em peças pré-moldadas.
Concreto armado na construção civil
Como o concreto possui baixa resistência à tração, surgiu a necessidade
de inserir materiais mais resistentes: as barras de aço. O concreto armado
é a associação do concreto simples com uma armadura, e os dois materiais
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 87
devem resistir solidariamente aos esforços solicitantes, sendo essa solidariedade
garantida pela aderência. Dentre as vantagens do uso do concreto
armado, Petrucci (2007) aponta algumas características:
• Moldável, permitindo grande variabilidade de formas e de estilos arquitetônicos;
• Apresenta boa resistência em relação à grande parte dos tipos de solicitação
de esforços, desde que seja feito um dimensionamento correto e um
detalhamento adequado das armaduras;
• A estrutura do concreto armado é monolítica, possibilitando que todo o
conjunto trabalhe em associação quando a peça é solicitada;
• Possui baixo custo de mão de obra, não exigindo profissionais com elevado
nível de qualificação e formação;
• Os processos construtivos são bastante conhecidos e difundidos em
todo o país, sendo fácil seu emprego e utilização;
• Sua execução é fácil e rápida, em especial nas peças pré-moldadas;
• O concreto armado é durável e protege a armação contra a corrosão e as
ações de intempéries;
• A manutenção tem gastos menores quando a estrutura é projetada e
construída adequadamente;
• É pouco permeável à água, seguindo as corretas condições de plasticidade,
adensamento e cura;
• É seguro contra o fogo, seguindo o cobrimento de acordo;
• É resistente a choques e vibrações, efeitos térmicos e atmosféricos e a
desgastes mecânicos.
O concreto armado traz como grande diferencial e benefício a melhoria na
resistência à tração do concreto com o emprego das armaduras na estrutura,
atribuindo também ductibilidade e um aumento na resistência à compressão
em relação ao concreto simples.
Porém, existem algumas desvantagens no emprego do concreto armado,
como o grande peso do próprio material, pois em média temos 2500 kg/m³, um
valor impactante para o cálculo estrutural. Quando reformas e demolições são
necessárias, são muito difíceis de serem executadas por causa da dureza do
material, além do baixo grau de proteção térmica que apresenta, criando assim
espaços mais frios. Outra breve desvantagem é quanto ao prazo na utilização
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 88
do concreto sem o uso de aditivos, sendo necessário aguardar
o tempo de cura e secagem da peça.
Propriedades
Em uma estrutura de concreto armado, além do uso do concreto, o emprego
de armações de barras de aço é fundamental, permitindo uma melhoria na
resistência aos esforços de tração da estrutura.
Na região tracionada onde o concreto possui resistência praticamente nula, ele
acaba sofrendo fi ssuração e se deformando, graças à aderência das barras de aço,
que auxiliam no trabalho e absorção dos esforços de tração da região comprimida.
Os coefi cientes de dilatação térmica do aço e do concreto são muito próximos,
o que auxilia que o trabalho ou que a movimentação do conjunto aconteça
uniformemente com as variações de temperatura.
O coefi ciente de dilatação do concreto é de (0,9 a 1,4) . 10-5⁄˚C (mais frequentemente
(1,0 . 10-5⁄˚C ). No caso do aço, o coefi ciente é de 1,2 . 10-5⁄˚C . Se
observarem, essa diferença entre o aço e o concreto é insignifi cante, tanto que
para o concreto armado é adotado o coefi ciente de 1,0 . 10-5⁄˚C .
Como já mencionamos, o concreto protege o aço da oxidação, garantindo
durabilidade à estrutura. Auxilia, também, na proteção física por meio do cobrimento
das barras e protegendo-as do exterior, além da proteção química,
pois durante a pega do concreto cria-se uma camada quimicamente inibidora
em torno da ferragem.
É possível encontrar em alguns livros a diferença entre armadura passiva e
armadura ativa. A armadura passiva é utilizada na terminologia em referência
ao concreto armado, enquanto a armadura ativa designa o concreto protendido
por conta dos esforços de tração direta pelos quais ele é submetido.
Execução
Antes de iniciar a mistura para a produção do concreto, é necessário efetuar
a separação dos utensílios de medição, bem como os materiais que serão utilizados.
Normalmente os agregados miúdos e graúdos são medidos em padiolas
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 89
de madeira, sempre levando em consideração a umidade. O cimento é sempre
medido em peso, podendo utilizar a dosagem de 50 kg (tamanho de um saco
de cimento), e a água geralmente é medida em latas.
A mistura do concreto poderá ocorrer de forma manual ou mecânica, sendo
que o amassamento manual é empregado apenas em pequenos volumes
ou em obras mais simples, pois a garantia no atingimento final da resistência
quase sempre é imprecisa. Para esses casos, a execução é feita sobre estrados
ou superfícies planas impermeáveis e resistentes, com dimensões máximas
de 3 m x 3 m. Misturam-se primeiramente os itens secos (agregados miúdos,
graúdos e o cimento) homogeneizando-os, e em seguida é feito um buraco
no centro da massa e adiciona-se aos poucos a água, continuando a misturar
toda a massa até atingir uma pasta uniforme.
No caso do amassamento mecânico, a mistura é realizada por máquinas chamadas
de betoneiras. Costuma-se colocar na betoneira uma parte da água, o agregado
graúdo, o cimento, o agregado miúdo e o restante da água. O tempo de mistura
contado após todos os materiais serem introduzidos na betoneira é feito através das
rotações da máquina, geralmente 20 rotações ou aproximadamente um minuto.
Uma outra forma de se obter o concreto é através do uso do concreto usinado,
que é entregue por caminhões betoneiras, já misturado conforme a resistência
necessária ao projeto. Nesse caso, o caminhão betoneira trabalha com 8 m³, sendo
indicado, portanto, para volumes maiores do que pequenas reformas.
Durante o transporte, lançamento e adensamento do concreto é importante
observar se ocorre a separação do agregado graúdo, ou segregação, pois
isso pode impedir a qualidade final do concreto. E para isso, é indicado que o
transporte do local do amassamento até o lançamento seja o mais rápido possível,
e o sistema de transporte adotado deve permitir o lançamento direto nas
fôrmas, evitando assim um depósito intermediário. Na direção horizontal, o
transporte é feito por carrinhos com rodas de pneus (carriolas) e no transporte
vertical, por estrados acionados por guinchos.
DICA
Para evitar a segregação do agregado graúdo do concreto durante o transporte,
o ideal é reprimir a trepidação durante seu manuseio e o excesso de vibração
durante o processo de adensamento e lançamento em alturas elevadas.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 90
No caso do lançamento do concreto, a norma NB 1 recomenda que o concreto
seja lançado logo após sua mistura, não criando um intervalo maior que uma hora,
e em nenhuma hipótese se fará o lançamento do concreto após o início da pega.
O adensamento ou vibração do concreto tem como objetivo preencher os vazios
formados durante o lançamento, eliminando o ar aprisionado e os riscos de bicheiras.
Esse adensamento poderá ser realizado manualmente por meio de golpes
de haste (vergalhão) ou apiloamento com soquete. Para adensamento mecânico
são utilizados vibradores de imersão, permitindo assim maior homogeneidade e
durabilidade, levando a uma redução na retração e na permeabilidade da mistura.
O uso de aço em vigas, pilares e lajes é indispensável em estruturas de concreto
armado, e seu dimensionamento deve ser bem calculado dentro do projeto
estrutural. Nesse cálculo será dimensionado a bitola da barra a ser utilizada
e os elementos relacionados na estrutura.
Os elementos estruturais em concreto armado podem ser identificados de
acordo com sua geometria e comparando a grandeza das três dimensões principais,
que são comprimento, altura e espessura.
Os elementos lineares possuem comprimento longitudinal maior que o
comprimento transversal em ao menos três vezes; como exemplos temos as
vigas e pilares, que também podem ser chamados de barras.
As vigas são elementos que, segundo Mehta, Monteiro (2014) e Coêlho
(2008), possuem flexão preponderante, e suas funções básicas são vencer os
vãos e transmitir as cargas aos apoios, conforme vemos na Figura 2. No eixo
longitudinal, as vigas podem ser curvas, mas em sua grande maioria sua execução
é reta e horizontal.
Figura 2. Viga reta de concreto. Fonte: COÊLHO, 2008, p. 156. (Adaptado).
Viga transversal
Pilares
p1 p2 F
Viga
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 91
A carga recebida é originária das lajes, das paredes de alvenaria e de outras vigas
e pilares, que normalmente são perpendiculares ao eixo longitudinal. As vigas,
em conjunto com pilares e lajes, formam a estrutura de contraventamento que é
responsável por oferecer estabilidade ao edifício, sob ações verticais e horizontais.
Sua construção usualmente possui duas armaduras diferentes, uma na longitudinal
e outra na transversal, compostas de barras longitudinais e estribos.
Segundo Coêlho (2008), a seção transversal da viga não poderá ter largura
inferior a 12 cm, e, no caso das vigas da parede inferior, 15 cm. Em casos excepcionais,
esse mínimo poderá chegar a 10 cm, mas respeitando a NBR 6118
(ABNT, 2014) em relação ao alojamento da armadura e suas interferências, e
a NBR 14931 (ABNT, 2004) referente ao lançamento e vibração do concreto.
Temos como exemplificação de execução de vigas a Figura 3, apresentando
os tipos de viga mais utilizados na construção, sendo vigas baldrames para o
apoio de paredes da construção (1); vigas invertidas na base de uma parede (2);
vigas em múltiplos pavimentos (3) e vigas em sobrado residencial (4).
Figura 3. Exemplos de uso e tipos de vigas. Fonte: BASTOS, 2019, p. 75-76. (Adaptado).
Os pilares também são elementos lineares, porém de eixo reto e usualmente
executados na vertical, onde as forças normais de compressão são preponderantes
e as ações recebidas são transmitidas às fundações da construção. Os
pilares são elementos estruturais de grande relevância tanto do ponto de vista
da capacidade de resistência como no aspecto de segurança, e garantem a estabilidade
da construção compondo o sistema de contraventamento juntamente
com as vigas e lajes, conforme observado na Figura 4.
1 2
3 4
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 92
Figura 4. Pilar de concreto. Fonte: COÊLHO, 2008, p. 191. (Adaptado).
Pilar Viga
Acompanhamos na Figura 5 exemplos de execução de pilar, apresentando
os tipos mais utilizados na construção: pilares de fachada (1); pilares em edifícios
de múltiplos pavimentos (2); detalhe da montagem da forma (3) e detalhe
do encontro do pilar com a parede de vedação (4).
Figura 5. Exemplos de uso e tipos de pilar. Fonte: BASTOS, 2019, p. 77-78. (Adaptado).
1 2 3 4
As lajes são elementos bidimensionais planos que têm função principal
servir de piso ou cobertura nas edificações, e geralmente recebem ações verticais
aplicadas provenientes da utilização da laje em função arquitetônica.
As ações perpendiculares do plano da laje são separadas em: distribuída na
área, peso próprio, contrapiso e revestimento na borda inferior. São distribuídas
linearmente em carga de parede apoiada na laje e distribuída de forma
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 93
concentrada nos pilares apoiados na laje. As cargas e ações são transmitidas
para as vigas de apoio conforme demonstrado na Figura 6, porém, eventualmente
as cargas podem ser transmitidas diretamente aos pilares, conforme
estabelece a NBR 6118 (ABNT, 2014).
Figura 6. Planta e corte de forma simples com duas lajes maciças. Fonte: COÊLHO, 2008, p. 33. (Adaptado).
A
LAJE 1
P1 V 100
V 101
PLANTA DE FORMA
CORTE A
V 102
V 103
V 104
P4
P2
P3
LAJE 2
A
Observe os tipos de lajes na Figura 7, onde podemos encontrar lajes maciças
(1), nervuradas (2), lisas (3), treliçadas (4) e pré-moldadas (5).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 94
Figura 7. Exemplos de uso e tipos de lajes. Fonte: BASTOS, 2019, p. 69-73. (Adaptado).
1 2 3
4 5
As lajes maciças possuem espessura totalmente preenchida em concreto,
sem vazios, e suas armaduras são embutidas no concreto e apoiadas ao longo
de toda a parte do perímetro. As lajes nervuradas podem ser moldadas no
local ou podem ser pré-moldadas, e a zona de tração dos momentos positivos
está localizada nas nervuras entre as quais pode ser colocado material inerte.
As lajes nervuradas parecem colmeias ou grandes vãos cubos na parte inferior.
As lajes lisas são apoiadas diretamente nos pilares, são executadas de forma
maciça de concreto e aço e sem vazios ou enchimentos, porém não são
apoiadas nas vigas, somente nos pilares, apresentando vantagens de custos
menores, com maior rapidez de construção, mas são mais suscetíveis a deformações
verticais. As lajes treliçadas são mais empregadas em construções de
pequeno porte devido à facilidade na execução, entre as treliças pré-fabricadas
instalam-se lajotas cerâmicas ou mesmo isopor, e acima dessa estrutura recebe-
se a concretagem, conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014).
Já as lajes pré-moldadas são fabricadas industrialmente e são levadas prontas
para as obras, precisando apenas encaixar nas demais peças.
A argamassa armada, ou microconcreto, é uma outra possibilidade no emprego
do concreto armado. Ela possui a mesma origem do concreto armado,
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 95
apenas com a exclusão dos agregados graúdos. Sua armação usualmente é
feita através de telas soldadas. Os agregados empregados têm a espessura na
ordem de 20 mm, em média.
Ensaios
O controle de qualidade é fundamental para garantir a durabilidade das
estruturas de concreto, onde os ensaios são um recurso utilizado para comprovar
os parâmetros de execução. Eles podem ser classifi cados em destrutivos,
que necessitam quebrar o corpo de prova, e não destrutivos, com a utilização
de equipamentos a fi m de mensurar a estrutura sem a necessidade de quebra.
Ensaios destrutivos
Os ensaios de tração direta, segundo Mehta e Monteiro (2014), verifi cam a
resistência à tração direta fct, aplicando a tração axial até sua ruptura nos corpos
de prova de concreto simples. O ensaio de tração na compressão diametral,
também chamado de spliting test, é um dos mais utilizados por causa de sua
simplicidade; utiliza o corpo de prova onde o corpo cilíndrico é colocado, com o
eixo horizontal entre os pratos do equipamento de ensaio, recebendo uma força
até sua ruptura por fendilhamento devido à tração direta.
O ensaio de tração na fl exão também é realizado com o corpo de prova
com carregamentos nas duas seções simétricas até sua ruptura. Esse ensaio
também pode ser chamado de carregamento nos terços, porque as seções carregadas
se encontram nos terços do vão.
O slump test mede a consistência do concreto verifi cando sua trabalhabilidade,
é feito pelo abatimento do concreto no concreto fresco antes de sua
aplicação, assim é possível verifi car se o concreto tem a consistência ideal a ser
utilizada. O slump é muito simples de ser executado: obtenha uma amostra
para o teste, coloque o molde tronco cônico de dimensões entre 10 a 20 cm
de diâmetro e altura de 30 cm sobre um local plano, de preferência estanque,
onde a base maior fi ca voltada para baixo. Encha uma camada de 10 cm com
concreto e realize a compactação com 25 golpes em uma barra de 16 mm de
diâmetro. Repita o mesmo processo nas outras duas camadas. Após cinco minutos,
retire o molde lentamente e compare a diferença de altura do molde
com o tronco de cone de concreto. Para vigas, pilares e lajes, a diferença não
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 96
deve passar de 6 a 8 cm; para sapatas e blocos de fundação, não ultrapassar 4
cm; e não passar de 8 a 12 cm para concretos bombeados.
Ensaios não destrutivos
O ensaio de esclerometria (ou de dureza superfi cial) é normatizado pela
NBR 7584 (ABNT, 2012b) e estima a resistência à compressão do concreto através
de um esclerômetro de refl exão, que é um tipo de martelo impulsionado
por uma mola que se choca contra a superfície do concreto ensaiado, e quanto
mais dura for a superfície, maior será o recuo (refl exão) do martelo. O ensaio
de medição de maturidade do concreto é utilizado no seu processo de cura
e endurecimento, sendo possível relacionar o tempo e a temperatura e assim
defi nir a resistência à compressão estimada do concreto. Segundo Daldegan
(2017), em situações de alta produtividade, onde as formas precisam ser retiradas
mais rápido, esse ensaio pode auxiliar na verifi cação da resistência e se
está em condições ideais de desforma.
Conforme Daldegan, (2017), o ensaio de resistência à penetração é um
outro tipo de ensaio de resistência à compressão, realizado por meio de um
penetrômetro Windsor, que mede a resistência com um pino que fi ca exposto.
Esse ensaio também pode ser realizado na fase de cura do concreto, onde o
pino pode ser disparado pela forma de madeira e verifi cada a resistência antes
da retirada da forma. Porém, esse ensaio, da mesma forma que o de esclerometria,
mede apenas um ponto específi co, e não toda a área concretada.
Outro ensaio não destrutivo muito conhecido é o ultrassom da estrutura, que
verifi ca as boas condições internas da estrutura utilizando ondas acústicas ultrassônicas
saídas de um emissor e recebidas por um receptor.
Patologias
Bauer (1992) explica que a maioria dos danos estruturais são do tipo evolutivo,
ou seja, poderão comprometer a estabilidade em um prazo mais ou
menos curto, e a deterioração está relacionada com erros de projeto estrutural,
emprego de materiais inadequados, erros de execução e agressividade do
meio ambiente. Veja algumas patologias relacionadas a erros de projeto:
• A falta de detalhamento ou detalhes mal especifi cados;
• Cargas ou tensões não levadas em consideração no cálculo estrutural;
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 97
• Variações bruscas de seção em elementos estruturais;
• Falta ou projeto deficiente de drenagem;
• Efeitos da fluência do concreto não levados em consideração.
Os materiais devem ser criteriosamente conhecidos e ensaiados previamente
para evitar as patologias, caracterizando-os conforme as normas e procedimentos
relacionados. Patologias relacionadas a erros de execução podem
estar relacionadas com:
• Má interpretação das plantas e/ou detalhes pela equipe de obra;
• Adoção de métodos executivos e equipamentos inadequados;
• Deslocamento de formas, prumo e alinhamento durante a montagem;
• Falta de limpeza das formas;
• Descolamento de formas durante a concretagem devido a amarrações deficientes
ou vibração excessiva;
• Má colocação da armadura com a falta de cobrimento adequado ou má
distribuição;
• Desforma antes que o concreto apresente resistência à compressão e módulo
de deformação suficientes e necessários;
• Não retirada de materiais construtivos nas juntas de dilatação, como formas,
ou ausência de vedação elástica ou limpeza;
• Recalques diferenciais;
• Segregação do concreto;
• Retração hidráulica durante a pega do concreto gerando perda d’água;
• Vibrações produzidas por tráfego intenso ou cravação de estacas nas proximidades
causando impactos;
• Conhecimento inadequado de engenharia por parte do construtor.
Segundo Bauer (1992), os três principais sintomas de patologia de obras em
concreto armado são as fissuras, a disgregação e a desagregação. São sintomas
visíveis e podem ser facilmente constatados e diferenciados entre si.
As fissuras podem surgir após anos, ou mesmo semanas, e as aberturas
máximas das fissuras, admissíveis pela NBR 6118 (ABNT, 2012), não devem ultrapassar
0,1 mm para peças não protegidas em meio agressivo, 0,2 mm para
peças não protegidas em meio não agressivo, e 0,3 mm para peças protegidas.
Acima desses valores, passam a ser necessários tratamento e correção
das fissuras. As fissuras chamadas “vivas” são as com movimentação e ainda
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 98
em crescimento, e as fi ssuras chamadas “mortas” são as fi ssuras estabilizadas,
sem movimentação ou crescimento.
Disgregação é a ruptura do concreto, especialmente nas regiões salientes
dos elementos estruturais. São concretos que conservam sua característica
de origem, porém não foram capazes de suportar os esforços anormais sobre
eles. As desagregações são sintomas característicos de ataques químicos,
como corrosão de natureza química, reação de hidróxido de cálcio da hidratação
dos elementos do cimento e as reações. O Quadro 5 apresenta um resumo
dos principais sintomas e causas de patologias do concreto.
Sintomas
Causas principais
Fissuras Disgregações Desagregações
X X X X X X X X X
X
X
X
X
X
1. Durante a construção
X
2. Retração durante a pega do cimento
X
3. Retração durante o endurecimento do
concreto
4. Efeitos de variação de temperatura
X
X
X
4.1 Interna
X
X
4.2 Ambiente
X
4.3 Incêndio
5. Absorção de água pelo concreto
X
6. Corrosão de armaduras
X
6.1 Origem química
6.2 Origem eletroquímica
7. Reações químicas
8. Alteração atmosférica
9. Ondas de choque
10. Projeto incompleto, sem detalhes
X
11. Erros de cálculo
12. Abrasão
QUADRO 5. PRINCIPAIS SINTOMAS E SUAS CAUSAS
Fonte: BAUER, 1992, p. 413.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 99
Normativas
Como diversos materiais, o concreto armado também segue normas que
asseguram a qualidade e a confi abilidade do projeto e obra. A principal norma
relacionada ao concreto armado é a NBR 6118 (ABNT, 2014), sobre os procedimentos
do projeto de estrutura de concreto. Além desta NBR, podemos citar
outras relacionadas ao concreto:
• NB 1 – NBR 6118 – Projeto e execução de obras de concreto armado;
• NB 2 – NBR 7187 – Cálculo e execução de pontes de concreto armado;
• NB 4 – NBR 6119 – Cálculo e execução de lajes mistas;
• NB 5 – NBR 6120 – Cargas para cálculo de estruturas de edifi cações;
• NB 6 – NBR 7188 – Cargas móveis em pontes rodoviárias;
• NB 7 – NBR 7189 – Cargas móveis em pontes ferroviárias;
• NB 8 – NBR 5984 – Norma geral do desenho técnico;
• NB 16 – NBR 7191 – Execução de desenhos para obras de concreto simples
ou armado;
• NB 49 – Projeto e execução de obras de concreto simples;
• NB 51 – Projeto e execução de fundações;
• NB 116 – NBR 7197 – Cálculo e execução de obras de concreto protendido;
• NB 599 – NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edifi cações;
• EB 1 – NBR 5732 – Cimento Portland comum;
• EB 3 – NBR 7480 – Barras e fi os de aço destinados a armaduras para concreto
armado;
• EB 4 – NBR 7211 – Agregados para concreto armado;
• EB 565 – Telas de aço soldadas para armaduras de concreto;
• EB 780 – Fios de aço para concreto protendido;
• EB 781 – Cordoalhas de aço para concreto protendido;
• MB-1 – NBR 7215 – Ensaio de cimento Portland;
• MB-2 – NBR 5738 – Confecção e cura de corpos de prova de concreto cilíndrico
ou prismáticos;
• MB-3 – NBR 5739 – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos
de concreto;
• MB-4 – NBR 6152 – Determinação das propriedades mecânicas à tração de
materiais metálicos;
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 100
• MB-215 – Determinação do inchamento de agregados miúdos para concreto;
• MB-256 – Consistência do concreto pelo abatimento do tronco de cone;
• NBR 7187 – Cálculo e execução de ponte em concreto armado;
• NBR 7212 – Execução de concreto dosado em central;
• NBR 7807 – Símbolo gráfico para projeto de estruturas - simbologias;
• NBR 8681 – Ações e segurança nas estruturas;
• NBR 8953 – Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência;
• NBR 9062 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado;
• NBR 11173 – Projeto e execução de argamassas armadas;
• NBR 12317 – Verificação de desempenho de aditivos para concreto;
• NBR 12654 – Controle tecnológico dos materiais componentes do concreto;
• NBR 12655 – Concreto - preparo, controle e recebimento do concreto.
Existem também algumas normas estrangeiras que podem ser
consultadas, como as dos órgãos do American Concrete
Institute - ACI e do Comité Européen du Beton - CEB.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 101
Sintetizando
Como pudemos ver nesta unidade, o concreto é um dos materiais mais utilizados
dentro da construção civil e da arquitetura, permitindo atribuir mais
qualidade e durabilidade aos projetos e construções. O concreto é composto
por aglomerantes e agregados, sendo o cimento o aglomerante da mistura
que permite a união de todos os materiais. Já os agregados, como visto nessa
unidade, podem ser classificados através de sua origem, dimensões das partículas,
massa específica e composição mineralógica, porém a classificação mais
usual é a da dimensão de partículas, que são separadas entre agregados miúdos
(areia fina, média e grossa) e agregados graúdos (brita, pedra britada, pó
de pedra, rachão, bica corrida e restolho).
Com relação às propriedades do concreto, é preciso observar a resistência à
compressão, a resistência à tração, a trabalhabilidade, o módulo de elasticidade,
a coesão, a segregação e a massa específica. O concreto é um material que
resiste muito bem à compressão, porém tem baixa resistência à flexão.
Existem diversos tipos de concretos, e sua escolha ocorre de acordo com o
tipo de obra. Entre os concretos mais usuais, temos o de cimento Portland (ou
concreto convencional), o bombeado, o protendido, o celular e o armado.
Concreto armado é a junção do concreto convencional com armaduras de
barra de aço, que auxiliam justamente na resistência à flexão da peça que, em
conjunto com a mistura de concreto (resistente à compressão), permite uma
maior durabilidade e qualidade da peça.
Na construção civil, os elementos estruturais mais utilizados na estrutura
e contraventamento de uma edificação são executados em concreto armado,
como as vigas, pilares e lajes. Por ser um material bastante empregado, existem
vários ensaios e normativas para sua fiscalização, garantindo a segurança,
durabilidade e qualidade da construção final.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 102
Referências bibliográficas
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 5734: Peneiras
para ensaio com telas de tecido metálico. Rio de Janeiro: ABNT, 1989.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 5738, Versão
Corrigida (2016): Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos
de prova. Rio de Janeiro: ABNT, 2015a.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 5739: Concreto - Ensaio
de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6118: Projeto de
estrutura de concreto - procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7211, Versão Corrigida
(2019): Agregados para concreto - Especificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7212: Execução
de concreto dosado em central — Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2012a.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7225: Materiais
de pedra e agregados naturais. Rio de Janeiro: ABNT, 1993.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7584: Concreto
endurecido - Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão
- Método de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2012b.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 8953: Concreto
para fins estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de
resistência e consistência. Rio de Janeiro: ABNT, 2015b.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 9778, Versão Corrigida
(2009): Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção
de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 12655: Concreto
de cimento Portland - preparo, controle, recebimento e aceitação - procedimento.
Rio de Janeiro: ABNT, 2015c.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14931: Execução
de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
BASTOS, P. S. dos S. Fundamentos do concreto armado: notas de aula. Bauru:
FEB, 2019. Disponível em: <http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/concreto1/Fundamentos%
20CA.pdf>. Acesso em: 23 maio 2020.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 103
BAUER, L. A. F. Materiais de construção. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1992, v. 1.
COÊLHO, R. S. de A. Concreto armado na prática. São Luís: UEMA Ed., 2008.
DALDEGAN, E. Principais ensaios não destrutivos para estruturas de concreto.
Blog Engenharia Concreta, 08 set. 2017. Disponível em: <https://engenhariaconcreta.
com/principais-ensaios-nao-destrutivos-para-estruturas-de-concreto/>.
Acesso em: 23 maio 2020.
MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. P. M. Concreto: microestrutura, propriedade e materiais.
2. ed. São Paulo: Ibracon, 2014.
NEVILLE, A. M. Propriedades do concreto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
OLIVEIRA. H. M. Cimento Portland. In: BAUER, L. F. A. (Org). Materiais de construção.
5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008, v. 1, p. 35-62.
PETRUCCI, E. G. R. Materiais de construção. 12. ed. São Paulo: Editora Globo, 2007.
SILVA, M. R. Materiais de construção. São Paulo: Pini, 1991.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 104
CIÊNCIA DOS
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO: O
USO DO AÇO NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
4
UNIDADE
Objetivos da unidade
Tópicos de estudo
Apresentar os conceitos sobre o aço;
Apontar as propriedades predominantes do aço;
Conhecer as origens e processos dos materiais estudados;
Apresentar as técnicas de construção mais utilizadas na construção, com
qualidade, desempenho e durabilidade;
Apresentar os termos técnicos e desenvolver postura crítica na escolha dos
materiais e técnicas construtivas;
Identificar patologias e falhas, resultantes de emprego e manuseio
inadequados dos materiais.
Aço
Fabricação
Estrutura/tratamento
Propriedades
Classificação
Uso na construção
Ligações
Perfis
Lajes, vigas e pilares
Métodos construtivos
Normativas
Patologias
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 106
Aço
A humanidade trabalha com a metalurgia há muito tempo, tanto para a
fabricação de utensílios domésticos quanto para a fabricação de armas. Utilizando
diversos metais, desenvolveu-se novas tecnologias e conhecimentos
para a extração, o refi no e o tratamento desses minérios, possibilitando sua
utilização para outras coisas, como para a fabricação de moedas, joias, armaduras
etc. Considerado na história como um avanço científi co, marca o fi m da
chamada Pré-História e o início da Idade dos Metais, subdividida
em Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro.
Os primeiros artefatos de ferro que se tem informação são
artigos encontrados no Egito, por volta de 2900 a.C. Fogueiras
foram edifi cadas à base de rochas de minério de ferro, com a intenção de promover
o contato de partículas quentes de carbono com partículas de óxido de
ferro. Isso principia o processo de redução e o reverte em uma massa escura,
não fundida, liberando a sua deformação plástica através de técnicas de forjamento,
resultando em utensílios de diferenciadas propriedades mecânicas.
O ferro é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, encontrado
em minérios como hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4), siderita (FeCO3),
entre outros; dessa forma, é possível produzir o ferro com diversos elementos.
Uma usina siderúrgica processa o minério (hematita é o mais comum)
para reduzir o oxigênio através do carbono. Nesse contexto, o carvão cumpre
um papel duplo: o primeiro é o de combustível, para alcançar altas temperaturas
(acima de 1500 °C), necessário para fusão do minério; o segundo é o de
redutor, pois o carbono se associa ao oxigênio que se desprende
com a alta temperatura.
Tal processo de remoção se chama redução e ocorre dentro
do alto forno, onde o processo inicial resulta em ferro-gusa, que
contém de 3,5 a 4,0% de carbono em sua estrutura; em uma segunda fusão,
tem-se o ferro fundido com teores de carbono entre 2,0 e 6,7%, ainda com
análises de silício, fósforo, enxofre, manganês etc.; por fi m, o ferro-gusa ou
o ferro fundido segue para uma unidade da siderurgia denominada aciaria,
onde é processado o aço, uma liga metálica de ferro composta por, no máximo,
2,11% de carbono (FERRAZ, 2003).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 107
Fabricação
O processo siderúrgico citado permite transformação em diferentes tipos
de aços, por forma, tamanho, uniformidade ou composição química. De
maneira geral, as excelentes propriedades mecânicas como boa resistência
à tração, compressão, fl exão, homogeneidade, capacidade de ser laminado,
forjado, estampado e estriado fazem com que o aço seja produzido para
diversas fi nalidades.
Considerando que sua fabricação necessita de um sistema
industrial válido para a obtenção de aço, sendo
obtido do minério de ferro, a siderurgia acaba
tendo um baixo custo quando comparada
a outros processos para metais e ligas
metálicas com boa resistência. De acordo
com Dias (1999), as etapas de produção do
aço se dividem em:
1. Preparação: etapa anterior ao envio para o alto forno.
O carvão e o minério são preparados para que ocorra melhoria
do rendimento e economia do processo. O carvão é destilado, obtendo
um coque e subprodutos carboquímicos; o minério é, então, convertido em
pelotas;
2. Redução: durante este procedimento, o ferro se condensa e passa a
ser chamado de ferro-gusa ou ferro de primeira fusão. A formação da escória,
matéria-prima na produção do cimento, é consequência da presença de
impurezas como calcário, sílica etc.;
3. Refi no: etapa em que o ferro-gusa, ainda em estado líquido, é levado
para a aciaria e é transformado em aço, mediante queima das adições e
impurezas. O refi no do aço se faz em fornos à base de injeção de oxigênio
ou elétricos;
4. Laminação: etapa em que o aço, ainda em solidifi cação, é transformado
mecanicamente em produtos siderúrgicos empregados pela indústria
de transformação, tais como chapas grossas e fi nas, bobinas, vergalhões,
arames, perfi lados, barras etc.
Veja um exemplo na Figura 1.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 108
Figura 1. Fluxo simplifi cado de produção do aço. Fonte: DIAS, 1999, p. 18. (Adaptado).
Estrutura/tratamento
Os metais são constituídos por um aglomerado compacto de átomos, solidifi -
cando-se pela formação de cristais, denominada estrutura cristalina. Os aços
são ligas de ferro-carbono, sendo necessário visualizar os aglomerados de átomos
de ferro (raio atômico 140 pm) e as formas cristalinas que o elemento pode
assumir (TSCHIPTSCHIN, 2017).
Em alta temperatura, o aço apresenta uma estrutura denominada cúbica
de face centrada – CFC. Trata-se de uma estrutura formada por oito átomos
de ferro (vértices) em uma célula unitária cúbica, com outros seis átomos nas
faces do cubo. Observando a Figura 2a, percebe-se que os átomos são divididos:
as faces possuem somente metade de cada átomo, enquanto os vértices
possuem somente 1/8.
Em baixa temperatura, os átomos de ferro se organizam de forma diferente,
formando uma estrutura denominada cúbica de corpo centrado – CCC,
com os mesmos oito átomos nos vértices e um único átomo no centro do cubo,
como podemos observar na Figura 2b.
Gusa sólido
Aciaria elétrica
Laminação
Produtos
laminados
Aciaria LD
Minério de ferro
Carvão
Outros
Coqueria
Sintetização
Sucata
Preparação da carga Redução Refi no Lingotamento Laminação
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 109
A estrutura CFC, denominada austenita, é estável em temperaturas muito
altas, como laminação ou forjamento (1000 a 1200 °C); quando a temperatura
é inferior a 912 °C, ocorre a transformação do CFC para a estrutura CCC. A estrutura
CCC é denominada ferrita e se mantém estável desde a temperatura
ambiente. Praticamente todos os tratamentos térmicos realizados em aços se
baseiam nessa transformação, o que garante a possibilidade de se obter materiais
mais duros e resistentes ao desgaste e à fadiga.
Vale lembrar que o aço é composto por ferro e carbono, porém o carbono é
muito pequeno (raio atômico 70 pm), ocupando posições vazias, existentes no
cristalino do ferro, as chamadas posições intersticiais.
Quando o teor de carbono é mais alto, este se agrupa com o ferro, formando
uma fase cerâmica – carboneto de ferro (Fe3C) –, denominada cementita.
Trata-se de estrutura complexa, composta de 16 átomos por célula unitária,
12 de ferro e 6 de carbono, sendo uma fase muito dura e frágil, como o vidro
(TSCHIPTSCHIN, 2017).
Figura 2. Estrutura do aço. Fonte: TSCHIPTSCHIN, 2017, p. 5. (Adaptado).
C
B
(a) Empacotamento cúbico de face centrada – CFC
Posições atômicas
Célula unitária
(b) Empacotamento cúbico de corpo centrado – CCC
Posições atômicas
A
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 110
Existe um equilíbrio para as ligas Fe-C e este é explorado nos
tratamentos térmicos, para os quais o aço é submetido. As transformações
entres faixas de temperatura para as fases de ferrita
(CCC), austenita (CFC) e cementita são estáveis,
sendo possível prever quando se formam, se resfriadas
lentamente (no equilíbrio). A precipitação
da cementita ocorre de forma alternada da
ferrita, formando uma outra estrutura denominada
perlita, considerada um compósito natural,
visto que se agrupam de forma alternada.
Quando um aço com aproximadamente 50% de ferrita e 50% de perlita é
aquecido em uma temperatura acima de 727 °C, a considerada zona crítica,
ocorre a transformação da perlita em austenita (CFC), e a ferrita (CCC) permanece
estável. Se aquecermos todo o material em temperatura acima de
aproximadamente 830 °C, ocorre sua transformação total em austenita. Se a
resfriarmos lentamente, a austenita se transforma em ferrita, e, finalmente, a
727 °C, toda a austenita se torna perlita; dessa forma, a cementita endurece o
aço e a ferrita o mantém resistente. Com esse controle, é possível organizar os
átomos de diversas maneiras.
Segundo Ferraz (2003), entre os tratamentos térmicos mais utilizados com
aço, estão:
• Recozimento: para remover tensões como forjamento e laminação, diminuir
a dureza e alterar as propriedades mecânicas, utiliza-se a velocidade de
resfriamento lenta e um aquecimento superior à temperatura crítica;
• Normalização: com objetivos semelhantes ao anterior, mas com um resfriamento
posterior menos lento, refina a granulação grosseira do aço fundido,
além de ser aplicável em peças que foram laminadas ou forjadas;
• Têmpera: para obter uma alta dureza, é feito o resfriamento rápido de
uma temperatura superior à crítica. Tal tratamento leva ao aumento de resistência
à tração e à redução da maleabilidade, trazendo tensões internas à peça;
• Revenido: com o aquecimento inferior a 723 °C (crítica), geralmente, sucede
a têmpera. Tal processo ocorre devido ao alívio das tensões internas,
que corrige a dureza e a fragilidade, aumentando a resistência ao choque e à
maleabilidade.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 111
DICA
O aço será submetido a tratamentos térmicos, ou seja, processos de fabricação
que facilitam outros processos, aumentando o desempenho e reforçando as
propriedades do material. Portanto, ao submeter os aços em operações de
aquecimento e resfriamento sob condições controladas de temperatura, tempo,
atmosfera e velocidade de resfriamento, obtém-se diversos benefícios.
Propriedades
Ao utilizar estruturas metálicas como campo de estudo, podemos realizar
um teste de resistência: submetendo uma barra metálica a um esforço de tração
crescente, ela apresenta um aumento de comprimento. Analisando esta
deformação, pode-se classifi car alguns conceitos e propriedades dos aços
(ANDRADE, 1994):
• Elasticidade: habilidade do aço de retornar à sua forma original após
repetidos ciclos de carregamento e descarregamento. O material passa por
transformações, por meio das tensões de tração ou de compressão, que podem
ser elásticas ou plásticas, devido à natureza cristalina dos metais. O módulo
de elasticidade dos aços estruturais é em torno de 205.000 MPa, a uma
temperatura de 20 °C.
• Plasticidade: modifi cação defi nitiva, ocasionada pelo efeito de tensões
iguais ou superiores ao balizador do escoamento do aço. Para limitar sua deformação,
o correto é difi cultar que a tensão correspondente ao limite de escoamento
seja obtida nas seleções transversais das barras.
• Ductilidade: habilidade peculiar do material se deformar plasticamente
sem seu rompimento, defi nida pela amplitude do patamar de escoamento. As
características das estruturas metálicas são de extrema importância, visto que
estas admitem a redistribuição das tensões locais elevadas. Assim, as peças de
aço suportam grandes deformações antes de seu rompimento, elaborando um
prévio aviso sobre a presença de tais tensões.
• Tenacidade: competência do material de atrair energia quando exposto
à carga de impacto. A energia total, elástica e plástica, é integrada ao material
através de seu volume, até sua ruptura. Assim, um material dúctil, que possua
a mesma resistência de um material frágil, dispõe de uma maior tenacidade,
visto que demanda maior quantidade de energia para ser rompido.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 112
• Fragilidade: trata-se do inverso da ductilidade, portanto as peças se rompem
bruscamente, sem aviso prévio, o que ocasiona acidentes em pontes e
navios, por exemplo.
• Resiliência: habilidade do aço de absorver a força atuante em seu regime
elástico, obtendo energia.
• Fluência: os materiais sofrem ajustes plásticos, que auxiliam os pontos de
tensão. Em geral, temperaturas altas nos metais facilitam a deformação plástica;
nos aços, temperaturas superiores a 350 °C facilitam essa fl uência.
• Fadiga: quebra do material sob esforços repetidos ou cíclicos, possível de
acontecer em materiais dúcteis também.
• Dureza: resistência que a superfície do material proporciona à penetração,
ao risco ou à abrasão, que pode ser causada por uma peça de maior dureza. Esta
habilidade é de vital importância para chapas de aços.
Classificação
Podemos distinguir os aços entre aço carbono comum e aço-liga. O aço
carbono é uma liga de ferro-carbono que contém, geralmente, de 0,008 a
2,11% de carbono, além de certos elementos residuais do processo de fabricação;
o aço-liga é composto de aço carbono com outros elementos de
liga residuais, em teor acima dos que são considerados normais. Os aços
carbono são divididos em três categorias (PANNONI, 2005), apresentadas
a seguir:
• Aços com baixo teor de carbono: C < 0,03%, possuem grande ductilidade,
não admitem têmpera e são utilizados para trabalhos mecânicos e soldagens
(construção de pontes, navios, edifícios, peças de grandes dimensões etc.);
• Aços com médio teor de carbono: 0,03% < C < 0,7%, possuem boa tenacidade
e resistência, se temperados e revenidos,
além de serem utilizados em engrenagens,
bielas, cilindros e peças motoras;
• Aços com alto teor de carbono: C > 0,7%,
possuem elevada dureza e resistência após a
têmpera, e são utilizados em molas, ferramentas,
pinos, entre outros acessórios de máquinas.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 113
Figura 3. Aços estruturais. Fonte: PANNONI, 2003, p. 3. (Adaptado).
Dentre os aços com baixo teor de carbono, é possível desenvolver aços microligados,
especificados por sua resistência mecânica e não por sua composição
química. Em níveis muito pequenos, os aços microligados sofrem pequenas
adições de elementos, sendo destinados a estruturas em que a soldagem
e a resistência são importantes.
Os aços-liga, por sua vez, podem ser subdivididos em dois grupos:
• Aços de baixo teor de ligas, que contêm elementos de liga abaixo de 8%;
• Aços de alto teor de ligas, que contêm elementos de liga acima de 8%.
De modo geral, segundo Pannoni (2005), podemos representar os aços conforme
mostra a Figura 3.
Materiais metálicos
Ferros
fundidos
Aços
ligados
Aços
carbono
Aços de baixo C
0,03% < C
Aços carbono
comuns
Aços
microligados
Aços de médio C
0,03% < C <0,7%
Aços de alto C
0,7% < C
Aços
inoxidáveis
Fe-cr (Ni)
Ferríticos,
austeníticos,
martensíticos,
duplex,
PH
Maraging
Fe-Ni
Hadfield
Fe-C-Mn
Ferrosos Não
Ferrosos
Os aços Hadfield são os precursores dos aços com alto teor de manganês
(Mn). O aço austenítico manganês, cúbico de face centrada como fase primária,
combina alta tenacidade e ductilidade com alta capacidade de endurecimento
em trabalho e boa resistência ao desgaste. Além disso, tal aço é utilizado
em terraplenagem, minas e pedreiras, perfuração de petróleo e equipamentos
para manuseio e processamento térreo de materiais, como britadores, moinhos,
escavadoras, entre outros (LIMA, 2009).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 114
Com o devido tratamento, é possível desenvolver aços especiais, resistentes
à corrosão atmosférica, ideais para estruturas de aço aparente. Aços que,
mesmo sem proteção adicional, resistem a esse tipo de corrosão são chamados
de aços patináveis ou aclimáveis; comercialmente chamados de Corten,
tais aços estão disponíveis sob forma de chapas, bobinas e perfis soldados. A
pátina é resultado de uma camada de óxido compacta e aderente, e funciona
como barreira de proteção contra a corrosão (FERRAZ, 2003).
Os aços inoxidáveis são, basicamente, ligas ferro-cromo. Outros metais
atuam como elementos de liga, mas o cromo é o mais importante e sua presença
garante resistência à corrosão. Esta resistência se deve à formação de finas
películas de óxido de cromo na superfície do material, que protege o metal do
ataque causado pelo meio corrosivo. O termo “aço inoxidável” é considerado
somente em relação a aços com mais de 11,5% de cromo. A partir desse limite
mínimo, a película formada passa a ter as seguintes propriedades: volatilidade
praticamente nula, alta resistência elétrica, boa aderência, boa plasticidade,
insolubilidade muito alta, baixa porosidade e difícil transporte catiônico.
A classificação mais simples e mais usada dos aços inoxidáveis é baseada na
microestrutura que eles apresentam à temperatura ambiente. Nessas condições,
são considerados três grupos de uso mais generalizados: aços inoxidáveis
martensíticos temperáveis; aços inoxidáveis ferríticos não temperáveis; aços
inoxidáveis austeníticos não temperáveis.
Os aços inoxidáveis martensíticos são muito usados nas indústrias químicas
e petroquímicas, aeronáuticas e aeroespaciais, na geração de energia e no
ramo de cutelaria e ferramentaria. Os aços inoxidáveis ferríticos são empregados
na produção de capotas de automóveis, equipamentos de restaurante,
câmaras de combustão, aquecedores, entre outros. Os aços inoxidáveis austeníticos
são os mais utilizados, devido a sua alta resistência à corrosão e à
conformabilidade.
Aços ao cromo-níquel também são comumente empregados, sendo o mais
conhecido o 18-8, em que o teor médio de cromo é 18% e o de níquel 8%. A
introdução do níquel melhora consideravelmente a resistência à corrosão e à
oxidação a altas temperaturas, visto que, na maioria dos reagentes, o níquel é
mais nobre que o ferro, além de formar uma camada de óxido que protege o
aço espontaneamente.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 115
Com características de não magnetismo e estrutura austenítica (CFC) à temperatura
ambiente, o aço conserva propriedades mecânicas, conforme seu tratamento
e fi nalidade. Assim, possibilita-se sua utilização na fabricação de utensílios
domésticos, porcas, eletrodos de solda, peças de forno, estufas, aparelhos
de pressão, parafusos, indústrias químicas, navais, de alimentos, entre outros.
Na siderurgia, o carbono desempenha um papel importante para localizar
um aço pertencente à classe martensítica ou ferrítica. Um aço com 16% de cromo,
por exemplo, pode pertencer a ambas as classes, dependendo de seu teor
de carbono. Contudo, outros aços resistentes à corrosão, com características importantes,
como duplex e super duplex, superausteníticos, ferrítico EBI, supermartensíticos,
dentre outros, vêm sendo empregados em condições especiais.
Lembre-se que nenhum material é totalmente inoxidável, é necessário estar
ciente de suas características e comportamentos.
EXPLICANDO
A siderurgia trabalha, principalmente, com o aquecimento e resfriamento controlado
do aço, agrupando e realinhando os átomos de ferro, carbono e outros
materiais ao longo da peça, para atribuí-los às propriedades desejadas. Assim,
desde a Revolução Industrial, ele é produzido e utilizado em larga escala.
Uso na construção
Na Inglaterra, desde o fi m do século XVII, investiu-se em novas técnicas de produção
de ferro em larga escala. Em Coalbrookdale, a primeira alternativa viável foi
obtida quando se patenteou um método produtivo de postes de ferro em fornalha
de combustão. É evidente, portanto, que o ferro revolucionou o ramo da construção,
possibilitando que estruturas mais leves, sem paredes internas e com janelas maiores
fossem construídas.
Tais tecnologias permitiram, também, a construção da primeira ponte de ferro
fundido, a Ironbridge Gorge, em Coalbrookdale, Inglaterra. A ponte (Figura 4) foi inaugurada
em 1781 e, em 1986, listada como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Em 1856, Henry Bessemer patenteou um processo de produção em massa de
aço, o primeiro com um custo acessível. Pouco depois, em 1870, iniciou-se a construção
da Brooklyn Bridge, EUA, a primeira ponte feita em aço no mundo. Na época, era
também a maior de todas as pontes suspensas (Figura 5).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 116
Figura 4. Ironbridge, Coalbrookdale, Inglaterra. Fonte: WONG, s.d.
Figura 5. Brooklyn Bridge, Nova York, EUA. Fonte: SCHAER, s.d.
Tendo o aço em escala industrial na Revolução do século XIX, a construção
civil ganhou destaque com a construção de edifícios altos, metálicos e com
elementos modernos, tais como laterais apoiadas sobre viga em balanço e
estabilidade lateral.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 117
Tal estabilidade é garantida por sistemas semelhantes ao de contraventamento,
encontrados no edifício da Fábrica de Chocolates, de 1872, na França,
considerado o primeiro edifício de andares múltiplos e de estrutura metálica
a ser projetado (Figura 6). As primeiras construções de ferro foram impulsionadas
por avanços tecnológicos como o elevador, o que auxiliou para uma
maior verticalização dos edifícios e o surgimento dos primeiros arranha-céus
(TEOBALDO, 2004).
Figura 6. Prédio da Fábrica de Chocolates, França. Fonte: Wikimedia. Acesso em: 23/05/2020.
A planta livre, espaço livre de pilares na área central, propiciada pelo esqueleto
estrutural em aço, foi um dos elementos da arquitetura moderna da
Escola de Chicago e de Bauhaus, responsável por agregar novos conceitos
formais e estruturais para todo o mundo, após a Segunda Guerra Mundial.
Elementos da arquitetura como a planta livre, o esqueleto estrutural e a
parede cortina propiciaram espaços internos mais amplos e construções mais
leves, com execução racionalizada e rápida. Tais propriedades podem ser identificadas
nos edifícios Lake Shore Drive Apartments (Figura 7), 1949–1950, em
Chicago, e Lever House (Figura 8), 1950–1952, em Nova York.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 118
Figura 7. Lake Shore Drive, Chicago, EUA. Fonte: Wikimedia.
Acesso em: 23/05/2020.
Figura 8. Lever House, Nova York, EUA. Fonte: STOLLER, s.d.
Com a fundação da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira no Brasil, na década
de 1920, a indústria siderúrgica brasileira começou a avançar, mas foi somente
na inauguração da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 1941, que a
produção de aço passou a ser mais abrangente (PALATNIK, 2011). Além disso, em
1953, a criação da Fábrica de Estruturas Metálicas (FEM), também pertencente
à CSN, cooperou para a difusão da tecnologia da construção em aço, no Brasil.
Tal tecnologia contribuiu para a construção de importantes edifícios de
andares múltiplos em estrutura metálica, como o Edifício Avenida Central,
em 1957, de Henrique Ephin Mindlin; o Edifício Montepio dos Empregados do
Estado; e o edifício-garagem da nova sede do Jockey Club em 1956, de Lúcio
Costa, no Rio de Janeiro. Além disso, há o Brasília Palace Hotel e o Palácio do
Desenvolvimento, ambos de Oscar Niemeyer, em Brasília (DIAS, 1999).
Os aços utilizados na construção civil, ou aços estruturais, são aqueles
que, por conta de suas características de resistência, ductilidade etc., são
mais apropriados para a utilização em elementos que suportam cargas, como
é o caso dos edifícios (TEOBALDO, 2004).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 119
As principais particularidades para os aços destinados à aplicação estrutural
são: elevada tensão de escoamento, tenacidade, boa soldabilidade, conformidade
microestrutural, vulnerabilidade de corte por chama e sem endurecimento,
além de boa trabalhabilidade em operações, tais como corte furação e
dobramento, sem que surjam fissuras ou outros defeitos (CBCA, 2014).
• Tensão de escoamento: também chamado de limite de escoamento, é o
nome dado quando se analisa a deformação de um determinado material. Tal
análise busca verificar até quanto de força um material resiste, chegando ao
ou passando do limite elástico de deformação.
• Tenacidade: capacidade de um material de absorver energia e deformar
plasticamente sem fraturar.
• Soldabilidade: facilidade que os materiais têm de se unirem por meio
da soldagem e de formarem uma série contínua e sólida, sem alteração das
propriedades mecânicas dos materiais originais. A boa soldabilidade se apresenta,
após a soldagem, sem concentração excessiva de tensões internas e
com boas propriedades mecânicas de tenacidade e ductilidade.
• Corte por chama: processo de corte térmico, que utiliza oxigênio e uma
fonte de combustível, para criar uma chama com energia suficiente para derreter
e cortar o material. O corte possibilita velocidades elevadas e o processamento
de chapas espessas; no aço de construção, podem ser superadas
espessuras de 30 milímetros.
Os aços estruturais podem ser classificados em três grupos principais,
conforme a tensão de escoamento mínima especificada (CBCA, 2014):
• Aço carbono de média resistência, com limite de escoamento mínimo de
195 a 259 MPa;
• Aço de alta resistência e baixa liga, com limite de escoamento mínimo de
290 a 345 MPa;
• Aços ligados tratados termicamente, com limite de escoamento mínimo
de 630 a 700 MPa.
Por ser um elemento que marcou a Revolução Industrial, muitos atribuem
a Torre Eiffel ao aço, porém ela é de ferro, e suas treliças montadas em torre
demonstram a capacidade e precisão que a metalurgia alcançava. O aço, na
construção, é muito mais evidente após a Segunda Guerra Mundial, tendo a
ponte Golden Gate e a Ópera de Sydney como exemplos.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 120
Ligações
Os aços permitem ligações que realizam a transmissão de esforços (cantoneiras,
placa de base etc.) e promovem a união entre as partes da estrutura
(soldas, parafusos, barras roscadas, chumbadores). Elas podem ser classifi -
cadas segundo os meios de ligação, segundo o esforço solicitante e segundo
a rigidez, elementos que se relacionam com o comportamento da conexão
(TEOBALDO, 2004).
No caso, os elementos soldados possibilitam maior rigidez das ligações,
redução de custos de fabricação, de quantidade, melhor acabamento fi nal e
facilidade de limpeza, pintura e execução em estruturas existentes. Por outro
lado, há a difi culdade para montagem e desmontagem, afetando o controle
de qualidade da obra.
Basicamente, existem cinco tipos de juntas baseadas na posição relativa das peças
a serem soldadas, sendo eles: topo, T, canto, sobreposta e borda (Figura 9).
Topo
Simples Duplo
Filete
Reta
Entalhe em bisel
Entalhe em V
Entalhe em J
Entalhe em U
Canto
Sobreposta
Borda
T
Figura 9. Tipos de junta de aço. Fonte: ANDRADE, 1994, p. 139. (Adaptado).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 121
Outro tipo comum de ligação é a ligação parafusada. Por conta de sua mobilidade,
é mais utilizada em peças como guarda-corpos, corrimãos, entre outras.
Além disso, a possibilidade de montagem e desmontagem garantem às
ligações parafusadas uma grande participação na urbanização, presentes em
estruturas como pisos elevados e divisórias. Por suas furações específi cas, costumam
ser padronizadas em sua fabricação.
Segundo Valenciani (1997), um fato importante para uma conexão perfeita
da ligação estrutural é o perfi l das roscas e sua tolerância de fabricação,
tanto para parafusos de alta resistência quanto para parafusos comuns. Os
parafusos comuns, de qualidade estrutural, são feitos de aço de baixo carbono,
com resistência mínima de 415 MPa; os parafusos de alta resistência têm
tratamento térmico do aço de médio carbono, para ligações com aço estrutural
e escoamento de aproximadamente 560 a 630 MPa; os parafusos de aço-liga,
tratados termicamente, têm um limite de escoamento de aproximadamente
790 a 900 MPa.
Segundo o autor, em ligações parafusadas cuja força resultante é perpendicular
ao eixo dos parafusos, a transmissão da força ocorre por meio de dois
mecanismos: o atrito mobilizado entre as partes e o contato do corpo dos parafusos
em seus respectivos furos.
Perfis
Sobre os tipos de perfi s estruturais, pode-se dizer que se diferenciam pelos
tipos de fabricação, sendo eles: perfi s laminados, perfi s soldados, perfi s estruturais
formados a frio e perfi s tubulares (TEOBALDO, 2004).
No Brasil, perfi s laminados seguem o padrão americano: perfi l H, perfi l I e
perfi l U, podendo ser empregados, também, como elementos de ligação. Os
perfi s soldados são obtidos através do corte, da composição e da soldagem de
chapas planas de aço, que permitem grande variedade de formas e dimensões,
reduzindo, consequentemente, seu custo.
Além disso, os perfi s soldados são projetados quando
os perfi s laminados não suportam as ações atuantes. A
Figura 10 apresenta as nuances do perfi l laminado para o
perfi l soldado.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 122
Os perfis dissonantes, heterogêneos, com larguras diferentes e alma de
grande dimensão são considerados especiais e, portanto, devem ser calculados
e projetados para fabricação, uma vez que não se incluem nos catálogos
de perfis já padronizados.
Os perfis estruturais formados a frio (Figura 11) são adquiridos pela metodologia
de dobramento a frio de chapas finas de aço (entre 1,50 e 4,76 mm). Em certos
momentos, dispõem de bordas normais ou enrijecidas, enquanto os cantos
são sempre arredondados. Tais perfis são recomendados em construções leves
e empregados em elementos estruturais como barras de treliças e terças.
A NBR 6355/2003 fixa os requisitos exigíveis dos perfis estruturais de aço
formados a frio, apresentando as séries comerciais e suas respectivas designações,
as tolerâncias nas formas e dimensões e as tabelas com dimensões,
massa e propriedades geométricas de cada seção da série comercial. A designação
dos perfis é feita da seguinte forma: símbolo do perfil x dimensão dos
elementos (alma, mesa e enrijecedor, se houver, nessa ordem) x espessura,
sendo todas as dimensões expressas em milímetros.
Por exemplo, um perfil do tipo U simples, com dimensões de alma de 90
mm, mesa de 40 mm e espessura de 2,24 mm, é designado da seguinte forma:
U 90 x 40 x 2,25 (FERRAZ, 2003). Os perfis tubulares de seção circular, quadrado
e retangular (Figura 11) podem ser obtidos por extrusão (chamados perfis
tubulares sem costura) e por calandragem ou prensagem das chapas, com soldagem
por arco submerso (chamados perfis tubulares com costura).
Figura 10. Diferenças entre perfis.
MESA
PERFIL LAMINADO PERFIL SOLDADO
ABA
ALMA
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 123
Os tubulares são mais aplicados em gasodutos, transporte de água e oleoduto,
no entanto, por apresentarem maior resistência à fl ambagem pela geometria,
podem ser utilizados em treliças planas e espaciais para menor diâmetro,
e também em pilares de médio e grande porte.
Figura 11. Identifi cação de perfi s. Fonte: MARINGONI, 2004, p. 23. (Adaptado).
Formado a frio
Extrudados
Para o caso dos perfi s de contraventamentos, leva-se em conta a beleza e
a resistência a esforços normais; se forem leves, o tracionamento é limitado a
240 mm para tradicionais e 200 mm para comprimidos. Além disso, há os cabos
de aço, que são perfi s construídos por vários arames trefi lados de alta resistência,
apresentando excelente desempenho sob esforço de tração. Vale ressaltar
que sua utilização demanda complementos especiais, para perfeita interação
entre o cabo e os demais elementos estruturais.
Lajes, vigas e pilares
Os principais elementos estruturais de uma construção civil, de acordo
com Pinho e Bellei (2007), são:
• Lajes: placas que, além das cargas permanentes, recebem as ações de
uso e as transmitem para os apoios, travam os pilares e distribuem as ações
horizontais;
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 124
• Vigas: barras horizontais que delimitam as lajes, recebem suas ações ou
de outras vigas e as transmitem para os apoios, e suportam paredes e lajes;
• Pilares: barras verticais que recebem ações das vigas ou das lajes e dos
andares superiores, transmitindo-as aos elementos inferiores ou para a fundação
(blocos, radiers, sapatas e estacas, que transferem o esforço para o solo);
A NBR 7480/2007 é a responsável por especificar o aço destinado a armaduras
de estrutura de concreto armado. Segundo a norma, podemos verificar
quais os aços indicados para esse tipo de construção, visto que são classificados
conforme sua resistência, definida por sua composição e processo de
fabricação (ANDRADE, 1994).
Alguns exemplos comerciais de laje com aço são:
• Laje fundida in loco: solução econômica, exige formas e cimbramento
durante a fase de cura;
• Laje com forma de aço (incorporada): depois de fundida in loco, sobre
forma de chapa de aço conformada, é capaz de vencer vãos entre vigas e passa
a ser uma ferragem positiva da laje;
• Laje pré-moldada: o painel pré-moldado é colocado diretamente sobre as
vigas de aço, sem a necessidade de escoramento, liberando de imediato a área
para outros serviços.
Para perfis de vigas, leva-se em consideração a mesa superior travada pelas
lajes. Nesse caso, as vigas se tornam
sujeitas à flambagem lateral com
torção. Em vigas biapoiadas, usa-se
vigas mistas, para que o aço trabalhe
de forma solidária com a laje, resultando
em mais economia.
No caso de colunas para edifícios,
perfis que possuem inércia significativa
em relação ao eixo de menor inércia
(caso dos perfis H), a associação do
aço (que resiste bem à tração) com o
concreto (que resiste bem à compressão)
resulta em uma peça composta,
uma estrutura mista, com a melhor performance de cada elemento.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 125
Métodos construtivos
Mão de obra qualifi cada, produção seriada e em escala de elementos padronizados,
racionalização dos processos e insumos, possibilidade de controle rígido
dos processos e cronograma da obra são características dos sistemas industrializados
que vão de encontro aos problemas intrínseco à construção artesanal
(CAMPOS, 2010).
Com base em Borsato (2009), evidenciam-se alguns destaques nos empreendimentos
que envolvem a construção metálica desde a concepção do projeto:
• Concepção: o projeto em aço requer compatibilização e planejamento, pois
as peças são produzidas fora do canteiro de obras, ou seja, na fábrica, e montadas
em campo;
• Projeto estrutural: a padronização (elementos estruturais, sistemas construtivos,
sistemas de vedação e conexões) é um aspecto importante na estrutura
metálica, pois aspectos como maior produtividade na fabricação e na montagem
estão intimamente ligados a ela. O custo de uma estrutura não depende apenas
do peso do aço, mas também da padronização das peças;
• Industrialização: permite racionalizar o processo de produção e aceitar outros
componentes pré-fabricados, aumentando a precisão da obra, mas exigindo
mão de obra qualifi cada.
A padronização das peças é um conceito muito importante, pois, como todo
sistema industrializado, a repetitividade barateia o processo e a obra é concebida
sob conceitos de otimização e ampliação dos espaços úteis. Portanto, decidir
se a estrutura fi ca aparente ou revestida leva o arquiteto a pensar nos prós e
contras de cada opção: a estrutura aparente mostra a plasticidade do aço, mas
pode demandar proteção do material (contra corrosão e fogo); a estrutura revestida
cumpre seu papel de esqueleto e minimiza custos com proteção. Uma obra
com partes contidas e partes à mostra pode valorizar e diferenciar o empreendimento
(MARINGONI, 2004).
O uso da estrutura metálica deve, necessariamente, ser aplicado em casos em
que esta seja, de fato, economicamente mais viável. No entanto, em uma estrutura
na qual a repetitividade seja grande, que haja a necessidade de rigor dimensional
e leveza e esbeltez sejam requisitos básicos, o que normalmente acontece em
edifícios comerciais, o aço passa a ser mais vantajoso (BORSATO, 2009).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 126
Presente principalmente nas estruturas, o aço é a parte mais resistente da
construção, e tem a função de suportar, juntamente com o concreto, as diversas
forças e transmiti-las para o solo.
Segundo Maringoni (2004), os projetos em estruturas mistas devem ser elaborados
considerando três fases:
1. Montagem e lançamento do concreto: momento em que o aço trabalha
sozinho, antes mesmo da cura do concreto, e é o responsável pelo peso da estrutura
e cargas de obra;
2. Resistência da estrutura mista: momento em que tanto o aço quanto o
concreto trabalham juntos;
3. Deformação da estrutura mista para cargas de longa duração: momento
em que a estrutura é impactada pela diminuição da elasticidade do concreto
ao longo do tempo.
A arquitetura brasileira teve seu ápice e grande destaque no cenário internacional,
apresentando novas soluções estéticas e construtivas, nas obras de arquitetos
modernistas como Lúcio Costa e, principalmente, Oscar Niemeyer; mas,
o que se faz no Brasil de realmente inovador no campo da arquitetura contemporânea,
em aço, que mereça destaque internacional, como fizeram, em concreto,
os modernistas Niemeyer e Lúcio Costa (BORSATO, 2009)?
As coberturas metálicas são amplamente utilizadas para grandes vãos, como
galpões, pavilhões, estádios, aeroportos etc. Deve-se considerar alguns parâmetros
para projetos, tais como: movimentação de carga, circulação interna, iluminação
natural e artificial, ventilação, condições e tipo de terreno. Certos galpões
podem ser montados no local da obra ou mesmo no pátio de uma empresa especializada
e, posteriormente, serem levados ao local.
Grande parte dos confortos térmico e acústico do empreendimento está ligada
ao projeto de cobertura. A “respiração” de um telhado se faz através das
telhas, e os telhados com inclinação muito pequena exigem total vedação, impedindo
a saída do ar aquecido através das frestas das telhas. O caimento do telhado,
além das recomendações em função do tipo de telha, deve levar em conta o
tamanho das águas da cobertura.
As calhas podem ser pré-dimensionadas por uma fórmula empírica: para
cada 10 m² de cobertura, 15 m² de calha. Para tubos de descida de água pluvial:
1 cm² para cada 1 m² de área drenada (MARINGONI, 2004).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 127
O sistema de estruturas por perfi s leves, conhecidos como Steel Frame ou
Light Steel Frame (LSF), são adequados para edifi cações leves, cujos elementos
são painéis reticulados, constituídos por perfi s de aço a frio. Tais painéis se estabelecem
nas paredes das edifi cações, que podem ser estruturais ou de vedação,
formados por estruturas de perfi s de aço e podem ter o fechamento feito por
placas cimentícias, de madeira, drywall etc.
Considerada uma construção seca por não necessitar de água, os LSF garantem
agilidade, redução de peso estrutural, precisão e melhor isolamento
térmico e acústico, apesar de se limitar a poucos pavimentos e exigir mão de
obra especializada.
ASSISTA
O Steel Frame é uma técnica que permite ganho e agilidade
consideráveis na obra, além da redução de resíduos. Uma
exemplifi cação acelerada da construção de uma residência
pode ser vista no vídeo Montando casa de Steel Frame em 2
minutos.
O LSF é formado por vários sistemas e componentes, entre eles o estrutural,
o isolamento termoacústico, a impermeabilização, os fechamentos internos
(que usualmente são trabalhados em drywall) e o fechamento externo,
utilizando placas cimentícias, chapas de fi bra orientada (Oriented Strand Board
- OSB) e/ou sidings vinílicos (sistema de revestimento composto por painéis de
policloreto de vinila - PVC) e as instalações elétricas e hidráulicas.
O balizador do sistema e o conceito estrutural do LSF está em decompor a
estrutura em uma relativa quantidade de elementos estruturais individuais,
ligados entre si, forçando-os a trabalharem em conjunto, possibilitando a
utilização de perfi s mais esbeltos e painéis mais leves e fáceis de manipular
(CAMPOS, 2010).
Normativas
Os aços estruturais, no Brasil, seguem algumas normas, tais como as determinadas
pela American Society for Testing and Materials (ASTM), pela Deutsche
Industrie-Normen (DIN) e pela Society of Automotive Engineers (SAE). Além disso,
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 128
há aqueles que seguem um perfi l determinado pelas fabricantes, atentando-se
à classifi cação segundo as normas da ABNT (ou AISI), que classifi cam os aços
em: aço carbono, aços de baixa liga e aços de alta liga, que possuem normas
próprias para sua fabricação.
A sigla NBR é uma abreviação para Norma Brasileira, em que as normas são
aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a partir de
pesquisas e estudos realizados por profi ssionais gabaritados e órgãos nacionais
e internacionais. Das NBR relacionadas ao aço na construção civil, podemos citar:
1) NBR 5916/1990: Ensaio de resistência ao cisalhamento em junta de telha
de aço soldada para armadura de concreto;
2) NBR 14762/2001: Procedimento para o dimensionamento de estruturas
de aço constituídas por perfi s formados a frio;
3) NBR 8800/2006: Procedimentos para projetos de estruturas de aço e
estruturas mistas de aço e concreto em edifícios;
4) NBR 7480/2007: Especifi cação de aço destinado a armaduras para estruturas
de concreto armado;
5) NBR 16775/2020: Estruturas de aço, estruturas mistas, coberturas e
fechamentos em aço;
6) NBR 14762/2010: Requisitos exigíveis dos perfi s estruturais de aço formados
a frio.
Patologias
De acordo com a NBR 1575/2013 (Norma de Desempenho das Edifi cações),
uma edifi cação deve oferecer condições de uso, segurança e conforto, de modo
que as atividades ali desenvolvidas não sofram interferências do meio em que
está inserida. Qualquer tipo de situação que não esteja conveniente com a edifi
cação poderá causar prejuízos elevados.
A industrialização dos canteiros de obra na construção civil é cada vez
maior e inevitável, motivada inclusive pela participação crescente da utilização
de estruturas metálicas e mistas. Entretanto, a utilização desses sistemas exige
dos profi ssionais de projeto e execução conhecimentos diferenciados, tanto da
teoria quanto da prática, para que sejam estudadas e prescritas as interfaces e
interferências necessárias a cada componente do edifício (SILVA, 2012).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 129
De forma geral, as patologias estruturais podem ser divididas em três categorias:
adquiridas, transmitidas e atávicas (DELATLE, 1997):
• As adquiridas são patologias provenientes de elementos externos, como
poluição atmosférica, umidade, gases ou líquidos corrosivos e uso inadequado
da estrutura. A corrosão é a patologia mais visível e conhecida, sendo necessária
a proteção e a especificação no escopo do projeto. Outro exemplo é a aplicação
de cargas dinâmicas imprevistas sobre a laje (maquinários), que podem
causar seu rompimento;
• As transmitidas são de vícios ou desconhecimento técnico do pessoal de
fabricação ou montagem da estrutura. Por exemplo, soldagem sem retirar a
pintura dos pontos de solda, falta de prumo, fixação e armazenamento inadequados,
entre outros;
• As atávicas são resultantes de má concepção de projeto, erros de cálculo,
escolhas de perfilados inadequados ou do uso de aços com resistências
inapropriadas. Em resumo, são as patologias mais complexas de reparar, pois,
geralmente, são estruturais.
As principais falhas na elaboração de um projeto para as estruturas de aço
são: metas e objetivos mal estabelecidos; objetivos que mudam de acordo com
o andamento do projeto; falha de comunicação; entender planejamento como
perda de tempo; falhas no controle de desempenho; recursos inadequados;
falta de treinamento e capacitação; más decisões; pouca compreensão da complexidade
do projeto; aumento nos preços e prazos (ANDRADE, 1994).
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 130
Sintetizando
Do minério de ferro abundante na crosta terrestres é extraído e tratado o
aço, uma liga Fe-C (ferro-carbono), em que a quantidade de carbono é de, no
máximo, 2,11%. Tal minério é aquecido e tratado para a redução de oxigênio,
produzindo o ferro-gusa. Com mais processamento, obtém-se o ferro fundido,
com análises de outros elementos.
Tais ferros são levados à aciaria, uma área de refino com equipamentos como
o alto forno, que realiza o tratamento para obtenção do aço. Assim, o aço é resultado
de uma série de procedimentos conhecidos e estudados, tendo sua empregabilidade
em praticamente tudo, após a Revolução Industrial. Por suas diversas
qualidades e com a possibilidade de “moldar” os atributos necessários, o aço é
utilizado do talher à ponte Golden Gate, na Califórnia (EUA).
Na construção civil, seu uso também pode ser variado, visto que possui como
qualidades a ductilidade, tenacidade, plasticidade e resiliência, além da precisão
em atender grandes dimensões. O aço pode ser trabalhado para se tornar uma
liga metálica mista, como no caso da mistura com o cromo (Cr), para se obter
o aço inoxidável. A possibilidade de criar uma camada contra oxidação (pátina)
aliada à modelagem em bobinas, chapas, malhas etc. faz com que novas tecnologias
com o uso desse material sejam desenvolvidas continuamente.
Os aços utilizados em estruturas, chamados aços estruturais, possuem elevada
tenacidade, soldabilidade, homogeneidade e boa trabalhabilidade com
corte, furação e dobramento, sem originar fissura. Além disso, esse material é
capaz de realizar ligações entre peças, ou seja, a transmissão de esforço pela
união delas.
Uma dessas ligações é a soldagem, conhecida por fornecer maior rigidez e
utilizada em estruturas em geral, enquanto a ligação parafusada é móvel e leve,
utilizada em construções ágeis como galpões ou guarda-corpos. Em estruturas,
o aço pode ser encontrado em forma de perfis de coluna, viga e contraventamento,
também utilizado em lajes, malhas, tubos, entre outros.
Além disso, abordamos a mobilidade e o controle termoacústico que provém
da construção leve: Steel Frame. A facilidade em sua construção se popularizou
nos Estados Unidos e no Canadá, por possibilitar a montagem rápida (entre invernos)
de casas com poucos pavimentos.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 131
Todo esse avanço em relação ao aço demanda mão de obra especializada. A
necessidade de precisão e conhecimento tornam o trabalho dinâmico e objetivo.
Assim, existem patologias que são adquiridas com o tempo e o desgaste natural
(ou não) das peças; patologias que são transmitidas pelo defeito de fabricação
ou montagem; e as patologias atávicas (hereditárias), que são falhas e erros no
projeto ou cálculo inicial.
Vale ressaltar que, mesmo após sua utilização, o aço é extremamente ecológico,
pois permite reciclagem quase que inesgotável. Além disso, a união da
metalurgia com a construção traz um contínuo desenvolvimento de pesquisa e
estudos, que resultam em novas técnicas para a utilização do aço em projetos
futuros.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 132
Referências bibliográficas
ANDRADE, P. Curso básico de estruturas de aço. Belo Horizonte: IEA Editora,
1994.
BORSATO, K. T. Arquitetura em aço e o processo de projeto. 2009. 162 f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual de Campinas,
Faculdade de Engenharia Civil, Campinas, 2009. Disponível em: <http://repositorio.
unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/257822>. Acesso em: 24 maio 2020.
CAMPOS, H. Avaliação pós-ocupação de edificações construídas no sistema
Light Steel Framing. 2010. 148 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) -
Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2010.
CBCA – CENTRO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO EM AÇO. Aços estruturais. 2014.
Disponível em: <http://www.cbca-acobrasil.org.br/site/construcao-em-aco-acosestruturais.
php>. Acesso em: 22 maio 2020.
DELATLE, N. J. Failure case studies and ethics in engineering mechanic courses.
Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v. 123,
n. 3, p. 111-116, 1997. Disponível em: <https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1040&context=encee_facpub>. Acesso em: 23 maio 2020.
DIAS, L. Edificações de aço no Brasil. São Paulo: Zigurate, 1999.
FERRAZ, H. Aço na construção civil. Revista Eletrônica de Ciências, São Carlos,
n. 22, nov./dez. 2003. Disponível em: <http://www.set.eesc.usp.br/cadernos/nova_
versao/pdf/cee20.pdf>. Acesso em: 23 maio 2020.
LIMA, G. Influência dos elementos de liga no encruamento proveniente do processo
de usinagem nos aços Hadfield. In: Seminário da Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica, 3., 2009, Bauru. Anais... Bauru: Unesp, 2009. Disponível em: <https://
www2.feb.unesp.br/pos/seminario/IIISeminario/anais/AC-GuilhermeRocha.pdf>.
Acesso em: 23 maio 2020.
MARINGONI, H. M. Princípios de arquitetura em aço. 2. ed., v. 4. São Paulo:
Gerdau Açominas, 2004. (Coletânea do Uso do Aço). Acesso em: <http://www.
engmarcoantonio.com.br/cariboost_files/manual_arquitetura.pdf>. Acesso em:
23 maio 2020.
MONTANDO casa de Steel Frame em 2 minutos Time Lapse. Postado por BLOG
DO GESSEIRO. (2min. 58s.). son. color. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=DsbNk0ZEHYk&feature=youtu.be>. Acesso em: 23 maio 2020.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 133
PALATNIK, S. Ensino a distância de estruturas de aço. 2011. 194 f. Dissertação
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade São Judas Tadeu, São
Paulo, 2011. Disponível em: <http://engmarcoantonio.com.br/cariboost_files/A_
C3_A7os_estruturais.pdf>. Acesso em: 23 maio 2020.
PANNONI, F. D. Aços estruturais. [s.l.], 2005. Disponível em: <https://docplayer.
com.br/17146411-Acos-estruturais-fabio-domingos-pannoni-m-sc-ph-d-1.html>.
Acesso em: 23 maio 2020.
PINHO, F.; BELLEI, I. Pontes e viadutos em vigas mistas. Rio de Janeiro: IBS/CBCA,
2007. (Série Manual de Construção em Aço).
SCHAER, J. Brooklyn Bridge. [s.d.]. 1 fotografia. Disponível em: <https://ptbr.nycgo.
com/articles/guide-to-the-brooklyn-bridge>. Acesso em: 23 maio 2020.
SILVA, R. Manifestações patológicas em sistemas construtivos de aço - algumas
medidas preventivas. In: Congresso Latino-Americano da Construção Metálica,
5., 2012. Anais... São Paulo: ABCEM, 2012. Disponível em: <https://www.abcem.
org.br/construmetal/2012/arquivos/Cont-tecnicas/33-Construmetal2012-
manifestacoes-patologicas-em-sistemas-construtivos-de-aco.pdf>. Acesso em: 23
maio 2020.
STOLLER, E. Lever House. [s.d.]. 1 fotografia. Disponível em: <https://medium.
com/@SOM/how-the-leopard-got-its-spots-c5eafced505b>. Acesso em: 23 maio
2020.
TEOBALDO, I. N. C. Estudo do aço como objeto de reforço estrutural em
edificações antigas. 2004. 137 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de
Estruturas) - Escola de Engenharia, Belo Horizonte, Universidade Federal de
Minas Gerais, 2004. Disponível em: <http://pos.dees.ufmg.br/defesas/179M.PDF>.
Acesso em: 23 maio 2020.
TSCHIPTSCHIN, A. P. Processos de fabricação. Mundo dos aços especiais (Módulo
1). São Paulo: Gerdau, 2017. Disponível em: <http://www.pmt.usp.br/ACADEMIC/
antschip/Modulo-1.pdf>. Acesso em: 23 maio 2020.
VALENCIANI, V. Ligações em estruturas de aço. 1997. 309 f. Dissertação (Mestrado
em Estruturas) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo,
1997. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-
28032018-102049/en.php>. Acesso em: 23 maio 2020.
WONG, S. Iron Bridge. [s.d.]. 1 fotografia. Disponível em: <https://www.trover.
com/d/1aBV8-iron-bridge-ironbridge-england>. Acesso em: 23 maio 2020.
MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO 134